A disputa crucial pelos sentidos do trabalho
Neoliberalismo incorporou ética conservadora: labor é um dever, a ser cumprido nas condições que o mercado fixar. Contra ela emergiu a ideia do trabalho significativo, socialmente necessário e digno. História de um conflito inacabado
Publicado 19/01/2024 às 17:58 - Atualizado 23/12/2024 às 18:38

Por Elisabeth Anderson, no Dissent Magazine | Tradução: Maurício Ayer
Em março de 2020, a maioria dos governadores dos Estados Unidos emitiu ordens de permanência em casa para todos, exceto os “trabalhadores essenciais” – pessoas envolvidas na prestação de serviços necessários para apoiar as necessidades humanas básicas. O público saudou os trabalhadores essenciais como heróis e apelou para que recebessem subsídios de periculosidade. Muitos empregadores aceitaram esta exigência. No entanto, pouco depois, o tratamento severo dos trabalhadores essenciais tornou-se a ordem do dia. Os empregadores acabaram com o adicional de periculosidade. Hospitais demitiram profissionais de saúde por reclamarem da falta de equipamentos de proteção individual. Os proprietários de matadouros aceleraram as linhas de desmontagem, forçaram os trabalhadores a aglomerarem-se e aumentaram a propagação da COVID-19.
Este conflito sobre o tratamento adequado dos trabalhadores durante a pandemia da COVID-19 é a mais recente batalha numa luta de três séculos sobre as implicações políticas da ética do trabalho que tradicionalmente vige no país. O fato de os trabalhadores estarem envolvidos em trabalho socialmente necessário dá-lhes direito a respeito, remuneração digna e condições de trabalho seguras? Ou significa que têm o dever de trabalhar incansavelmente, sem reclamar, sob quaisquer terríveis condições e baixos salários que o seu empregador imponha em sua busca pelo lucro máximo? Chamo a primeira visão de versão progressista ou pró-trabalhador da ética do trabalho; a segunda, chamo de ética do trabalho conservadora. Em vários períodos da história europeia e norte-americana, um lado ou outro dominou o pensamento moral e a política econômica.
As três décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram o ápice da social-democracia, um período de triunfo para a ética do trabalho progressista. Nas democracias ricas da Europa e da América do Norte, o período pós-guerra foi caracterizado por altas taxas de crescimento econômico, amplamente partilhadas entre as classes econômicas, com sindicatos fortes, um robusto estado de bem-estar social orientado pelo seguro social universal, investimento estatal na educação e na saúde, poderosos governos liberais e instituições democráticas e um sentimento geral de otimismo.
Hoje, os habitantes da Europa e da América do Norte sofrem a reversão dessas conquistas. As políticas neoliberais são em grande parte culpadas. A financeirização, a austeridade fiscal, as reduções fiscais para os ricos, as duras restrições sociais, os ataques aos sindicatos e os acordos comerciais internacionais favorecem os interesses do capital e restringem a governação democrática. Estas políticas aumentaram a desigualdade econômica, minaram a democracia e reduziram a capacidade do Estado de responder às necessidades e interesses das pessoas comuns.
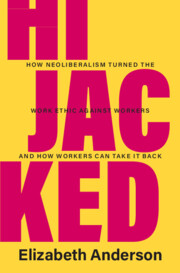
No meu novo livro, Hijacked: How Neoliberalism Turned the Work Ethic Against Workers, and How Workers Can Take It Back [Sequestro: Como o neoliberalismo virou a ética do trabalho contra os trabalhadores e como os trabalhadores podem recuperá-la], defendo que o neoliberalismo revive a ética do trabalho conservadora, que diz aos trabalhadores que devem aos seus empregadores trabalho incansável e obediência sem questionamento. Diz aos empregadores que eles têm direitos exclusivos para governar os seus empregados e organizar o trabalho com vistas a obter o lucro máximo. E diz ao Estado para consolidar a autoridade destes executivos por meio de leis que tratam o trabalho como nada mais do que uma mercadoria. Para reforçar a mercantilização do trabalho, a ética do trabalho conservadora instrui o Estado a minimizar o acesso dos trabalhadores à subsistência a partir de outras fontes que não o trabalho assalariado, incluindo bens fornecidos publicamente, segurança social e benefícios sociais.
A ligação entre o neoliberalismo e a ética do trabalho conservadora pode não ser óbvia à primeira vista. Os neoliberais definem a sua posição em termos de uma preferência libertária por ordens de mercado “voluntárias” em detrimento da ação estatal, supostamente deixando os indivíduos livres para buscarem a sua própria concepção de bem. À primeira vista, diferem ligeiramente neste aspecto dos proponentes originais da ética do trabalho conservadora, como Joseph Priestley e Jeremy Bentham, que sublinharam a necessidade de impor uma visão única do bem – a ética do trabalho – aos trabalhadores preguiçosos e imprudentes. Mas estas opiniões são apenas duas faces da mesma moeda. Os defensores da ética do trabalho conservadora, como Edmund Burke e Thomas Malthus, argumentaram no final do século XVIII, tal como fazem hoje os neoliberais, que o trabalho é uma mercadoria devidamente sujeita às leis do mercado. Os conservadores tornaram explícito o que os neoliberais hoje deixam implícito: os mercados de trabalho são os canais através dos quais a maioria dos trabalhadores fica sob o governo dos seus empregadores, que lhes impõem a disciplina da ética do trabalho.
A melhor maneira de caracterizar o neoliberalismo não é, portanto, em termos de liberdade individual dentro do mercado. Em vez disso, ele pode ser visto como um modo de governo por e para interesses de capital – por parte de empresas e proprietários ricos. Isto é exatamente como insistiram os defensores britânicos da ética do trabalho conservadora durante a Revolução Industrial, quando o direito de voto estava atrelado à propriedade. A doutrina neoliberal do capitalismo de acionistas – a afirmação de que o único objetivo de uma corporação é maximizar seus lucros – é simplesmente mais uma implementação do governo por e para os interesses do capital. Durante a Revolução Industrial, os proprietários de terras e os capitalistas usaram o seu poder para apropriar-se de riqueza às custas de outros, através de práticas como cercamentos, monopólios, aluguéis exorbitantes, colônias privadas autorizadas pelo Estado e a usura. Hoje, as políticas neoliberais autorizam inúmeras práticas comerciais exploratórias semelhantes, incluindo a monopolização, os empréstimos predatórios, a repressão aos sindicatos, o rebaixamento de funcionários estáveis para trabalhadores temporários e vários esquemas de capital privado que prejudicam os cuidados de saúde, os cuidados veterinários, as vendas de varejo, as organizações de imprensa, o aluguel de moradia e a diversos outros setores, explorando tanto os trabalhadores como os consumidores.
Há mais de um século, Max Weber apresentou a sua própria avaliação sombria da ética do trabalho na conclusão do seu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ao promover um regime de trabalho disciplinado, baseado no ascetismo religioso, escreveu ele, a ética do trabalho acabou por dar origem a um sistema capitalista secular que prendeu as pessoas numa “gaiola de ferro” de trabalho penoso e desprovido de sentido, em prol da infindável acumulação de riqueza. Mas Weber formulou apenas uma leitura parcial dos ministros puritanos do século XVII que inventaram a ética do trabalho. Ele não percebeu que os pastores também formulavam uma visão edificante para os trabalhadores – uma visão que antecipava características importantes da social-democracia.
Qual era, então, a ética do trabalho protestante original? No âmbito da moralidade individual, compreendia um conjunto de virtudes: competência, frugalidade, temperança, castidade e prudência. O hábito de trabalhar arduamente era altamente valorizado nesta ética. Mas os puritanos também tinham atitudes ambivalentes em relação ao trabalho que, em última análise, foram tomadas em direções contraditórias. Por um lado, argumentavam que o trabalho era uma disciplina ascética que exigia labuta incessante em busca do ganho. Eles criticavam os mendigos fisicamente aptos como parasitas. E instrumentalizavam todas as atividades, não deixando espaço para lazer e prazer, exceto quando necessário para restaurar a capacidade de trabalho. Por outro lado, exaltavam a dignidade do trabalho, insistiam na igualdade de todas as vocações e promoviam a liberdade de escolha profissional. Eles exigiam salários justos e dignos, condições de trabalho seguras e alívio contra os empregadores tirânicos. Procuravam proporcionar empregos aos desempregados involuntários – uma tentativa inicial de garantia de emprego – e argumentavam que qualquer pessoa incapaz de trabalhar tinha direito à caridade. Os seus sermões e textos sobre a ética cristã condenavam os ricos ociosos e predadores – proprietários de terras, monopolistas, usurários, arrendatários exorbitantes, manipuladores de preços, maquinadores financeiros, comerciantes de escravos e qualquer outra pessoa que lucrasse tirando partido da vulnerabilidade e necessidade dos outros. Eles promoviam um ideal de trabalho que, em última análise, inspirou a concepção de trabalho não alienado de Marx. A vocação de um trabalhador, argumentavam eles, deve ser uma atividade livremente escolhida que promova o bem-estar dos outros e inspire o entusiasmo do trabalhador, proporcionando um campo para o desenvolvimento e exercício dos seus talentos pessoais.
Os puritanos foram capazes de reconciliar as tensões entre estes dois lados da ética do trabalho porque os seus modelos de trabalhadores eram os pequenos agricultores e os artesãos – isto é, trabalhadores que eram simultaneamente trabalhadores manuais e proprietários. As mesmas pessoas que cumpriam as exigências da ética do trabalho conseguiam colher os seus frutos. (No século XVII, o trabalho assalariado ainda era relativamente raro.) No entanto, no final do século XVIII, a Revolução Industrial separou os proprietários de capital dos trabalhadores manuais, estes últimos ficando reduzidos a trabalhadores assalariados. Isso levou a uma profunda divisão de classe na ética do trabalho. Os defensores da ética do trabalho progressista continuaram a insistir que as mesmas pessoas que cumprem os deveres da ética do trabalho – envolvidas num trabalho que ajuda os outros – têm direito a uma vasta gama de benefícios. Os proprietários de terras e os capitalistas predatórios – os alvos da crítica puritana da classe alta – sequestraram a ética do trabalho e transformaram-na num instrumento de luta de classes. Eles enfatizaram a disciplina, a frugalidade e o ascetismo para os trabalhadores, ao mesmo tempo que retiravam para si a maior parte dos benefícios desse trabalho disciplinado. Usando a riqueza como prova de virtude e a pobreza como prova de vício, rentistas ociosos e capitalistas ocupados que lucravam com a exploração de outros se apresentavam como heróis e os pobres como canalhas. Assim surgiu a ética de trabalho conservadora.
À medida que os capitalistas da Revolução Industrial levaram os trabalhadores à pobreza, destruindo as suas alternativas ao trabalho assalariado, a procura de alívio ao abrigo da tradicional Lei dos Pobres – o sistema britânico de alívio da pobreza com base em condições de recursos – aumentou. Os defensores da ética do trabalho conservadora atribuíram a pobreza à preguiça, à imprevidência e à licenciosidade, e culparam a Lei dos Pobres por promover estes vícios. O economista político (e químico famoso) Joseph Priestley propôs substituir a Lei dos Pobres por planos de poupança individuais obrigatórios. Thomas Malthus propôs a sua abolição gradual, deixando os pobres dependentes de uma caridade privada incerta. Jeremy Bentham propôs que a administração da ajuda fosse terceirizada para uma empresa privada licenciada para encarcerar indigentes e forçá-los a trabalhar em panópticos por pouco ou nenhum pagamento. A reforma da Lei dos Pobres inglesa de 1834 e a política britânica durante a fome irlandesa de 1845-1852 impuseram condições punitivas e estigmatizantes à assistência, incluindo trabalho forçado, confinamento em asilos, perda de direitos civis, despojamento de bens, limites de tempo arbitrários e burocracia onerosa.
Nos últimos 40 anos, os neoliberais nos Estados Unidos propuseram e por vezes implementaram políticas semelhantes. George W. Bush tentou substituir a Segurança Social por planos de poupança individuais. O cientista político Charles Murray argumentou que os benefícios sociais para os saudáveis deveriam ser abolidos, lançando um debate que acabou por levar à substituição parcial do bem-estar social [welfare] pelo workfare – pagamentos vinculados às necessidades de trabalho – em 1996. Esforços recentes para colocar os requisitos de trabalho no acesso para Medicaid e SNAP seguem a mesma lógica. Os legisladores neoliberais impuseram requisitos de documentação onerosos que impedem muitas pessoas, que teriam esse direito, de usufruir do seguro de invalidez, do Crédito de Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, da ajuda financeira para a faculdade e de numerosos programas administrados pelo Estado. Os limites punitivos de ativos nos programas de segurança social de alguns estados forçam os pobres a liquidar as suas poupanças para a reforma e para a faculdade, a fim de se qualificarem, garantindo a sua pobreza na velhice e ao longo das gerações. As políticas neoliberais de baixos impostos levaram os departamentos de polícia a financiarem-se a si próprios e aos tribunais, multando os pobres com multas excessivas por infracções insignificantes e arbitrárias. Numa represália ao plano de Bentham para os panópticos indigentes, alguns que não podem pagar estas multas e taxas são remetidos para casas de recuperação geridas por empresas prisionais privadas, onde são forçados a trabalhar por pouco ou nenhum salário. Pessoas que lutam contra o vício em drogas são frequentemente sujeitas a tratamento semelhante.
Como podemos superar este regime vicioso? Os defensores da ética do trabalho progressista oferecem algumas sugestões. Desde a Revolução Industrial até ao século XX, têm surgido debates sobre a melhor forma de promover e recompensar o trabalho. Os conservadores argumentavam que os pobres só poderiam ser induzidos a trabalhar arduamente se estivessem sujeitos à precariedade e sujeitos ao governo dos seus empregadores. As classes médias, nesta perspectiva, poderiam ser motivadas através de uma cultura de consumo conspícuo competitivo. Os progressistas responderam que todos os trabalhadores trabalhariam arduamente se recebessem todos os frutos do seu trabalho. Rejeitaram a ideia de que uma boa vida é uma questão de aquisição competitiva num jogo de estatuto de soma zero essencialmente antagônico. Defendiam arranjos econômicos que emancipassem os trabalhadores da subordinação rastejante aos superiores e nos quais o trabalho fosse um domínio significativo para o exercício de competências variadas e sofisticadas. Eles ansiavam por uma sociedade em que todos pudessem desfrutar de uma vida além da ética do trabalho – que, embora reconheça as virtudes da ética do trabalho, também promove um conjunto mais amplo de valores e bens. Em vez de fazer horas extras no que David Graeber chamou de “empregos de merda”, as pessoas desfrutariam de amplo tempo de lazer, bem como de um trabalho significativo que fosse genuinamente útil para os outros.
Esta linha de pensamento progressista começa com os Levellers do século XVII e John Locke e continua através de figuras revolucionárias americanas e francesas como Thomas Paine e Nicolas de Condorcet, economistas clássicos como Adam Smith e James e John Stuart Mill, socialistas ricardianos como William Thompson e marxistas como Friedrich Engels e Eduard Bernstein. Estes pensadores apresentaram análises e propostas muito diferentes, mas cada um compreendia que as relações de propriedade precisavam mudar para enfrentar os desafios dos seus tempos. Longe de considerarem sagrada a propriedade privada, até os economistas políticos liberais desta linhagem propuseram mudanças dramáticas na lei de propriedade para promover o bem-estar das pessoas comuns. Todos defenderam a abolição dos direitos de propriedade feudal porque rejeitaram qualquer ligação entre a propriedade da terra e o direito de governar outras pessoas. Todos se opunham à primogenitura, aos vínculos e a outros dispositivos de herança que mantinham grandes propriedades intactas em perpetuidade para o benefício exclusivo de algumas famílias. Smith defendeu a abolição da escravidão, dos estágios de aprendizagem não remunerados, dos monopólios autorizados, das colônias privadas e da maioria das sociedades por ações. Paine e Condorcet inventaram a ideia do seguro social universal. O programa de segurança social proposto por Paine, que seria financiado por um imposto sobre heranças, também incluía subsídios universais às partes interessadas. Os Mills argumentaram que os aluguéis dos terrenos deveriam ser limitados por meio de um imposto de 100% sobre o aumento dos aluguéis. J.S. Mill, defensor do proprietário camponês, usou a teoria da propriedade do trabalho de Locke para justificar a expropriação dos proprietários irlandeses e a redistribuição das suas propriedades aos camponeses que trabalhavam a terra. Ele também apoiou os sindicatos e argumentou que as cooperativas de trabalhadores eram a forma organizacional ideal para a indústria moderna.
As ideias apresentadas pelos defensores da ética do trabalho progressista foram parcialmente concretizadas nas social-democracias do pós-guerra da Europa Ocidental. Estes países adotaram um conjunto de políticas para atingir os seus objetivos, incluindo seguro social abrangente, facilitação de sindicatos e negociações setoriais, codeterminação (gestão conjunta do local de trabalho por representantes do trabalho e do capital), expansão dramática do ensino superior público acessível ou gratuito e garantia de férias remuneradas e licenças familiares. No entanto, como argumentaram Sheri Berman e Thomas Piketty, a social-democracia perdeu a sua visão e vigor, em parte sob a pressão das instituições e da ideologia neoliberais.
Para renovar o projeto social-democrata, podemos aprender com o seu antecessor, a ética do trabalho progressista. A nível político, os economistas políticos da tradição progressista da ética do trabalho propuseram revisões criativas e ousadas dos direitos de propriedade. Deveríamos experimentar não só o rendimento básico, mas também os subsídios concedidos às partes interessadas por Paine – que proporcionam acréscimos à riqueza – como forma de prevenir a precariedade. Deveríamos também considerar limites rígidos à herança, como J.S. Mill propôs. Ele argumentou que ninguém deveria herdar mais do que o suficiente para uma “independência moderada”. Seguindo as esperanças de Mill, poderíamos também fazer muito mais para promover as cooperativas de trabalhadores, uma ideia que os países social-democratas do pós-guerra nunca levaram a sério.
Também podemos aprender com os economistas políticos da tradição progressista da ética do trabalho a renovar a visão normativa da social-democracia. Eles compreenderam que, de longe, o produto mais importante do nosso sistema económico somos nós próprios. Ao considerar o desenho institucional, a nossa primeira questão deveria ser: como são as pessoas moldadas pelos nossos modos de organização da produção, troca, distribuição e fornecimento de bens públicos? Esta questão se desenvolve em pelo menos mais duas. Primeiro, o trabalho e outros arranjos institucionais melhoram ou degradam as capacidades e virtudes dos indivíduos? E, em segundo lugar, como é que as diferentes formas de conceber a produção e a troca, os modelos de negócio, a governo empresarial, a distribuição de bens públicos e as políticas de bem-estar social afetam a forma como nos relacionamos uns com os outros? Será que os nossos arranjos econômicos encorajam a confiança, a simpatia e a cooperação, ou fomentam a desconfiança, a exploração, a dominação, o desprezo e o antagonismo entre indivíduos e grupos sociais? Com a ascensão de empresas de alta tecnologia que lucram com a disseminação de desinformação e semeando indignação e malícia, investidores de capital privado que lucram com a quebra de confiança de outras partes interessadas e prestadores de cuidados de saúde que tiram partido dos vulneráveis e os enterram em dívidas intermináveis, é mais do que tempo de integrarmos a preocupação com a qualidade de nossas relações sociais em nossas avaliações das regulamentações de empresas.
Como J.S. Mill antecipou e os social-democratas como Bernstein compreenderam, a democracia está no centro dessa visão normativa mais ampla. Um lugar para construir a democracia é o local de trabalho. O modo de governo neoliberal no local de trabalho sob o capitalismo acionista desqualificou o trabalho e degradou os trabalhadores. Também infligiu grandes danos morais aos trabalhadores, forçando-os a participar em danos a outras pessoas, animais e ao ambiente no processo de maximização dos lucros. Se os trabalhadores tivessem uma voz poderosa no governo do seu local de trabalho, não escolheriam reduzir-se a escravos desqualificados ou infligir danos morais a si próprios. A democratização do trabalho é uma forma poderosa de promover competências e disposições democráticas, demonstrar que a democracia pode responder às preocupações das pessoas comuns e, assim, fortalecer a democracia a nível estatal. A maioria das pessoas deseja um trabalho significativo, tal como entendido na tradição da ética de trabalho progressista: um trabalho que proporcione um meio para uma pessoa exercer o seu arbítrio e habilidade ao ajudar outras pessoas. A democratização do trabalho, através de cooperativas de trabalhadores e de modelos melhorados de co-gestão, é uma forma promissora de garantir um trabalho significativo para todos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.


