Ativismo digital indígena: passo adiante ou cilada?
Cresceu muito, entre os povos tradicionais, o uso da internet e celular para denúncia e mobilização. Nas condições atuais, esta prática abre enorme vulnerabilidade. Há alternativa?
Publicado 21/09/2017 às 19:27 - Atualizado 13/12/2018 às 15:53
Por Rafael A. F. Zanatta
Quando se fala de “direitos digitais” – privacidade, proteção de dados, liberdade de uso da internet, neutralidade de rede –, as pessoas rapidamente pensam em Marco Civil da Internet, ativismo em redes sociais e grandes centros urbanos que buscam reinventar a democracia diante do impasse de relações sociais cada vez mais controladas por grandes corporações de tecnologia.
Mas os direitos digitais são fundamentais para populações distantes dos grandes centros urbanos e do universo “tech”. Basta olhar para o modo como movimentos sociais no Brasil, em especial os do Norte, contestam o “desenvolvimentismo a qualquer custo” de Dilma Rousseff e Michel Temer, colocando-os em situação de alta vulnerabilidade.
Uma viagem recente ao Maranhão me fez pensar bastante sobre o assunto. Lá, há vários movimentos ativos na luta por direitos que utilizam fortemente a internet para suas mobilizações, como o quilombo de Santa Rosa dos Pretos, a Rede Justiça nos Trilhos – que mitiga problemas socioambientais ligados à mineração e atuação da Vale – e os índios Gamela, da região de Viana, que sofreram um ato de violência extrema em março de 2017, avisado por WhatsApp.
A situação por lá é bastante grave. Essas comunidades estão sendo massacradas por projetos desenvolvimentistas de grande porte, o investimento de chineses e grupos internacionais interessados em extração de minério e uma política estatal de eliminação de demarcações e reservas ambientais, como ocorrido com o cancelamento da Reserva Nacional do Cobre, alvo de disputas judiciais.
Nessa região, é comum ativistas contarem histórias de ameaças, assassinatos, atos de barbárie (como o decepamento da mão de um dos Gamela), intimidações e vigilância ostensiva. Apesar de a Folha de São Paulo ter noticiado que o número de lideranças quilombolas assassinadas saltou de 1 para 13 entre 2016 e 2017, há pouca atenção dos cidadãos do Sul e Sudeste para o que acontece no Norte.
Violência e intimidação também têm se deslocado para o campo digital. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) teve seus computadores e bancos de dados hackeados há poucos meses. Os Gamela desconfiam de monitoramento por satélite e formação de bases de dados compartilhadas com políticos locais. As comunidades quilombolas argumentam que a Vale terceirizou atividades de monitoramento de ativistas e ONGs. Jornalistas que cobrem os confrontos e lutas por defesa territorial no Norte tiveram computadores e celulares confiscados. No relatório da CPI da Funai, ONGs respeitadas foram acusadas de exercer “pregação de ideologia sofista e deturpada, por vezes disfarçada de messiânica”, incitando a perseguição de ruralistas.
Esse cenário assustador — de um Brasil cada vez mais violento e insensível aos povos tradicionais — demanda tarefas urgentes de solidariedade e ação colaborativa.
Uma, em especial, é o compartilhamento de táticas de comunicação segura que minimizem vigilância e vulnerabilidade dessas comunidades, como o guia “Segurança numa caixa”. O celular e a internet se tornaram ferramentas indispensáveis para denúncias e articulações em rede. No entanto, são raros os que sabem desabilitar registros de geolocalização nos celulares. Há lideranças indígenas que sequer usam senha de bloqueio na tela inicial do celular – o que facilitaria facilmente uma devassa em conversas sensíveis. Além disso, há baixíssima disseminação de técnicas de criptografia para email e dispositivos (computadores e celulares), inclusive para jornalistas que se voluntariam para cobrir situações de violação de direitos.
Há urgência em realização de oficinas e treinamentos para segurança da informação. Os grupos do Sudeste — que se tornaram conhecidos pela criação da Cryptorave e uma cultura de segurança — precisam encontrar mais formas de intercâmbio e de aproximação com esses grupos. Há muito o que se fazer.
Além da questão técnica — das dicas básicas de segurança e do cuidado com o que se usa nos dispositivos –, há uma janela de oportunidade para um uso estratégico dos direitos digitais e das garantias do Marco Civil da Internet e da Constituição Federal. É preciso disseminar um ferramental jurídico para contestar vigilância por drones, a coleta maciça de dados pessoais em áreas geográficas abertas (como faz o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia de 2018) e as bases de dados pessoais em posse de empresas privadas e empresas de segurança.
O desafio é enorme, mas há uma oportunidade real de aproximação da comunidade de direitos digitais com núcleos de assessoria jurídica popular dessas regiões, pastorais da terra, organizações de defesa indígena e núcleos de direitos humanos de seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Os trabalhos iniciados pela Artigo 19 e pela Escola de Ativismo são bons exemplos de projetos que já começaram essa urgente “ida ao Norte”.
Além de ser uma questão de solidariedade e justiça social, é uma questão de vida ou morte. Antes de voltar para São Paulo, uma ativista me disse: “não sabemos o que de pior pode acontecer nessa escalada de violência nos próximos meses”. Em situações assim, precisamos de cuidado mútuo e mais colaboração.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.
Um comentario para "Ativismo digital indígena: passo adiante ou cilada?"
Os comentários estão desabilitados.



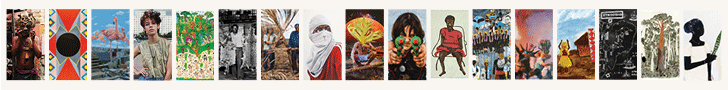
Esqueceu de dizer que a internet no Maranhão nem sei se existe. Na boa passei dois meses inteiros em São Luis, Tutoia, desci o Tocantins ate Carolina e afirmo que não consegui acessar a internet pra quase nada. Metade dos brasileiros nem acesso a internet tem.