"Sou 100% palestino e 100% judeu"
Ícone da resistência cultural contra ocupação (assassinado em 4/4), cineasta e dramaturgo Juliano Mer-Khamis fala sobre sua vida e obra
Publicado 19/04/2011 às 12:30
Entrevista a Maryam Monalisa Gharavi, em The Electronic Intifada | Tradução Coletivo Vila Vudu
O ator-diretor de teatro e cinema Juliano Mer-Khamis foi assassinado por um pistoleiro mascarado, dia 4/4/2011, na calçada do Teatro da Liberdade do qual foi co-fundador em 2006, na cidade de Jenin, na Cisjordânia ocupada por Israel. Ainda não há (em 19/4) pistas sobre a autoria dos disparos que o mataram. Nascido em Nazareth em 1958, filho de Saliba Khamis, palestino, líder do Partido Comunista de Israel, e de Arna Mer, atriz israelense, Juliano descrevia-se, ele mesmo, como “100% palestino e 100% judeu.”
Juliano tentou empenhadamente exibir seu filme “As crianças de Arna” [orig. Arna’s Children. O filme pode ser comprado em http://www.thefreedomtheatre.org/support-buy.php], que documenta a extraordinária transformação de sua mãe, de jovem judia de uma colônia israelense em 1948, até converter-se em animadora de um grupo de teatro para crianças no campo de refugiados palestinos de Jenin. Como o próprio Juliano conta na entrevista abaixo, que permanecia inédita, o filme alcançou pouca repercussão quando foi mostrado pela primeira vez. Em 2006, Juliano voltou aos EUA, infatigável como sempre, e encontrei-o pela primeira vez numa exibição do filme no Massachusetts Institute of Technology, MIT.
Apesar do público pequeno que acorreu à exibição aquela noite, era impossível não ver o impacto que o filme, raro, inesquecível, provocou. Depois da exibição, Juliano falou sobre a obra, a voz candente, apaixonada, descrevendo a devastação da ocupação e comentando as dificuldades que enfrentou para filmar a história de sua mãe.
As Crianças de Arna é um documentário, mas com marcações temporais que o aproximam da narração de ficção. Como em outras obras de arte centradas na perda da Palestina histórica, como em Returning to Haifa [Voltando a Haifa], de Ghassan Kanafani, Juliano construiu uma narrativa quase impossível de recriar ou imaginar de qualquer outro ponto de vista.
Numa das sequências, a narrativa aproxima uma cena que mostra Juliano ao lado do corpo da mãe envolto num lençol num hospital, e o ataque do exército de Israel, com tanques, contra o Teatro de Pedra [orig. The Stone Theatre], de Arna, em abril de 2002. O Teatro de Pedra foi parte do projeto cultural mais amplo de Arna — Cuidar e Aprender [orig. Care and Learning], fundado para atender crianças do campo de refugiados de Jenin, que conviviam com a violência de uma ocupação militar que os cercava por todos os lados, e dar às crianças um meio criativo para sobreviver ao trauma crônico. O Teatro de Pedra foi destruído pelos tanques israelenses, em ataque que o filme mostra, documentado. As datas históricas da destruição do Teatro de Pedra e a morte de Arna alinham-se quase miraculosamente. O filme mostra o cadáver de Arna e as ruínas do teatro que ela tanto amara como dois mortos por uma mesma causa.
Entrevistei Juliano[1] na estação ferroviária, em Boston, dia 4/4/2006, pouco antes de ele tomar um trem para Nova Iorque, para a exibição do filme – exatamente cinco anos antes de ele ser assassinado na calçada do Teatro da Liberdade, em Jenin, onde viveu e trabalhou.
O currículo de Juliano como ator é conhecido, e é hora de lembrar detalhes de sua biografia. Aí vai a história, contada por ele, de sua vida no campo de refugiados em Jenin e de sua relação complexa com Israel.
Quem o conheceu reconhecerá nessa entrevista o tom de Juliano: brutalmente franco, irônico, com olhos pouco complacentes sobre os abismos que ligam Israel e os palestinos. Discute sem meias palavras a engenharia social de Israel, o trabalho visionário de sua mãe em Jenin e sua trajetória, de soldado israelense até se converter em cineasta e militante. Tenho esperança de que essa entrevista possa somar-se, como mais um fragmento de discurso, ao trabalho militante de Juliano, ao seu filme e à luta dele, para compor mais um degrau rumo ao que o artista Paul Chan chamou de “liberdade sem força”. Aí, um fragmento da entrevista. A íntegra da entrevista pode ser lida em http://southissouth.wordpress.com/2011/04/05/art-is-freedom-without-force-interview-with-the-late-juliano-mer-khamis/) .
Maryam Monalist Gharavi: Por quanto tempo o filme As Crianças de Arna foi proibido em Israel?
Juliano Mer-Khamis: Não foi realmente proibido. Se alguém escrevesse sobre o filme, os jornais não publicavam. O filme foi apagado, silenciado. Houve dois programas de televisão sobre o filme, os dois cancelados no último momento. Não achamos distribuidor em Israel, nem cinemas que exibissem o filme. Em alguns momentos, críticos e jornalistas usaram o filme para dar vazão às próprias frustrações, impostas pela censura e por um certo discurso que o governo de Israel impõe à imprensa. São regras conhecidas, sobre o que se pode e o que não se pode publicar, palavras que não se pode usar, perguntas que não se pode nem fazer nem responder e o modo permitido de perguntar certas coisas. Se você fala com um palestino e com um militar israelense, é preciso mudar as expressões, as palavras. Com esses cuidados, acho que alguns arranjaram coragem para escrever sobre o filme. Assim, aos poucos, o filme foi ‘autorizado’ e acabou por ser exibido em todo o país.
MMG: Arna fez discurso pungente ao receber o Right Livelihood Award, do Parlamento da Suécia. Disse que, assim como Rosh Pina [a colônia israelense onde ela vivia durante a Nakba (a Catástrofe) dos palestinos, em 1948] cresceu e desenvolveu-se, a vila árabe vizinha, al-Jauna, foi “varrida da face da terra” e os palestinos que ali viviam foram feitos refugiados, como 700 mil outros, “por assalto, roubo de terras e deslocamento forçado”. Na sua opinião, o que impede que outros israelenses vejam o que sua mãe viu?
JMK: Boa pergunta. Posso lhe dar um quadro, no qual analiso esse processo histórico, pelo qual Israel conseguiu confiscar terras, expulsar populações inteiras e colonizar grandes áreas da Palestina, e não ver o que minha mãe viu nem enveredar pelo caminho pelo qual ela enveredou. Há muitas razões, mas a principal é que você tem de entender que, desde que o movimento sionista foi criado, o próprio sionismo manipulou a história dos judeus, sobretudo o período do Holocausto, e mobilizou recursos e força, até criar algumas das mais bem sucedidas colônias na Palestina. Daí em diante, a teoria da vitimização, ou uma política de vitimização dos judeus, que os israelenses usaram e usam, e os muitos meios que mobilizaram, reescreveram a história, desde os pogroms – as políticas dos czares russos – até a divulgação de alertas antissuicídio que chegavam a Israel. De lá até hoje, o que se vê são sempre políticas do medo, a mentalidade de ghetto, políticas que afastam o israelense médio da realidade. Assustadas, vitimizadas, as pessoas conseguem justificar qualquer crime que cometam e vejam ser cometido, e vivem confortavelmente sem responsabilizar-se, sem se culpar pelos próprios crimes ou pela cumplicidade. A maioria dos israelenses vive assim. Se você convence-se de que é a vítima, é fácil desumanizar e demonizar todos que não sejam “você mesmo”. Acho que isso explica o sucesso inicial da propaganda sionista em Israel.
MMG: No filme, na cena ao lado do corpo de sua mãe, no necrotério, você comenta, meio sem conseguir falar, que só o kibbutz aceitaria enterrar sua mãe. O que aconteceu depois que ela morreu?
JMK: Minha mãe não podia ser enterrada em Israel, porque ela exigiu que não se fizesse nenhum tipo de enterro religioso. Israel não é uma democracia: Israel é uma teocracia. A religião não é separada do Estado e todas as questões da vida privada – casamentos, enterros, a comida, tudo – são controladas por autoridades religiosas. Então, é impossível, em Israel, enterro não religioso. O único modo de enterrar quem não queira funeral religioso é comprar uma sepultura em alguns dos kibbutzim que se dizem laicos, mas esses não queriam nos vender a sepultura, por causa da militância política de minha mãe. Não fosse pela questão religiosa, era pela questão política, mas o resultado era o mesmo. Então, até que se resolvesse alguma coisa, tivemos de levar o caixão de volta para casa. E lá ficou, na minha casa, por três dias. E não havia onde enterrá-la. Então, convoquei a imprensa e anunciei que minha mãe seria enterrada no jardim da minha casa. Foi um escândalo, apareceu a polícia, televisões, jornalistas, ameaçaram-me, muitas ameaças. A casa foi cercada por uma multidão. Até que, afinal, recebi um telefonema de amigos, do kibbutz Ramot Menashe, gente do lado esquerdo do mapa, argentinos de origem. Bons sionistas, talvez já mais pós-sionistas. Eles me deram sete palmos de terra e autorizaram a enterrar minha mãe.
O mais engraçado foi que, enquanto procurávamos lugar para enterrar minha mãe, discutia-se, em Jenin, se não seria o caso de enterrá-la ali, no cemitério dos mártires. Contaram-me que um líder do Fatah andava dizendo, como piada: “Ora, pessoal, é uma honra ter Arna aqui, uma grande honra. O único problema é que, daqui a 50 anos, se aparecer um arqueólogo judeu e desenterrar ossos judeus aqui, vão confiscar a terra de Jenin” [risos]. É assim que fazem. Vivem escavando. Se encontram ossos que dizem ser ossos de judeus, mesmo que sejam ossos de cachorro, eles confiscam a terra. Israel é onde acontecem essas coisas. Em todos os terrenos confiscados, algum osso de judeu foi desenterrado. Assim eles legitimam a posse da terra: desenterrando ossos.
MMG: O jornal Haaretz divulgou recentemente uma pesquisa, segundo a qual 68% dos israelenses entrevistados diziam que não morariam no mesmo prédio em que morassem árabes.
JMK: Tenho aqui a pesquisa.
MMG: Então? Se não querem morar na casa ao lado, por que quereriam ser enterrados ao lado de árabes?
JMK: É. Faz sentido. E quase 50% dos israelenses pensam que os árabes que vivem em Israel são a grande ameaça demográfica e de segurança. Se pensam isso dos vizinhos de porta, imagine que tipo de democracia existe em Israel.
MMG: Para mim, uma das cenas mais importantes do filme é a que mostra a destruição da casa de Alaa e, depois, a destruição também da casa de Ashraf [dois dos adolescentes que fazem teatro com o grupo de Arna, cuja história é mostrada no filme], em Jenin. E Arna, dizendo aos meninos que eles deixem sair a ira, a zanga, que batam nela, se quiserem. Somos envolvidos pela mesma tensão. No público, havia gente que ria e chorava ao mesmo tempo.
JMK: Arna tinha formação em psicodrama. Conseguia resultados surpreendentes, com essas técnicas.
MMG: Como você responderia aos pró-sionistas que assistem ao seu filme e dizem que, apesar de sua mãe ter “reabilitado a mente árabe”, alguns dos meninos atores que se veem no filme converteram-se em “terroristas” (o que o filme também mostra)?
JMK: Essa questão é doentia. Não a sua pergunta, mas a atitude dos sionistas que supõem que o problema é a violência que as crianças praticam, não a violência da ocupação. É como inverter a pirâmide. O que me interessa é desinverter a pirâmide, com propaganda, é claro.
Nós não trabalhamos para “curar” a violência das crianças em Jenin. As crianças em Jenin não estão doentes. Tentamos encontrar meios mais produtivos, para ajudá-las, E meios mais produtivos não implicam não resistir à violência.
O que o nosso teatro tenta fazer não é se por como substituto ou alternativa à resistência palestina que luta pela libertação. É exatamente o contrário. É importante que isso fique bem claro.
Sei que essa posição não nos ajuda a conseguir financiamento, mas não somos “bons judeus” querendo ajudar “árabes”. Tampouco somos palestinos caridosos, que trazem sopa para os pobres. Nós somos da resistência. Estamos alinhados, absoluta e completamente alinhados com a resistência, com o movimento de libertação dos palestinos. A luta pela libertação dos palestinos é a nossa luta de libertação. Todos os que têm qualquer ligação com o nosso projeto sentem-se pessoalmente sob ocupação, sentem que sua vida está sob ocupação pelo movimento sionista, pelo regime militar de Israel, pelas políticas de Israel. Não importa se moramos em Jenin, em Haifa ou Tel Aviv. Ninguém que trabalha conosco trabalha para “curar” alguém. Não somos “curadores”. Não somos bons judeus, nem somos bons árabes, nem somos bons cristãos. Nós somos combatentes da liberdade da Palestina.
MMG: O filme foi proibido em muitas cidades?
JMK: Foi. A exibição foi proibida. O filme foi vendido para várias exibidoras, mas não foi exibido em muitas cidades em Israel. Não sei, é minha opinião, mas acho que quem puder criar dificuldades, boicotar a exibição, boicoitará. Por isso estamos trabalhando tanto na divulgação, tentando divulgar o filme nós mesmos.
Mas, voltando à questão de nosso teatro estar alinhado à Intifada, para deixar bem claro: acreditamos que, hoje, a luta tem de ser cultural, moral. Isso é importante. Não ensinamos os meninos e meninas a usar armas, a atirar, a fabricar bombas. O que fazemos é expô-los ao discurso da libertação, ao discurso da liberdade. Para expô-los a esse discurso, nós os expomos à arte, à música, à dança, à cultura. Nós os expomos a eles mesmos, a uma parte deles que eles não encontram se não forem ensinados a procurar. Entendemos que, assim, lhes damos uma chance de serem mais felizes, de serem gente melhor. Espero que alguns, alguns dos nossos amigos em Jenin, continuarão a luta pela resistência contra a ocupação israelense e continuarão a fazê-lo também nesse projeto e nesse teatro.
MMG: O diretor israelense Yehuda “Judd” Ne’eman diz que hoje filma “no matadouro da guerra moderna”. Diz que se desiludiu do poder da arte ante o horror da guerra, mas diz ele, literalmente: “Quando a situação em Israel deteriora-se em termos políticos, quando meu próprio corpo deteriora-se, só resta acreditar na arte”. Você concorda? Que semelhanças e diferenças você vê entre o seu trabalho, sua missão política e as convergências e divergências que haja entre missão política e missão artística?
JMK: Os mesmos pressupostos valem também para mim. No nosso caso, a arte se combinou, e gera e mobiliza outros aspectos da resistência. A mim, só a resistência interessa. Não faço arte pela arte. Não acredito em arte pela arte. Acho que a arte gera, mobiliza, mistura e combina e inventa um discurso universal de liberdade, de libertação. Só assim a arte me interessa. Por outro lado, a arte tem uma força terapêutica, e dizer “força terapêutica” não implica dizer “poder curativo”. Essa diferença é crucial – não vemos a violência que a ocupação “ensina” aos mais jovens como uma doença. A arte não ensina ninguém a ser bom, bom cidadão, bom judeu, bom cristão. A arte aponta um caminho pelo qual esses jovens têm uma chance de aprender a usar as próprias potências a favor deles. Não contra eles mesmos.
MMG: Você serviu ao exército de Israel, mas abandonou o serviço militar quando recebeu ordens de impedir que parentes palestinos do seu pai passassem por um ponto de controle militar israelense. Que importância teve esse evento, na sua vida política ou, mesmo, na sua formação como artista?
JMK: Foi a palha que quebrou as costas do camelo. Mas a coisa já começou desde que vesti o uniforme. A fantasia não servia, entende? Eu não me via vestido em uniforme militar. Explodi um dia, naquele turno de serviço, naquele ponto de controle. Mas era coisa que já me acompanhava há muito tempo.
MMG: Por quanto tempo você esteve no exército?
JMK: Um ano e meio. Servi numa unidade especializada das forças especiais [uma brigada de infantaria, de paraquedistas]. Não lamento, verdade seja dita. Antes de tudo, do ponto de vista pragmático, o que aprendi lá salvou minha vida várias vezes, no teatro e nas filmagens. Conheço muito bem o exército de Israel, falo hebraico, conheço o idioma, sei como conviver com eles. Foi uma espécie de treinamento de combate para a vida. Por outro lado, vi o avesso, o lado de dentro da propaganda israelense, as menores células da sociedade de Israel, de onde sai o adubo que alimenta o exército. O exército de Israel é a essência da vida em Israel, onde se produz o discurso social israelense, é a base da sociedade israelense. Só lá se vê o fundamento da sociedade israelense. Quando se vê o exército de Israel por dentro, entende-se a dinâmica que mantém vivo o Estado de Israel. Conhecido esse núcleo duro de Israel, pode-se fazer oposição, pode-se reinventar o que não existe em Israel, a partir do que existe.
[1] A íntegra da entrevista pode ser lida em http://southissouth.wordpress.com/2011/04/05/art-is-freedom-without-force-interview-with-the-late-juliano-mer-khamis/
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras



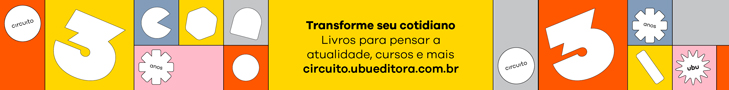
Exilados na própria nação
Lúcida e comovente a entrevista de JMK. Permite que se compreenda melhor o drama do povo palestino e do povo judeu. Que se perceba a tragédia desses dois povos permanentemente em conflito. A irracionalidade dessa guerra que não terá vencedores, somente perdedores. Suscita perguntas: como ficam os princípios da tolerância, do respeito, da justiça? É a política da destruição do outro, do diferente, do ”bárbaro” que interessa à humanidade? Como é possível esperar do expectador o silêncio, a conivência, a sensibilização humanitária quando as armas e a tirania substituem o diálogo e o senso? Essa discórdia é o anti-humanismo.