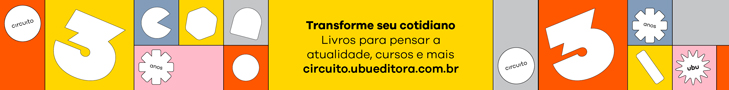Comuns, alternativa à razão neoliberal
Um dos grandes teóricos do compartilhamento sustenta: em todas as crises civilizatórias, sociedades voltam-se para produção e troca comunitárias. Será assim também no ocaso do capitalismo – e os sinais estão em toda parte
Publicado 08/11/2019 às 21:31 - Atualizado 24/12/2019 às 10:54

Michel Bauwens, entrevistado por Solène Manouvrier, em Ouishare| Tradução: Inês Castilho | Imagem: Christoph Ruckhäberle
Os bens comuns não têm nada de novo. Historicamente, os cidadãos sempre se uniram para compartilhar recursos e administrá-los coletivamente de maneira autônoma. É responsabilidade das cidades e dos Estados identificá-los, uni-los e apoiá-los. Os comuns surgem hoje como escolha da sociedade num mundo em crise civilizatória. Sugerem uma sociedade em que sistemas econômicos e produtivos serão finalmente compatíveis com os grandes equilíbrios planetários.
Falamos cada vez mais em comuns. “Bens comuns”, “creative commons”, “pontos comuns”… De que, exatamente, tratam os comuns?
Os comuns são três coisas ao mesmo tempo: um recurso (compartilhado), uma comunidade (que os mantém) e claros princípios de governança autônoma (para regulá-los). São coisas muito concretas que não existem naturalmente, mas como resultado da aliança entre várias partes. “Não há comuns sem comunidade”. São exemplos as cooperativas que renovam energias, os projetos de mobilidade compartilhados, as entidades de conhecimento compartilhado, as cooperativas de alimentos…
Na verdade, todos possuimos e criamos comuns sem saber, e sempre o fizemos… seguindo ciclos de mutualização mais ou menos intensos.
Se há ciclos para o commoning, onde nos encontramos hoje?
Há ciclos longos, civilizatórios, e ciclos curtos, econômicos. Quanto aos primeiros, cada vez que uma civilização entra em crise há um retorno aos comuns. Porque quando as sociedades de classes se desintegram, quando os recursos são super explorados e se extinguem, unir recursos faz cada vez mais sentido. Hoje, enfrentamos uma crise ambiental global que está gerando o ressurgimento dos comuns. Antes, houve o fim do Império Romano, a crise no Japão no século XII ou na China no século XV…
Há também ciclos pequenos, em termos históricos, específicos do capitalismo, chamados ciclos Kondratiev. São ciclos de 30 anos de alto crescimento e depois 30 anos de financeirização, que geralmente correspondem a períodos de desmutualização. O ano de 2008 marcou o fim desse ciclo: tem havido um ressurgimento de projetos de mutualização dentro do próprio capitalismo.
Quer dizer que estamos hoje num alto nível de mutualização?
A situação precisa ser enxergada em suas nuances. Por um lado, os comuns correm risco no Terceiro Mundo. Há uma forte pressão para sua privatização. Isso diz respeito, por exemplo, à terra e aos recursos naturais na África. Por outro lado, novas tecnologias facilitam a emergência do conhecimento comum, tanto em pequena como em larga escala, o que antes não era possível. Finalmente, no Ocidente vemos um ressurgimento dos comuns. Desde 2008 eles aumentaram dez vezes. Foi o que observei há poucos dias em Ghent, na Bélgica. Havia 50 projetos comunitários urbanos em 2006, em 2016, o número pulou para 500.
O número de comuns está aumentando… mas eles não permanecem sempre minoritários, na economia global?
Vivemos, por certo, um movimento de falsa mutualização, certamente. O que é conhecido como “economia de compartilhamento” corresponde na verdade a modelos de intensa exploração. Os recursos são combinados sem que se dê controle aos usuários, critério essencial para falar de comuns. Chamo isso de “capitalismo de captura”, um capitalismo predatório que explora a cooperação humana.
Por um lado, Google e Facebook compartilham o conhecimento da humanidade, facilitam sua comunicação, e o fazem utilizando ao mesmo tempo nossos dados e atenção com finalidade comercial – sem nos pagar por isso. Por outro lado, Uber e Airbnb juntam recursos pessoais (carros, espaço para estacionar, apartamentos…), possibilitam que estes sejam trocados entre pares e cobram uma comissão por cada uma dessas interações.
Isso diz respeito a um velho debate entre Marx e Proudhon no século 19. Para Marx, a criação de riquezas estava no valor agregado, enquanto para Proudhon ancorava-se na cooperação… É a ideia de que juntar cem artesãos torna-os mais produtivos do que se estivessem separados. Hoje, Proudhon estaria certo: o capitalismo é Proudhoniano!
Existem contudo alternativas em todo lugar. En Ghent, pode-se encontrar Uber, é claro, mas ao lado dele haverá duas cooperativas de mobilidade compartilhada. Em na cidade, para cada sistema de suprimento humano existe uma alternativa orientada ao bem comum. Em especial, sistemas de alimentos e energia.
Embora os comuns estejam muito avançados em algumas cidades, em outras são ainda embrionários. Como explicar isso?
O primeiro elemento explicativo é o contexto histórico. Em Ghent, a situação é rara. A cidade foi autogovernada por guildas [corporações] desde a Idade Média, depois tornou-se uma república calvinista. Foi o berço dos movimentos de trabalhadores na Bélgica com a primeira reindustrialização textil. Nos últimos 20 anos, coalizões progressistas estiveram no poder. Historicamente, o povo tem sido capaz de tomar iniciativas – e sempre teve apoio. Fenômeno semelhante pode ser encontrado na França, em Nantes ou Nancy.
A ação política pode encorajar movimentos de mutualização nas cidades?
Nós nunca começamos do zero, os comuns são sempre preexistentes à ação política nas cidades. Há pessoas, iniciativas que funcionam. Elas são resilientes mas às vezes isoladas. O papel dos municípios é, antes de tudo, identificar essas iniciativas, ouvi-las e responder às suas necessidades. Por outro lado, os comuns nunca podem ser construidos sem a cidade. Precisamos pelo menos de uma concordância em princípio, de uma abordagem informal deabrir espaço. Por exemplo, em Ghent havia um mosteiro que a cidade não conseguia mais manter. Os moradores da vizinhança, então, pediram a chave do edifício. Isso aconteceu há 10 anos: organizam eventos culturais a cada fim de semana. A economista políica Elinor Ostrom disse que nenhum comum pode ser bem sucedido sem a concordância de entidades públicas. A cidade tem de desempenhar, necessariamente, pelo menos o papel de guardiã.
Em algumas cidades há forte apoio político. É o caso de Barcelona, com o plano plurianual “Barcelona em Comum”; de Bolonha, onde instituições público-comuns possibilitam aos cidadãos cuidar de recursos compartilhados; ou de Nápoles, com o reconhecimento e apoio do prefeito Luigi de Magistris a mais de 60 regiões autônomas no município. Contudo, conectar os comuns ao apoio municipal não é uma ação sem riscos, pois pode criar uma relação de dependência. O que é necessário são estruturas público-comuns: estruturas que levem os cidadãos a se unir e estimulem seu poder de auto-organização.
Essas estruturas público-comuns seriam possíveis numa escala nacional ou global? Ou os comuns ficam limitados aos muros de cada cidade?
A questão política em nível nacional, hoje – tanto para a esquerda como para a direita – é o credo de que o valor é produzido pelo mercado. Os comuns representam um sistema completamente diferente, em que todos os cidadãos criam valor e contribuem. Embora algumas cidades tenham entendido esse modelo, não há por trás delas uma força política em nível nacional. Em vez disso há coalizões pró-cidades comuns com governança em rede. É preciso que movimentos políticos nacionais sejam convencidos da relevância dos comuns.
Como a mutualização pode ganhar escala? Como uma cidade inteira pode ser transformada na lógica dos comuns?
Nem todo mundo seguirá ao mesmo tempo, mas se formos capazes de mobilizar 10% da população teremos vencido – o resto seguirá. Hoje, os atores da produção sustentável representam apenas 2% na Bélgica e sentem-se sozinhos… Neste estágio, as autoridades públicas podem desempenhar um papel exemplar e oferecer um treinamento considerável.
Uma forma seria ajudar a financiar as forças motrizes da sociedade, apoiando iniciativas que promovam bens comuns. Isso pode assumir a forma de conselhos de transição para cada grande setor de suprimentos: um conselho alimentar, um conselho de mobilidade, um conselho de moradia… Nesses conselhos, daríamos voz e poder aos pioneiros da transição: aqueles que trabalham nas margens e mostram que um outro caminho é possível. Acredito sinceramente nesse modelo de democracia – nem participativa nem deliberativa, mas contributiva. Você tem voz porque mostrou que está construindo.
Outra forma seria pela regulamentação. Por exemplo, um Estado poderia impor “alimentação 100% produzida localmente, saudável e orgânica”. Em Ghent temos mais de 100 milhões de refeições por ano, que já correspondem a centenas de empregos locais. Do mesmo modo, poderíamos demandar que carros fossem produzidos localmente, carros que sejam tanto duráveis quanto biodegradáveis.
De volta à produção local, distribuída – seria essa uma forma de colocar os comuns a serviço do meio ambiente?
Isso é o que eu chamo de produção cosmo-local. Nem protecionista nem liberal, ela significa compartilhar conhecimento (o material “leve”) em nível global, mas produzir (tudo o que é pesado) em nível local, sob demanda. Desse modo, o peso termodinâmico das pessoas sobre a terra é reduzido. Nós já temos todas as tecnologias para fazer este sistema mudar, mas elas ainda não estão combinadas.
Se não é um problema tecnológico,o que nos impede de voltar aos sistemas de produção locais? Enquanto houver diferença nos custos de produção, a deslocalização será sempre justificada de um ponto de vista econômico…
Hoje, gastamos muito mais em transporte do que em produção. Isso não faz sentido. Para mudar as coisas, é preciso haver forte vontade política, pensando nas implicações sociais tanto quanto nas ambientais. Precisamos reconhecer outras formas de valor que não de mercado e levar em conta a capacidade e limites dos recursos naturais em nossos sistemas produtivos, econômicos e financeiros.
Por exemplo, nossos sistemas de contabilidade deveriam levar em conta os dados termodinâmicos: equilibrar o material usado na produção e os limites ecológicos globais. Hoje, já seria possível saber a quantidade de metais raros que se usa, quanto gás se desperdiça, de quanta energia se necessita. O mundo pode entrar em colapso, mas isso não é mostrado na contabilidade.
Isso também precisa se refletir em nossas moedas comerciais. No momento, o dinheiro não representa nada. Ele poderia, contudo, representar o mundo exterior e a finitude de seus recursos. Por exemplo, no projeto da “moeda-peixe” o dinheiro representa o estoque de peixes que pode ser usado sem danificar sua reprodução.
Para tomar as decisões cotidianas corretas e conquistar uma economia permacircular verdadeiramente sustentável, todos os atores econômicos e políticos devem ser julgados com base no bem e no mal que fazem – tanto ao planeta como aos seres humanos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras