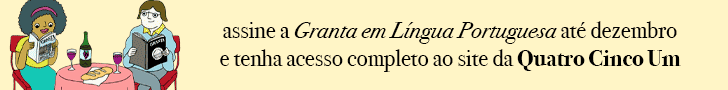As vizinhanças na Amazônia e o risco de perdê-las
Na noite das comunidades, todo mundo usufrui do mesmo cosmos e mesmo espaço. Mas lógica ribeirinha perde-se nas cidades de asfalto e na impessoalidade do dinheiro
Publicado 06/08/2015 às 18:24
Texto e imagem de Bruno Walter Caporrino, na Piseagrama, parceira editorial de Outras Palavras
–
Piseagrama é a única publicação sobre espaços públicos — “existente, urgentes, imaginários” — no Brasil. Nascida em Belo Horizonte em 2010, quando venceu o edital Cultura e Pensamento do Ministério da Cultura, mantém-se hoje com apoio dos leitores. Impressa, é publicada a cada semestre. Na loja virtual de Outras Palavras, é possível assiná-la, comprar edições anteriores e adquirir de bolsas, camisetas, adesivos e cartazes com propostas para outros projetos de cidades.
_
É comum as pessoas pensarem que a vida das gentes à margem dos rios, na Amazônia, é uma vida “à margem”. Que a vida nas ilhas que compõem o arquipélago do Marajó, banhado pelo Baixo Rio Amazonas, por exemplo, é uma vida “isolada” da “civilização” e, portanto, repleta de ausências, marcada por privações de todo tipo, como, por exemplo, tablets e internet wi-fi (coisa que existe sim, nas comunidades ribeirinhas mais “distantes”).
Nas comunidades ribeirinhas do longínquo Amazonas, a privação ronda como um espectro da vida dos desolados “descamisados” caboclos, rezam as reportagens, onde, via de regra, aparecerá uma criancinha indígena (de etnia não revelada, porque isso não importa ao ponto de sequer se saber ou perguntar isso) segurando um “xerimbabo” que é um animal silvestre, numa ode à confortável homologia índio=natureza.
(…) Essa imagem é inerente ao modo como o pensamento das pessoas que moram nas cidades e, em especial nos grandes centros urbanos do eixo sul-sudeste, se organiza, de um modo geral. Esse pensamento trava, como todo pensamento, uma relação dialógica, das gentes com a cidade. É ele que modelou as cidades, historicamente, a fim de que resultassem no modelo atual, ao mesmo tempo em que é o viver cotidiano moldado por esse jeito de organizar as pessoas, o espaço, de dividir socialmente o trabalho, de criar socialmente o espaço-tempo, que molda o pensamento das pessoas sobre tudo isso.
(…) Gosto de pensar que as cidades são fotografias da estrutura social. No tempo. E a estrutura social, a forma como as pessoas se organizam – sim, nunca há caos, sempre cosmos, de modo que a violência, por exemplo, é muito regulada, inclusive, por essa superestrutura.
Disso resulta que para o caboclo, o ribeirinho, ter um vizinho significa desfrutar com ele do mesmo caminho de caça. Desfrutar com ele da mesma pracinha, à noite, trocar com ele gelo e cubas de isopor para transporte de peixe, varar as mesmas trilhas e estradas de seringa, tirar açaí do mesmo local, pescar no mesmo rio, desfrutar da mesma “ponte”, ou seja, da mesma passarela…
É muito comum uma pessoa que vem pela primeira vez às comunidades e ilhas amazônidas perguntar por distâncias, esperando respostas em quilômetros, e ouvir respostas em medidas de tempo (“dá de ir em 6 horas de tempo, na preia-mar”, ou “dá de chegar, no inverno, em três dias na canoa”), provando sardonicamente que tempo é espaço, que espaço é tempo, e que a relação entre ambos é uma função tão única quanto os interlocutores se são um em função do outro nesse contexto.
Assim, nas comunidades e cidades como Afuá, Breves, Chaves, Melgaço, Portel, Bailique, é muito comum ver os “vizinhos” se cumprimentando, pedindo “passagem” na canoa, na lancha ou no iate, um do outro, pernoitando no caminho numa viagem longa, e aproveitando para acertar um metro de prosa já que, nesse sentido, ser vizinho é morar a, no mínimo, meia-hora de canoa, um do outro.
O espaço é muito, gente. E que quantidade de qualidades de vizinhos com que se desfruta e compartilha o existir é incalculável, já que, na noite das comunidades, de botos a queixadas, todo mundo usufrui do mesmo cosmos e do mesmo espaço, dos mesmos caminhos, se entrecruzando ao consagrar, assim, um existir que é ubíquo.
Mas, e então, como ficam as comunidades ribeirinhas que têm se hipertrofiado, aquelas que já viraram cidades, e aquelas que estão sendo sufocadas pelas cidades?
Nesse sentido, a vizinhança ribeirinha ganha outras significações, porque o espaço ganha outro teor e o tempo, outro ritmo. É impressionante como, depois de navegar por mais de 8 horas, apreciando do comando da embarcação comunidades pequenas – não mais do que seis casas alinhadas a assistir ao Rio que assiste a seus moradores – esparsas, muito raras, até que se chega a Breves, e se depara com um núcleo urbano de proporções hoje assombrosas.
Tendo optado por edificar suas moradas em alvenaria, valendo-se do amianto que na Amazônia da seringa era um sinal de status como os carros o são nas cidades, os moradores acabaram, sem saber, fazendo uma maquete em tamanho real da matriz simbólica que regula e condiciona suas relações, consigo mesmas, com o tempo, com o espaço, com a mata e o rio. Mas essas relações, no caso de um núcleo urbano, são ditadas pelo Maestro Capital: o equivalente universal que, mais do que igualar trocas entre valores diferentes, iguala pessoas e cidades, plasmando relações tão naturalmente várias e ímpares ao sobrepassá-las, monetizando-as.
A lógica ribeirinha, que desenha todo um universo pautado pelo diálogo com a mata e suas mais variadas gentes, edifica casas sobre palafitas, embarcações, todo um jeito de ocupar o espaço e usufruir dele, que não aparece mais nas cidades como Breves e Chaves, simplesmente porque o baldrame, a fundação, a estrutura sobre as quais se assentam esses núcleos, são outros: são trocas permeadas, mediatas, mediadas pelo equivalente universal, e não mais trocas diretas de mercadoria (peixe por açaí); elas realizam, através de suas casas e ruas, modos diferentes de se relacionar com o meio: longe de usufruir daquilo que se precisa, e só daquilo, extraindo por suas próprias mãos, à moda indígena, como é nas comunidades ribeirinhas; nas cidades, por mais incrustadas no seio da Amazônia que sejam, já fala mais alto a divisão do trabalho social, permeada pelo equivalente universal.
E os vizinhos, nesses núcleos, não se conhecem mais, não se enxergam, não se falam mais, porque não precisam mais uns dos outros, diretamente, como nas comunidades. Reproduzindo o modelo arquitetônico das casas ribeirinhas, as casas de Afuá, por exemplo, onde esse processo é menos violento, não permitem que se realizem as modalidades de relação ribeirinhas, pura e simplesmente porque, contando com uma população de 15 mil habitantes, atualmente, ninguém mais conhece e troca, depende, relaciona, diretamente com ninguém.
Em Afuá, as belas casas de madeira, ribeirinhas na forma e na função, dialogam com o rio tão belamente quanto nas comunidades: suspensas sobre ele, como todas as ruas, que são palafitas contínuas, onde é vetado o uso de veículos motorizados, Afuá realiza o sonho de qualquer cidade europeia, mas já começa a perder vizinhos.
Porque ser vizinho é estar perto, não geográfica, fisicamente, apenas. Ser vizinho é estar perto simbólica, semântica, cultural, social e economicamente. O dinheiro e o modo de produção que ele movimenta ao circular mercadorias por seu intermédio, mediam relações, isolando pessoas que, sendo gentes, deixam de ser vizinhos, “colegas”, “manos”, como se chamam mutuamente os ribeirinhos, para contratar-se, pagar-se, uns aos outros.
É claro que em cidades como Almeirim, Portel, Melgaço, e, sobretudo, Bailique e Afuá, esse processo é sensível apenas na linha do tempo, para aqueles que visitam esses lugares de quando em quando por muito tempo. Em Breves, Chaves, e, sobretudo, nas áreas de ressaca que são chamadas de “invasões”, mas que na verdade são comunidades tradicionais consagrando uma modalidade tradicional de relações entre as pessoas e com o meio e que estão sendo estranguladas pelo asfalto e pela alvenaria frenética acossada pelo “desenvolvimento”, as relações de vizinhança passam a se diluir assim como o tempo, como o espaço: passa-se do líquido, do Rio, do mundo água que isolada mas, por isso mesmo, unia e ligava as pessoas, as comunidades, através sobretudo das embarcações, para o tempo-espaço líquido, fugaz, mediato e mediado.
Em Santana e Macapá, no Amapá, as “beiras” ou “ressacas” são uma fotografia da velocidade da locomotiva do modo de produção chamado de capitalista, mas que é mais do que isso: mais do que buscar excedentes, dividindo o trabalho e a produção da vida, essa modalidade de organização do tempo, do espaço, das pessoas, da vida, enfim, nega o interlocutor “gentes”, fazendo com que as pessoas, mesmo que morem há menos de 45cm umas das outras (esse é o espaço entre as paredes das casas de madeira nas ressacas amapaenses, amazônidas em geral), não se falem, não se vejam, não troquem mais.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.