Dowbor: Pós-capitalismo e os limites da Razão
Num parêntese em suas reflexões sobre o esgotamento do sistema e as saídas, o economista indaga: como superar o desejo, tão humano, de acomodação ao que está posto? Em busca de respostas, ele invoca, entre outras, Hannah Arendt
Publicado 21/12/2020 às 21:20 - Atualizado 21/12/2020 às 21:25

Por Ladislau Dowbor
MAIS:
Este texto é o quinto capítulo de:
> O Capitalismo se desloca, livro mais recente do autor
(Edições SESC).
> A obra está sendo publicada em partes, por Outras Palavras. Acesse:
Capítulo 1
Capítulo 2 [1ª parte | 2ª parte]
Capítulo 3 [1ª parte | 2ª parte]
Capítulo 4 [1ª parte | 2ª parte]
> Uma breve apresentação e uma entrevista com Ladislau Dowbor a respeito da obra podem ser acessados aqui.
OS LIMITES DA RACIONALIDADE: AFINAL, O QUE SOMOS?
Ainda que se abram imensas oportunidades com a sociedade do conhecimento, a economia imaterial e a conectividade planetária,na realidade, tudo dependerá da nossa capacidade de aproveitá-las. Independentemente das análises sobre classes sociais, organizações de trabalhadores ou partidos políticos, ou ainda da possibilidade de criarmos uma mídia democrática, coloca-se com força hoje a necessidade de compreender com mais realismo o que somos como pessoas, como seres humanos. Estou indo além da economia, extrapolando, por assim dizer, a minha expertise? Sem dúvida, e é o que os economistas sempre fizeram ao apoiarem, por exemplo, todo o edifício da teoria econômica herdado dos últimos séculos, fundado em uma imensa simplificação psicológica. Para que as equações fizessem sentido, era preciso imaginar que o ser humano maximizava racionalmente as suas vantagens, tornando-o cientificamente previsível e possibilitando apresentar a economia como ciência. Isso, obviamente, é uma monumental bobagem. Desenvolvemos construções científicas sofisticadas apoiadas numa premissa falsa. Uma leva de estudos recentes demonstra claramente que se trata, na expressão de Michael Hudson, de junk economics. Gostamos naturalmente de nos considerar racionais, somos superiores aos animais com os seus instintos e capazes de construir racionalmente o nosso futuro. Aqui há claramente um imenso wishful thinking, uma ilusão sobre o que somos. É tão gratificante nos sentirmos superiores. Aliás, procuramos sempre justificativas racionais para as nossas crenças ou ações, por absurdas que sejam. O conceito de racionalização resume bem essa construção precária em torno de opções que de racionais têm muito pouco.
Os nazistas estavam aperfeiçoando a raça superior, os carrascos da Ku Klux Klan estavam limpando o país e protegendo donzelas brancas, as ditaduras latino-americanas estavam nos protegendo do comunismo, a invasão do Iraque nos protegeria das armas de destruição em massa, o golpe de 2016 no Brasil foi para restabelecer o equilíbrio econômico e para combater a corrupção, Lula foi preso porque roubou e assim por diante. Hoje as racionalizações são construídas em escala industrial por empresas especializadas em marketing político, com o apoio de think tanks, de setores da academia e, evidentemente, da imensa máquina de comunicação articulada com as plataformas de informação individualmente direcionadas. A realidade foi substituída pelas narrativas. Qualquer semelhança com racionalidade é mera coincidência, ou uma construção a posteriori.
Essa dimensão dos nossos comportamentos é essencial para entendermos a nossa imensa dificuldade em construir uma sociedade que funcione. Em outros termos, uma coisa é analisarmos as dinâmicas de poder e as dificuldades estruturais para melhorarmos a sociedade, por exemplo o fato de que a economia se globalizou enquanto os governos são nacionais, ou ainda o fato de que as tecnologias avançam muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de gerar instrumentos de governança. Outra coisa é pensarmos a que ponto a nossa própria irracionalidade, como seres humanos, torna difícil a construção de uma sociedade que funcione. Já pararam para pensar no imenso absurdo que são as guerras e os massacres por motivos ridículos, século atrás de século? Claramente, a nossa classificação como Homo sapiens constitui um forte exagero. Como funciona o Homo realmente existente?
O PRIMATA DENTRO DE NÓS
Não há como não considerar barbárie, nesta era de grande riqueza planetária, deixarmos morrer cerca de 6 milhões de crianças, todos os anos, por falta de acesso à comida ou à água limpa: sabemos onde essas crianças estão, temos os recursos e o conhecimento de que custa muito menos remediar a situação do que arcar com as consequências; no entanto, pouco ou nada fazemos. A comoção mundial com o resgate de 12 crianças de uma caverna na Tailândia mostra que podemos nos sentir solidários, mas é impossível não pensar que, diariamente, morrem 15 mil crianças por falta de alimento, um problema cuja solução não custaria quase nada e permitiria que se tornassem pessoas produtivas. É o espetáculo que comove? Como podemos manter 850 milhões de desnutridos, cifra que voltou a crescer, quando não só produzimos alimentos em excesso mas os desperdiçamos de maneira absurda? Como podemos assistir impotentes às famílias que se afogam no Mediterrâneo, à destruição ambiental, às fraudes generalizadas praticadas por corporações ou governos equipados com as mais avançadas tecnologias, manejadas por pessoas com formação superior e ampla cultura geral? Podemos nos dotar de fantásticos avanços tecnológicos para alcançar os nossos fins, mas os próprios fins estão profundamente enraizados nas águas turvas dos nossos instintos, preconceitos, ódios, ainda que frequentemente aflorem surtos de emocionante generosidade.
É muito impressionante a sofisticação técnica do software elaborado pela Volkswagen para fraudar a verificação de emissões de partículas pelos seus veículos, programa desenvolvido por pessoas que sabiam perfeitamente que 7 milhões morrem anualmente por causas relacionadas à poluição, em particular, crianças e idosos. A fraude foi montada em paralelo com grandes campanhas publicitárias incitando as pessoas a preferir esses carros por serem ambientalmente mais limpos. Que tipo de gente trambica informações sobre remédios ou agrotóxicos, mas dorme em paz com a sua família? A mídia comercial, sem dúvida, nos faz de palhaços, mas o que impressiona mesmo é a nossa facilidade de acreditar em argumentos completamente idiotas, quando, por outro lado, somos capazes de tantas proezas criativas. Quando Jessé Souza fala da imbecilidade das nossas elites, não se refere à sua falta de inteligência, e sim à imbecilidade de como a usam. E, francamente, a facilidade com a qual absorvemos como verdade os contos de fadas mais absurdos que nos empurram é impressionante.
Parece que andamos esquecidos das nossas origens. Somos essencialmente primatas. Primatas inteligentes, sem dúvida, mas uma coisa é constatar a inteligência, outra é avaliar como a utilizamos. E aí vamos para a profundidade das emoções, dos instintos, das nossas raízes primitivas. Não necessariamente para o mal, obviamente, tanto que temos poderosos instintos que nos levam a colaborar, a manter relações amorosas, a defender a justiça. Mas também para o mal, e aí estão as guerras, a mesquinhez, a violência absurda, a destruição do meio ambiente e as fraudes generalizadas. Como o Homo sapiens pode cair tão baixo?
A questão é que não somos divididos entre pessoas boas e pessoas más, todos nós contamos com amplos potenciais para o bem e para o mal. Curiosamente, analisar os primatas nos fornece um espelho perturbador do nosso próprio comportamento. Nascido em 1948 na Holanda, Frans de Waal se tornou um dos pesquisadores mais respeitados na análise do comportamento dos primatas e de seu forte viés ético. Depois de muitos livros sobre primatas, ele escreveu um sobre “o primata dentro de nós”, traçando um paralelo muito interessante, por vezes divertido e por vezes deprimente, entre nós e os outros primatas. A verdade é que um grupo se separou dos símios há milhões de anos, gerando um caminho evolutivo independente que permitiu o aparecimento do gorila, do orangotango, do chimpanzé, do bonobo e, naturalmente, de quem aqui escreve e de você que me lê. E esse grupo compartilha alguns comportamentos comuns.
Um exemplo interessante é a existência do bode expiatório nas comunidades de chimpanzés. Pode haver uma briga entre os mais poderosos na hierarquia do grupo, mas quem perde ou é humilhado lá em cima vai rapidamente buscar um coitado mais fraco ou mais jovem e tirar a desforra. Mesmo que não tenha nada com a história, alguém tem de pagar o pato. O paralelo apresentado por De Waal é ótimo. À Fiesp se recomenda a leitura.
Para o homem moderno, buscar um bode expiatório se refere a demonização, vilificação, acusação e persecução inapropriadas. O exemplo mais horrível da humanidade foi o Holocausto, mas liberar o ódio às custas de outros cobre um leque muito mais amplo de comportamentos, inclusive a caça às bruxas na Idade Média, o vandalismo de torcidas derrotadas e o abuso por parte de esposos depois de conflitos no trabalho. E a base desse comportamento – a inocência da vítima e uma liberação violenta de tensões – é impressionantemente semelhante entre humanos e outros animais […]. Costumamos vestir esse processo com simbolismo e encontramos vítimas com base na cor da pele, na religião ou no sotaque estrangeiro. E também tomamos muito cuidado para nunca admitir a vergonha [shame] que a penalização de bodes expiatórios na realidade constitui. Nesse particular, somos mais sofisticados que outros animais1.
Soa familiar? Homo sapiens… Não importava, escreve De Waal, que não houvesse nenhuma prova de ligação com os atentados em Nova York: o bombardeio de Bagdá representou um grande relaxamento de tensões para o povo estadunidense, recebido por uma mídia entusiasta e bandeiras nas ruas.
Imediatamente após essa catarse, no entanto, dúvidas começaram a surgir. Dezoito meses depois, pesquisas indicaram que a maioria dos estadunidenses consideravam a guerra um erro […]. É deprimente constatar que compartilhamos essa tendência – que gera tantas vítimas inocentes – com ratos, macacos e primatas. É uma tática profundamente arraigada de manter o controle sobre o estresse às custas da decência [fairness] e da justiça2.
Mas os primatas também devem seu sucesso e sua sobrevivência a um conjunto de práticas colaborativas, assim como a impressionantes demonstrações de solidariedade e compaixão, e o autor dá vários exemplos, inclusive é possível encontrar vídeos muito divulgados de primatas salvando crianças, compartilhamento de comida, organização solidária entre mães para a proteção dos filhos etc. A organização social, a formação de grupos solidários ou rivais, o sentimento de indignação diante de injustiças – animais que se recusam a aceitar comida se outros membros do grupo não a recebem igualmente, por exemplo – mostram que os polos do bem e do mal estão profundamente enraizados nos nossos genes. De Waal inclusive critica fortemente a deformação do darwinismo, que permite justificar tantos comportamentos “desumanos” (!) sob a justificativa de que isso é a natureza, a sobrevivência do mais apto.
O próprio Darwin nunca foi um “darwinista social”. Pelo contrário, acreditava que havia espaço para o bem [kindness] tanto na natureza humana como no mundo natural. Precisamos urgentemente dessa compaixão, porque a questão com a qual se defronta a crescente população mundial não é tanto se conseguiremos ou não manejar o aperto [crowding], mas se seremos decentes e justos na distribuição dos recursos. Pegaremos o rumo do vale-tudo competitivo ou tomaremos um caminho humano? Nossos primos próximos podem nos dar algumas lições importantes. Mostram-nos que a compaixão não é uma fraqueza recente que vai contra a natureza, mas um poder formidável que faz parte tanto de quem e do que somos quanto das tendências competitivas que buscamos ultrapassar3.
Uma distinção importante de Waal é entre princípios morais e normas culturais.
Por exemplo, um dos meus primeiros choques culturais quando me mudei para os Estados Unidos foi ouvir que uma mulher havia sido presa por amamentar num shopping. Impressionou-me que isso pudesse ser visto como ofensivo. O jornal local descreveu a sua prisão em termos morais, como se tivesse a ver com decência em público. Mas, já que um comportamento materno natural não pode fazer mal a ninguém, tratou-se apenas da violação de uma norma. Por volta de dois anos de idade, crianças sabem distinguir entre um princípio moral (“não roube”) e normas culturais (“nada de pijamas na escola”). Elas passam a entender que quebrar algumas regras faz mal aos outros, mas quebrar outras regras apenas viola expectativas. Esse segundo tipo de regras é culturalmente diferenciado. Na Europa, ninguém pestaneja diante de seios nus, que podem ser vistos em qualquer praia, mas, se eu dissesse que tenho uma arma de fogo em casa, as pessoas ficariam muito perturbadas e se perguntariam o que está acontecendo comigo. Uma cultura teme mais armas de fogo do que seios, enquanto outra teme mais seios do que armas de fogo. As convenções são frequentemente cercadas de solene linguagem de moralidade, mas na realidade têm pouco a ver com ela4.
A divisão entre “nós” e “os outros” pesa imensamente no comportamento moral. Podemos encontrar muita solidariedade e até sacrifícios entre membros de uma comunidade de primatas, e comportamentos “animais”(!) da mesma intensidade nos confrontos com outras comunidades. É conhecida a reflexão de que o ser
humano só encontraria a solidariedade entre todos se o planeta fosse invadido por extraterrestes. De Waal mostra a que ponto a moralidade e a solidariedade têm raízes profundas no terror e no ódio do “outro”. Uma reflexão que nos ajuda a entender a nossa complexidade e a coexistência de sentimentos contraditórios. O bem e o mal, o racional e o irracional, aparecem como profundamente articulados.
No desenvolvimento dos direitos humanos – que devem ser aplicados até aos nossos inimigos, como pretende a Convenção de Genebra – ou ao debatermos a ética do uso de animais, aplicamos um sistema que evoluiu a partir de razões de “dentro do grupo” para outros grupos, inclusive outras espécies. As nossas melhores esperanças de sucesso estão baseadas nas emoções morais, pois a emoções são desobedientes. Em princípio, a empatia pode reverter qualquer regra sobre como tratar os outros. Quando Oskar Schindler salvava judeus dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, estava sob claras ordens da sua sociedade sobre como tratar essa gente, e no entanto os seus sentimentos interferiram […]. Ao resolver dilemas morais, nós nos apoiamos mais no que sentimos do que no que pensamos5.
Não se trata, portanto, apenas de sermos mais racionais, mas de usarmos a razão para uma sociedade mais humana. No conjunto, lendo De Waal, esse vaivém entre o comportamento humano e o de outros primatas, em particular dos bonobos, que preferem fazer amor do que guerra, é imensamente instrutivo. Temos sempre essa forte tendência para encobrir o que há de mais podre no nosso comportamento, por meio de discursos moralizantes; inclusive, como vimos, apelando erradamente para Darwin. Mas o fato é que as raízes dos comportamentos estão profundamente ligadas às nossas emoções, e aqui o paralelo com o comportamento dos primatas é muito rico. Poder soltar as nossas piores dimensões em nome de elevadas motivações éticas gera uma satisfação profunda. Sabemos fazer o bem, sabemos sentir como é gratificante, mas é tão mais fácil navegar no ódio!
MOTIVAÇÕES E JUSTIFICAÇÕES
Para entender a nossa realidade, precisamos racionalmente dimensionar o peso da irracionalidade e compreender como é possível encobrir, com justificativas racionais, comportamentos frequentemente absurdos. A barbárie sempre encontra “boas razões”. Nas palavras de Jonathan Haidt, “mentimos, trapaceamos e justificamos tão bem que passamos a acreditar honestamente que somos honestos”. Não posso deixar de lembrar, durante a fase que desembocaria no golpe de 2016, das pessoas envolvidas na bandeira brasileira manifestando-se em frente à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) na avenida Paulista. Não é falta de inteligência. Mas é muita ignorância, e uma imensa capacidade de se autoenganar6.
É difícil traduzir a expressão inglesa “self-righteousness”. Significa a profunda convicção de uma pessoa de que domina os outros da altura de sua elevada postura ética. Em geral, isso leva a comportamentos estreitamente moralistas e intolerantes. E frequentemente vemos atos violentos justificados com fins altamente morais. Não há barbárie que não se proteja com argumentos de elevada nobreza. Eles permitem soltar as rédeas do ódio, daquela sensação agradável de odiar com boas razões. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade representou um marco histórico da hipocrisia na defesa de privilégios. Vieram mais marchas e manifestações, a hipocrisia tem pernas longas. As invasões de países se dão em geral para proteger as populações indefesas; as ditaduras, para salvar a democracia; os ataques a diferentes orientações sexuais se sustentam no sentimento de superioridade de quem acha que usa os côncavos e convexos como se deve, ou como os deuses mandam.
Haidt, no seu livro The Righteous Mind – título que traduziremos aqui por “A mente moralizante”, para distinguir da pessoa meramente “moral” –, parte de um problema relativamente simples: como é que a sociedade estadunidense se divide, de maneira razoavelmente equilibrada, em democratas e republicanos, cada um acreditando piamente ocupar a esfera superior na batalha ética e considerando o adversário hipócrita, mentiroso, enfim, desprovido de qualquer sentimento de moralidade? O imoral é o outro. E, no entanto, de cada lado há pessoas inteligentes, sensíveis, por vezes brilhantes – mas profundamente divididas. Em nome da ética, o ódio impera.
O tema, evidentemente, não é novo. Um dos livros de maior influência, até hoje, nos Estados Unidos é An American Dilemma [Um dilema estadunidense], de Gunnar Myrdal, dos anos 1940, que lhe valeu o Prêmio Nobel. É uma das análises mais finas não dos Estados Unidos, mas do bom estadunidense médio, de como cabem na mesma cabeça a atitude compenetrada no serviço religioso da sua cidade, a profunda convicção da importância da liberdade e dos direitos humanos e práticas como a perseguição dos negros. O livro é muito inteligente e correto. Myrdal adverte que desautoriza qualquer uso da sua análise para um antiamericanismo barato. O objetivo dele não é defender nem atacar, é entender. Mas conclui que “o problema negro”, nos Estados Unidos, “é um problema dos brancos”. A análise, naturalmente, poderia ser estendida para muito além da mente estadunidense.
O campo de trabalho de Haidt é a disciplina chamada psicologia moral, moral psychology. Estuda justamente como se articulam, em termos psicológicos, as construções dos nossos valores, em particular os valores que podemos qualificar de políticos. Com que base real passamos a achar que o que fazemos é moralmente certo ou correto? Através de quais mecanismos o que era razão se transforma em mera racionalização de emoções subjacentes?
Existem as leis, naturalmente, mas elas definem o que é legal e, frequentemente, foram elaboradas por quem as manipula, tornando legal o que é moralmente indefensável. Os paraísos fiscais permitem às corporações pagar poucos impostos, o que não é viável para a pequena empresa. Não é ilegal estabelecer a sua sede em um paraíso fiscal, evitando pagar impostos no país onde a empresa funciona, enquanto seus empregados pagam os impostos normalmente, inclusive porque estes são deduzidos na folha de pagamento? Basta ser legal para ser ético? Snowden, ao revelar a amplitude da invasão da privacidade e o uso abusivo das tecnologias de rastreamento da NSA, cometeu um ato ilegal do ponto de vista da justiça estadunidense (ainda que com controvérsias), mas o fez, com risco pessoal, por razões éticas. Os que lutavam contra a escravidão eram presos e condenados. Nelson Mandela pagou 27 anos da sua vida por combater um regime legal, mas medieval. Os republicanos qualificam Snowden de traidor, como a máfia considera traidor quem não se solidariza com o grupo, ainda que seja para não cometer crimes. A ética pode ser muito elástica.
Há um referencial confiável, um valor absoluto? Émile Durkheim escreveu que “é moral, pode-se dizer, tudo o que é fonte de solidariedade, tudo o que força o homem a contar com outrem, a reger seus movimentos com base em outra coisa que não os impulsos do seu egoísmo”7. Em seu estudo, Haidt busca “os mecanismos que contribuem para suprimir ou regular o autointeresse e tornam as sociedades cooperativas”8. Paulo Freire, que era um homem simples, mas não simplório, resumia a questão dizendo que queria “uma sociedade menos malvada”. Com quais mecanismos psicológicos grupos sociais conseguem justificar em termos éticos o que claramente traz danos aos outros e vantagens para eles? Haidt chama isso de “raciocínio motivado” (motivated reasoning)9.
Haidt entra no coração das racionalizações. Sua visão é a de que buscamos mais parecer bons do que ser bons.
Mentimos, trapaceamos e dobramos regras éticas frequentemente quando achamos que podemos sair impunes, e então usamos o nosso raciocínio moral para gerir a nossa reputação e nos justificar para os outros. Acreditamos no nosso raciocínio a posteriori tão profundamente que terminamos moralisticamente [self-righteously] convencidos da nossa própria virtude. […] Somos tão bons nisto, que conseguimos enganar até a nós mesmos69.
Para Haidt, o raciocínio serve essencialmente para justificar o que já foi decidido por outros mecanismos intuitivos. “É o primeiro princípio: as intuições chegam em primeiro lugar, o raciocínio estratégico, em segundo. O que resulta é um raciocínio de confirmação, não de análise e compreensão: “Que chance existe de que as pessoas pensem de mente aberta, de forma exploratória, quando o autointeresse, a identidade social e fortes emoções as fazem querer ou até necessitar chegar a uma conclusão preordenada?.
Uma das maiores contribuições de Haidt é nos permitir entender um pouco melhor nosso poço de ódios e de identificações políticas, ao detalhar, baseado em pesquisas, a diversidade das motivações humanas. Ele trabalha com uma “matriz moral” de seis eixos que se encontram por trás das nossas atitudes de solidariedade ou de indignação, de aprovação ou de ódio.
O primeiro é o “cuidar” (care), que nos leva a evitar causar danos aos outros e nos faz querer reduzir sofrimentos. Está dentro de todos nós. Ao ver um cachorrinho ser maltratado, ficamos indignados, ainda que não gostemos de cachorros. É um motor poderoso, que exige, inclusive, que as pessoas que massacram ou torturam outras pessoas precisem “desumanizar” a vítima, transformá-la em objeto fictício: é um terrorista, um comunista, um marginal, um gay, uma puta, qualquer coisa que a rebaixe do status de pessoa, permitindo o tratamento desumano. O garotão de classe média que ateia fogo ao mendigo se sente, inclusive, mais “pessoa”. Está “acima”. O mendigo não é pessoa, é mendigo. “Vai trabalhar, vagabundo.”
A liberdade (liberty) constitui outro vetor de valores, com o correspondente repúdio à opressão. Naturalmente, para muitos, liberdade significa liberdade de oprimir, para isso também é preciso reduzir a dimensão humana do oprimido. Os doutores do direito canônico resolveram o dilema de defender “a liberdade de se ter e de caçar escravos” dizendo que “o negro não tem alma”. Todo valor precisa criar suas hipocrisias para ser violentado. Foi em nome da liberdade que, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, repelimos a limitação das armas de fogo pessoais, ainda que se saiba que seus donos são as primeiras vítimas. No entanto, reconhecemos, sim, a aspiração à liberdade como um valor fundamental, que orienta as nossas opções éticas.
Um terceiro vetor de valores está no que consideramos tratamento justo ou não desigual. Em inglês, o conceito utilizado, fairness, fica mais claro. Milhões de brasileiros ficam indignados, a cada fim de semana, quando o árbitro dá um cartão amarelo a um time por uma falta, mas não dá o mesmo cartão ao outro time por falta semelhante. Se o cartão foi merecido ou não é secundário, o que gera indignação é o tratamento desigual. Critério ético perfeitamente válido; e têm razão milhões de pessoas que veem como escandaloso o tratamento desigual dado pela justiça, que ostenta no seu símbolo a balança, a imparcialidade. O sentimento é muito enraizado.
Um quarto vetor é o da lealdade (loyalty), que nos faz buscar adotar os valores do nosso grupo, considerando traidor quem não os adota. Muito presente nas Forças Armadas, o esprit de corps faz com que os militares jurem, com toda a tranquilidade, que seus colegas não torturaram ou não estupraram, porque eles se sentem leais aos companheiros. Essa lealdade supera, inclusive, a consideração ética sobre o crime cometido, gerando um agradável sentimento de pertencimento heroico ao grupo. Um filme famoso com Al Pacino, Perfume de mulher, é centrado neste tema: um jovem universitário que testemunhou uma pequena bandidagem dos seus colegas recusa-se a denunciá-los, ainda que isso possa prejudicar o seu futuro universitário. O sofrimento dele permeia todo o filme, justamente, porque é um rapaz profundamente ético.
Um quinto conjunto de valores está centrado na autoridade (authority), que nos faz considerar ético o que os líderes decidem e chamar de subversivos os que se rebelam. Essa identificação a priori com a autoridade é profundamente escorregadia, em particular porque nos permite fazer qualquer coisa com a justificativa de que estávamos cumprindo ordens. Aqui, o maravilhoso livro de Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal, ajuda muito, pois nos permite entender que não se trata apenas de criminalizar quem se esconde atrás do argumento de autoridade, e sim de aprofundar o conhecimento sobre como funciona a banalização do mal e sobre o tipo de ódio que muitos têm contra quem os priva do que consideram ódio legítimo10. Voltaremos a isso mais adiante. Mas vá dizer a pessoas de direita que o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) foi preconceituoso: ficam apopléticas, estamos privando-as do gosto do seu ódio, ainda que seja impossível ver as distorções: mas vê-las exige o uso da razão, a capacidade de contestação objetiva.
Há uma experiência muito famosa que foi feita com estudantes universitários, a quem funcionários vestindo jalecos, como se fossem médicos, chamaram para dar choques elétricos em pessoas desconhecidas, com o argumento de que se tratava de uma experiência científica. A maioria dos estudantes não se fez de rogada.
O último vetor de justificativas éticas levantado por Haidt é o da santidade (sanctity), ligada a valores sagrados como tradições ou razões religiosas, que nos fazem condenar ao fogo do inferno quem acredita em outras visões de mundo73. Aqui temos um prato cheio. Um exemplo clássico é o Malleus Maleficarum, famoso manual de instruções da Inquisição, que ensinava, por exemplo, que as mulheres suspeitas de bruxaria ou de estarem possuídas deviam ser torturadas nuas, pois isso as fragilizaria, e de costas, pois as expressões de dor e de desespero causadas pela tortura, obra naturalmente do próprio demônio, podiam ser fortes a ponto de amolecer o inquisidor. Tudo em nome de Jesus, da caridade, do amor ao próximo. A mutilação genital feminina, termo que inclui os diversos tipos de lesão ou remoção (sem anestesia), parcial ou total, dos órgãos sexuais externos, como o clitóris e os grandes e pequenos lábios, atinge milhões de meninas e jovens mulheres. O que se fez, e ainda se faz, em nome de Deus ou das tradições é impressionante. Estamos no século XXI.
Ao comparar, em inúmeras entrevistas, visões de pessoas de todos os pontos do espectro político, da esquerda até os mais conservadores, Haidt constata que há uma graduação muito clara relativa a quais elementos da matriz se dá mais importância. A esquerda dá muito mais importância aos três primeiros eixos: não causar dano, não machucar, reduzir o sofrimento e assegurar o cuidado; lutar contra a opressão e pela liberdade; garantir que as regras do jogo sejam limpas, com igualdade de tratamento, a chamada justiça social. Inversamente, a direita dá mais valor aos últimos eixos, concentrando sua visão na lealdade de grupo (veja-se a Ku Klux Klan, por exemplo); na autoridade e na correspondente obediência; e no respeito a valores considerados sagrados, em boa parte no sentido religioso, em que o sagrado mistura o político e o religioso, como no Gott mit Uns [Deus conosco], adotado pelos nazistas, acompanhado do símbolo da suástica. O fato de milhões terem virado fanáticos na Alemanha, um país cujo nível educacional ou cultural não poderia ser considerado baixo, é significativo. Não se trata do nível de educação, e sim de instituições, de cultura política. A barbárie não depende de diplomas.
A conclusão interessante de Haidt, um confesso liberal, no sentido estadunidense, que corresponde ao que seria um progressista entre nós, é que a direita usa argumentos e sentimentos que calam fundo nas pessoas, pois mais fortemente ancorados nas emoções, nos sentimentos de grupo, coesão, bandeira, religiosidade, autoridade e obediência. É o que em inglês se chama gut feeling, as tripas. Eu digo que são reflexões que migram para o fígado. São mensagens que ecoam mais fortemente no emocional do que no raciocínio; em particular, são as narrativas que nos permitem dar uma aparência de legitimidade ética ao ódio. A direita estadunidense, por exemplo, sempre evocou um demônio – externo, naturalmente – para justificar tudo e qualquer coisa: Muammar Khadafi, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Fidel Castro; e, hoje, o terrorismo em geral. No Brasil, temos o ótimo exemplo da revista Veja, que vive de agitar o ódio contra demônios que explicariam todos os males. Não resolve nada, mas funciona. As perseguições a Dilma, a absurda prisão de Lula, o ódio contra o petismo são comportamentos que não necessitam reflexão. São ódios à procura de uma justificativa para se manifestar.
Explicar o drama dos que passam fome (eixo care) e as estatísticas de mortalidade infantil apela muito mais para o raciocínio e não tem o mesmo efeito mobilizador do que argumentos que atingem o fundo emocional, por exemplo, de que os imigrantes vão roubar o seu emprego. Apelar para o emocional dá à direita vantagens de um discurso simplificado, que pega mais no fígado do que na razão, como a bandeira dos marajás, de Fernando Collor, ou a vassourinha, de Jânio Quadros. O ódio à corrupção é uma arma tradicional de mobilização das massas, com a óbvia vantagem de que parece naturalmente legítimo. O problema é que combater a corrupção, o que se faz racionalmente por meio da transparência que as tecnologias hoje permitem, é muito diferente de usar o combate à corrupção para fins políticos, canalizando ódio em vez de mudar os procedimentos.
Haidt busca um mundo mais equilibrado. Não desaparecerão as motivações mais valorizadas na direita. O essencial do livro é que nos permite compreender melhor as raízes emocionais da razão, a facilidade com a qual se constroem pseudorrazões e fanatismos. Ajuda-nos, por exemplo, a entender como se constrói uma campanha contra a presença de médicos cubanos em regiões aonde os nossos médicos não querem ir, um projeto inatacável do ponto de vista humanista. Inúmeras razões são apresentadas, mal encobrindo um ódio ideológico que é a verdadeira razão. O ódio, como fenômeno de massas, é contagioso. Explicar racionalmente um projeto é muito menos contagiante.
Haidt se preocupa, em particular, com o poder que simplesmente não tem contas morais a prestar: o universo das grandes corporações.
Se o passado serve para nos iluminar, as corporações crescerão para se tornarem cada vez mais poderosas com a sua evolução, e elas mudam os sistemas legais e políticos nos países onde se instalam, para gerar um ambiente mais favorável. A única força que resta na Terra para enfrentar as maiores corporações são os governos nacionais, alguns dos quais ainda mantêm o poder de cobrar impostos, regular e dividir as corporações em segmentos menores quando se tornam demasiado poderosas11.
Vem-nos à lembrança a frase de Milton Friedman, da escola de Chicago, de que as empresas, como as paredes, não têm sentimentos morais. Ou a visão proclamada em Wall Street: “greed is good”, a ganância é boa. Parece que uma parte do universo escapa a qualquer ética. O filme O lobo de Wall Street vem naturalmente à memória. O personagem real da história deu entrevistas dizendo que o filme não exagerou em nada. Chega o denominador comum que assegura a absolvição por atacado: “todos fazem, não fizemos nada que toda Wall Street não faça”.
Aqui a dimensão é outra, pois se trata da diluição das responsabilidades nas pessoas jurídicas. Joseph Stiglitz, ex-economista-chefe do Banco Mundial, Nobel de Economia e insuspeito de esquerdismo, resumiu a questão em pronunciamento na ONU sobre direitos humanos e corporações:
Mas, infelizmente, a ação coletiva que é central nas corporações mina [undermines] a responsabilidade individual. Tem sido repetidamente notado como nenhum dos que estavam encarregados dos grandes bancos que trouxeram a economia mundial à borda da ruína foi responsabilizado [held accountable] pelos seus malfeitos [misdeeds]. Como pode ser que ninguém seja responsável? Especialmente quando houve malfeitos da magnitude dos que ocorreram nos anos recentes12?
Quando somos uma massa, em que todos fazem o mesmo, o que pode ser o linchamento de um rapaz na favela, um estupro coletivo ou massacres numa guerra? Numa gigantesca corporação, onde tudo se dilui, a ética se torna tão diluída que desaparece. Ninguém gosta de se achar pouco ético. E nossas defesas são fortes. Não posso deixar de citar o texto genial de John Stuart Mill, de 1861, sobre a sujeição das mulheres na Grã-Bretanha da época, quando eram reduzidas a palhacinhas decorativas e proibidas de qualquer participação adulta na sociedade e na construção do seu destino. Ao ver a dificuldade de penetrar na mente preconceituosa, Mill escreve:
Enquanto uma opinião está solidamente enraizada nos sentimentos [feelings], ela ganha mais do que perde estabilidade quando encontra um peso preponderante de argumentos contra si. Pois, se ela tivesse sido construída como resultado de uma argumentação, a refutação do argumento poderia abalar a solidez da convicção; mas, quando repousa apenas em sentimentos, quanto pior ela se encontra em termos de argumentos, mais persuadidos ficam os seus defensores de que o que sentem deve ter uma fundamentação mais profunda, que os argumentos não atingem; e, enquanto o sentimento persistir, estará sempre trazendo novas barreiras de argumentação para consertar qualquer brecha feita às velhas13.
O fígado é poderoso, e muitos o preferem ao cérebro. A política, em particular, navega nesses mares. A mensagem de Haidt não é de passar a mão na cabeça da esquerda ou da direita, e sim de sugerir que tentemos entender melhor como se geram os agrupamentos políticos, a identificação com determinadas bandeiras, os eventuais fanatismos e as formas primárias de divisão da sociedade entre “bons” e “maus”. O maniqueísmo é perigoso. Quando vemos que os mesmos homens podem ser autores de atos abomináveis e heroicos, o que interessa mesmo é construir instituições que permitam que se valorizem as nossas dimensões mais positivas. Nas palavras de Haidt, criar “os contextos e sistemas sociais que permitam às pessoas pensar e agir bem14.
A BANALIDADE DO MAL
A crueldade desempenha aqui um papel particularmente importante. Como pode o homem se deixar bestializar com tanta facilidade? Seria muito fácil reduzir o problema a aberrações sociais, à existência de alguns doentes mentais, sem os quais a sociedade seria decente, “normal”. Assim como é fácil reduzir o problema do nazismo ao personagem que o criou. Até quando vamos considerar como momentos de anormalidade as incessantes guerras que acompanham a história da humanidade, os massacres, os estupros e a tortura que sempre caracterizaram as relações humanas e estão hoje generalizados? Com tecnologias cada vez mais sofisticadas, pois a nossa inteligência permite avanços prodigiosos, mas com a bestialidade de sempre.
Trata-se de um tema central no pensamento de Hannah Arendt, a questão da natureza do mal. Arendt acompanhou, em Israel, como correspondente da revista The New Yorker, o julgamento de Adolf Eichmann, esperando ver o monstro nazista, a besta assassina. O que viu, e só ela viu dessa maneira, foi a banalidade do mal. Viu um burocrata preocupado em cumprir ordens, para quem as ordens substituíam a reflexão, qualquer pensamento que não fosse o de bem cumprir ordens. Pensamento técnico, descasado da ética, banalidade que tanto facilita a vida. Servilidade para com os de cima e brutalidade para com os de baixo, dois comportamentos casados num só. A análise do julgamento, publicada pela The New Yorker, causou escândalo, em particular entre a comunidade judaica, como se Arendt estivesse absolvendo o réu, desculpando a monstruosidade.
A banalidade do mal, no entanto, é central. Meu pai foi torturado durante a Segunda Guerra Mundial, no sul da França. Não era judeu. Aliás, de tanto se falar em judeus no Holocausto, tragédia cuja dimensão trágica ninguém vai negar, esquece-se que essa guerra vitimou 60 milhões de pessoas, entre as quais 6 milhões de judeus. A perseguição atingiu as esquerdas em geral, sindicalistas ou ativistas de qualquer nacionalidade, além de ciganos, homossexuais e tudo que cheirasse a algo diferente. A questão da tortura, da violência extrema contra outro ser humano, me marcou desde a infância, sem saber que eu mesmo viria a sofrê-la. Eram monstros os que torturaram o meu pai? Poderia até haver um torturador particularmente pervertido, tirando prazer do sofrimento, mas, no geral, eram homens como os outros, colocados em condições de violência generalizada, de banalização do sofrimento, dentro de um processo que abriu espaço para o pior que há em muitos de nós.
Por que é tão importante isso? Porque a monstruosidade não está na pessoa, ela está no sistema. Há sistemas que banalizam o mal latente em nós. Isso implica que as soluções realmente significativas, as que podem nos proteger do totalitarismo, do direito de um grupo a dispor da vida e do sofrimento dos outros, estão na construção de processos legais, de instituições e de uma cultura democrática que nos permitam viver em paz. O perigo e o mal maior não estão na existência de doentes mentais que gozam com o sofrimento de outros – por exemplo, skinheads que queimam um pobre dormindo na rua, gratuitamente, pela diversão – mas na violência sistêmica exercida por pessoas banais.
Entre os que me interrogaram no Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) de São Paulo, encontrei um delegado que tinha estudado no Colégio Loyola, de Belo Horizonte, onde eu também estudara, nos anos 1950. Colégio de orientação jesuíta, onde nos ensinavam “amai-vos uns aos outros”. Encontrei um homem normal, que me explicava que, arrancando mais informações, ele seria promovido, inclusive me falou sobre os graus de promoções possíveis na época. Aparentemente, ele queria progredir na vida. Um outro que conheci, violento ex-jagunço do Nordeste, claramente considerava a tortura uma coisa banal, algo com que seguramente conviveu nas fazendas desde a sua infância. Monstros? Eles praticaram coisas monstruosas, mas o monstruoso mesmo é a naturalidade com a qual a violência se pratica e a facilidade com que se organiza o apoio das instituições superiores.
Um torturador da Operação Bandeirantes (Oban) me passou uma grande pasta A-Z onde estavam cópias dos depoimentos dos meus companheiros que tinham sido torturados antes. O pedido foi simples: por não querer se dar a demasiado trabalho, ele pediu que eu visse os depoimentos dos outros e fizesse o meu confirmando as verdades, bobagens ou mentiras que estavam lá escritas. Explicou que eu escrever um depoimento repetindo tudo o que eles achavam saber deixaria satisfeitos os coronéis que ficavam lendo depoimentos no andar de cima (os coronéis evitavam sujar as mãos), pois eles veriam que tudo se confirmava, ainda que fossem histórias absurdas. Disse ainda que, se houvesse discrepâncias, eles teriam de chamar os presos que já estavam no presídio Tiradentes e voltar a interrogá-los, até que tudo batesse. Queria economizar trabalho. Não era alemão. Burocracia do sistema. Nos campos de concentração, era a IBM que fazia a gestão da triagem e a classificação dos presos, na época com máquinas de cartões perfurados. No documentário A Corporação, de 2003 – dirigido por Mark Achbar e Jennifer Abbott, com roteiro de Joel Bakan –, a IBM esclarece que apenas prestava assistência técnica.
O mal não está nos torturadores, está nos homens de mãos limpas que geram um sistema que permite que homens banais façam coisas como a tortura, numa pirâmide que vai desde aquele que suja as mãos com sangue até um Donald Rumsfeld, que dirige uma nota ao exército estadunidense no Iraque exigindo que os interrogatórios sejam harsher, ou seja, mais violentos. Hannah Arendt não estava desculpando torturadores, estava apontando a dimensão real do problema, muito mais grave. A compreensão da dimensão sistêmica das deformações não tem nada a ver com passar a mão na cabeça dos criminosos que aceitaram fazer ou que ordenaram monstruosidades. Hannah Arendt aprovou plena e declaradamente o posterior enforcamento de Eichmann. Eu estou convencido de que os que ordenaram, organizaram, administraram e praticaram a tortura devem ser julgados e condenados. Mas o fato de eu detestar torturadores não justifica eu me tornar um ignorante. O combate que eu quero combater, o que dá resultados, é batalhar por um sistema em que torturar seja inviável.
O segundo argumento poderoso do filme vem das reações histéricas dos judeus pelo fato de Arendt não considerar Eichmann um monstro. Aqui, a questão é tão grave quanto a primeira. Ela estava privando as massas do imenso prazer compensador do ódio acumulado, da imensa catarse de ver o culpado enforcado. As pessoas tinham, e têm hoje, direito a esse ódio. Não se trata de deslegitimar a reação ao sofrimento imposto. O fato é que, ao tirar do algoz a característica de monstro, Arendt estava tirando o gosto do ódio, perturbando a dimensão de equilíbrio e de contrapeso que o ódio representa para quem sofreu. O sentimento é compreensível, mas perigoso. Inclusive, amplamente utilizado na política, com os piores resultados. O ódio, conforme os objetivos, pode representar um campo fértil para quem quer manipulá-lo. E haja candidatos.
Quando exilado na Argélia, durante a ditadura militar, eu conheci Ali Zamoum, um dos importantes combatentes pela independência do país. Torturado, condenado à morte pelos franceses, foi salvo pela independência. Amigos da segurança do novo regime localizaram um torturador seu numa fazendo do interior. Levaram Ali até a fazenda, onde encontrou um idiota banal, apavorado num canto. Que iria ele fazer? Torturar um torturador? Largou-o ali para ser trancado e julgado. Decepção geral. Perguntei-lhe um dia como eles enfrentavam os distúrbios mentais das vítimas de tortura. Na opinião dele, os que se equilibravam melhor eram aqueles que, depois da independência, continuavam na luta, já não contra os franceses, mas pela reconstrução do país, pois a continuidade da luta não apagava, mas dava sentido e razão ao que tinham sofrido.
Em 1984, de Orwell, os funcionários são regularmente reunidos para uma sessão de ódio coletivo. Aparece na tela o rosto do homem a odiar, e todos se sentem fisicamente transportados e transtornados pela figura de Emmanuel Goldstein. Catarse geral. E odiar coletivamente pega. Estamos iludidos se não vemos o uso atual dos mesmos procedimentos em espetáculos midiáticos. Apelar para o animal dentro de nós funciona muito. Cobrir-se com uma bandeira até compensa, disfarça a animalidade.
O texto de Hannah Arendt apontando um mal pior, os sistemas que geram atividades monstruosas a partir de homens banais, simplesmente não foi entendido. Que homens cultos e inteligentes não consigam compreender o argumento é em si muito significativo e socialmente poderoso. Como diz Jonathan Haidt, para justificar atitudes irracionais, inventam-se argumentos racionais ou racionalizadores. No caso, Arendt seria contra os judeus, teria traído o seu povo, tinha namorado um professor que se tornou nazista. Os argumentos não faltavam, conquanto o ódio fosse preservado e, com ele, o sentimento agradável da sua legitimidade.
Esse ponto precisa ser reforçado. Em vez de detestar e combater o sistema, o que exige uma compreensão racional, é emocionalmente muito mais satisfatório equilibrar a fragilização emocional que resulta do sofrimento e concentrar toda a carga emocional no ódio personalizado. Nas reações histéricas e na deformação flagrante, por parte de gente inteligente, do que Arendt escreveu, encontramos a busca do equilíbrio emocional. “Não mexam no nosso ódio.” Os grandes grupos econômicos que abriram caminho para Adolf Hitler, como a Krupp, ou as empresas que fizeram a automação da gestão dos campos de concentração, como a IBM, agradecem.
O filme é um espelho que nos obriga a ver o presente pelo prisma do passado. Os estadunidenses sentem-se plenamente justificados em manter um amplo sistema de tortura – sempre fora do seu território, pois do contrário teriam certos incômodos jurídicos. Israel criou, através do Mossad, os centros mais sofisticados de tortura da atualidade, nos quais se pesquisam instrumentos eletrônicos que infligem uma dor que supera tudo o que se inventou até agora. Soldados estadunidenses que filmaram com seus celulares a tortura que praticavam em Abu Ghraib, no Iraque, eram jovens, moças e rapazes saudáveis, bem formados nas escolas, que até achavam divertido o que faziam. Nas entrevistas posteriores, a bem da verdade, numerosos foram os jovens que denunciaram a barbárie, e houve até aqueles que se recusaram a praticá-la. Mas foram minoria15.
O terceiro argumento do filme, central na visão de Arendt, é a desumanização do objeto de violência. Torturar um semelhante choca os valores herdados ou aprendidos. Portanto, é essencial que não se trate mais de um semelhante: uma pessoa que pensa, chora, ama, sofre. É um “judeu”, um “comunista”, um “elemento”, no jargão da polícia. Na visão da Ku Klux Klan, um “negro”. No plano internacional de hoje, o “terrorista”. Nos programas de televisão, um “marginal”. Pessoas se divertem vendo as perseguições. São seres humanos? O essencial é que deixem de ser humanos, indivíduos, pessoas, e se tornem uma categoria. Sufocaram 111 presos nas celas? Ora, eram “marginais”.
Um manuscrito abandonado de Sebastian Haffner, estudante de direito na Alemanha em 1930, foi resgatado mais recentemente por seu filho, que o publicou com o título Defying Hitler: a Memoir [Desafiando Hitler: memórias]. O livro mostra como um estudante de família simples vai aderindo ao Partido Nazista por influência dos amigos, da mídia, do contexto, repetindo com as massas as mensagens. Na resenha que fiz desse livro, em 2002, escrevi que o que deve assustar no totalitarismo, no fanatismo ideológico, não é o torturador doentio, mas como pessoas normais são puxadas para dentro de uma dinâmica social patológica, enxergando-a como um caminho normal. Na Alemanha daquela época, 50% dos médicos aderiram ao Partido Nazista. O problema não era Hitler, e sim a facilidade com a qual pessoas comuns ou até muito cultas lhe deram apoio e o seguiram, em vez de interná-lo. O próximo fanatismo político não usará bigode e bota nem gritará “Heil” como os “skinheads”. Usará terno e gravata e será multimídia. E, seguramente, procurará impor o totalitarismo, mas em nome da democracia, ou até dos direitos humanos. Conseguiremos, pessoas e comunidades realmente existentes, tais como somos, 7,5 bilhões de indivíduos de racionalidade duvidosa, resgatar o caminho do bem comum?
Há anos um aluno perguntou o que eu achava do ser humano, se era essa desgraça mesmo que vemos ou se havia esperança, se tinha sentido a visão de Rousseau do homem bom desviado por dinâmicas sociais. Vou na linha do grande jurista que foi Sobral Pinto: as instituições são fundamentais e o respeito à lei é que nos salva. Ou seja, temos de analisar em circunstâncias diferentes, em particular no quadro de instituições diversas, como os mesmos povos se comportaram como selvagens ou civilizados. Podemos contar com os países nórdicos que já foram vikings, os alemães que já foram nazistas, os belgas que já mataram milhões no Congo; e, ao mesmo tempo, com o imenso progresso que foi superar a escravidão, o feudalismo, o colonialismo. Não estou aqui falando de passado longínquo.
Batalhar o convívio civilizado se dá através da construção de sólidas regras do jogo. Elas têm de ser justas. Não podem privilegiar sistematicamente uma minoria, como o fazem as regras que hoje temos. E há um tempo para cada coisa. A luta dos americanos para se livrar da escravidão, a de tantos outros países para se livrar do colonialismo, a dos sul-americanos para se livrar das ditaduras foram não só legítimas como necessárias. As barbáries subsistem, o apartheid conviveu na África do Sul com o que há de mais moderno do ponto de vista tecnológico e sobrevive na Palestina nessa estranha mistura de modernidade técnica e de tragédia humana.
O presente desvio de raciocínio, num estudo sobre a sociedade do conhecimento e os modos de produção, para abordar as deformações coletivas humanas, faz para mim todo o sentido. A realidade é que teremos de mudar o mundo com o ser humano realmente existente. E esse ser humano é apenas parcialmente racional. E mais: os avanços tecnológicos são cumulativos, uma descoberta serve de estribo para outra. Mas o ser humano que hoje nasce vem com basicamente o mesmo DNA de Calígula ou de Galileu. A crueldade de que são capazes as crianças, o comportamento patético de tantos adolescentes ou patológico de tantos adultos mostram, a cada geração que nasce, como precisamos reconstruir uma herança cultural civilizatória, apontando para a facilidade com a qual podemos regredir para a barbárie. Nossos avanços civilizatórios são reais, mas extremamente frágeis. Sem a cultura democrática e as instituições correspondentes, assim como a luta permanente por sua implantação e defesa, o horizonte pode ser muito inseguro.
1Frans de Waal, Our Inner Ape: a Leading Primatologist Explains Why We Are Who We Are, New York: Riverhead Books, 2005, p. 169.
2Ibidem, p. 171.
3Ibidem, p. 176.
4Ibidem, p. 202.
5Ibidem, p. 224.
6Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, New York: Pantheon Books, 2012, p. 82.
7mile Durkheim, Da divisão do trabalho social, trad. Eduardo Brandão, São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 420.
8Jonathan Haidt, The Righteous Mind, op. cit., p. 270.
9Ibidem, p. 159.
10Veja a respeito o meu texto sobre o filme Hannah Arendt, dirigido por Margarethe von Trotta (2012), sobre a banalização do mal, em <http://dowbor.org/2013/08/hannah-arendt-alem-do-filme-agosto-2013-3p.html/>
11Ibidem p. 297.
12Joseph E. Stiglitz, “Joseph E. Stiglitz’s Adress to Panel on Defending Human Rights (revised)”, in: UN Forum on Business and Human Rights, Geneva, 3 dez. 2013, disponível em:<https://www8.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/sites/jstiglitz/files/2013_UN_Biz_HR.pdf>, acesso em: 9 abr. 2020.
13John Stuart Mill, The Subjection of Women, Mineola: Dover Publications, 1997, p. 1.
14Jonathan Haidt, The Righteous Mind, op. cit., p. 15Melhor do que qualquer comentário é ver o filme Fantasmas de Abu Ghraib, de 2007, dirigido por Rory Kennedy. Sobre a rede de esquadrões da morte e centros de tortura no Iraque, ver Mona Mahmood et al., “Revealed: Pentagon’s Link to Iraqi Torture Centres”, The Guardian, 6 mar. 2013, disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/06/pentagon-iraqi-torture-centres-link?INTCMP=SRCH>, acesso em: 19 abr. 2020.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


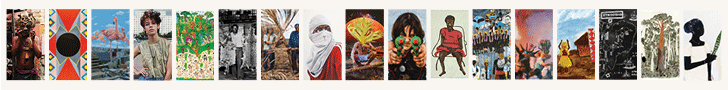
A maioria dos seres humanos, principalmente no tocante à política e à fatos sociais de alçada da sociologia , não sei ao certo se este é o termo , usam o pensamento em estreita associação ao conjunto de emoções associado ao fato vivenciado . Por exemplo , e talvez esteja extrapolando o tema, mas a crise de covid está associada a uma enormidade de fatos sombrios e obscuros desde sua origem,fatos esses por serem desconhecidos de todos , inviabilizam qualquer conclusão abrangente deste evento como um todo de acontecimentos e permita um entendimento perfeito. O evento é complexo e muitos fatos originários permanecem ocultos e desconhecidos. Porém , o medo da morte prevalece na mente coletiva ainda assim , e todo e qualquer forma de racionalização e busca de qualquer fundamento para posições que orbitam esta crise, sempre será direcionada em mente coletiva para justificar e satisfazer esta emoção dominante; o medo e morrer . E diante destas lacunas de entendimento, comumente surgem agentes com poder para se aproveitar do baixo esclarecimento para guiar as multidões ao caminho que desejam .
É por haver uma grande distância abismal entre o vocabulário em um sentido abrangente, e eu desconheço a expressão acadêmica , oriunda de algum sistema de entendimento, o todo presente de ideias , conceitos , modelos de explicação da realidade no que concerne exclusivamente a eventos de valor social , e o perfeito e devido ser de cada fato social ; não apenas isoladamente como um único evento desatado do todo, mas principalmente aderido aos entendimentos que surgem da intrínseca relação destes fatos em um conjunto do qual derivará um entendimento próprio. Os seres humanos , e creio que o texto levantou essa questão , não costumam buscar a verdade , principalmente em questões de ordem politica e social. Pelo contrário , sempre se aderem a justificativas que , mesmo justificativas repletas de lacunas lógicas, correspondam à ” visão de mundo” adquirida ao longo de suas vivências, a exercer grande relevância emocional para sua identidade, ou seja a preservar um mínimo senso de controle e direção diante de escolhas a serem feitas no agir social, ou seja , base identitária a embasar o comportamento pessoal cotidiano; enfim, a maioria não busca a verdade, mas apenas justificativas que satisfaçam seus interesses pessoais e o conjunto de emoções momentâneo, dominante e em intrínseca associação aos fatos de valor social que são objeto de análise e discussão. Para se encontrar algo próximo do que conceituamos e formulamos como uma ideia nomeada verdade, é preciso primeiro aprender a dissociar seus pensamentos e conclusões de suas emoções. As espécies mais elevadas neste universo não possuem uma mente , apesar de imaginar possuírem um elevado senso ético para regular seu pensamento; enfim , não possuem uma mente que sempre mistura o pensamento com a bio-química de seu corpo, um mero fundamento evolutivo que dá causa como elemento mais imediato de ordem meramente bio-química à ação.