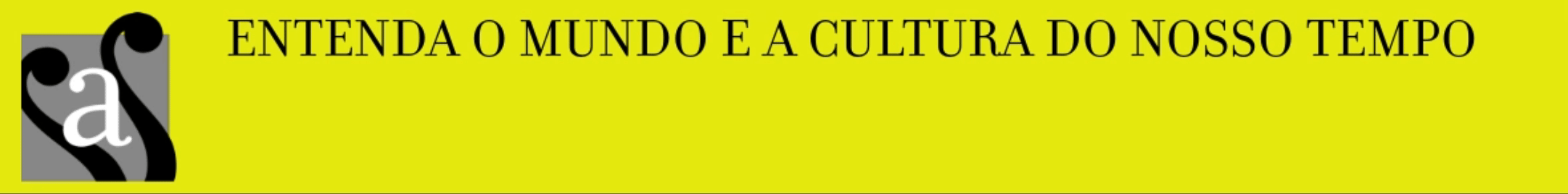Sobrevivendo no Inferno e o magma social brasileiro
Passados mais de 20 anos, o marco dos Racionais MC’s ainda abre fendas nas estruturas que tentam assimilá-lo, seja a academia ou as novas periferias. Em entrevista, especialista analisa sua estética, polifonia radical e ressonâncias históricas
Publicado 01/03/2023 às 18:55 - Atualizado 22/12/2023 às 00:23

Por Acauam Oliveira em entrevista a Pedro Cazes na BVPS

A entrevista a seguir, com Acauam Oliveira, doutor em Literatura Brasileira pela USP e professor da Universidade de Pernambuco (UPE), foi publicada originalmente na coluna “Interpretações do Brasil e musicalidades” no blog da Biblioteca Virtual do Pensamento Social (BVPS) em julho de 2019. No ano anterior, como parte das celebrações dos 20 anos do disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s, a editora Companhia das Letras lançou um livro homônimo que traz todas as letras do disco, e para o qual Acauam Oliveira escreveu a introdução. Ele tem se destacado na crítica musical e cultural, especialmente sobre a canção brasileira contemporânea e suas movimentações recentes. Nesta conversa com Pedro Cazes, ele fala sobre os significados da publicação do livro, o lugar do rap e da produção periférica no cenário nacional e sobre a estética dos Racionais MC’s, construída ao longo de mais de três décadas de carreira.
Leia outros textos da coluna BVPS no Outras Palavras.
__________
BVPS – Você escreveu a introdução de um livro cujo conteúdo é, no mínimo, incomum: as letras do disco Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC’s – um marco no rap nacional que completou 20 anos de idade com assombrosa atualidade em 2018. Levando em conta que as letras já estão disponíveis na internet, você poderia nos falar um pouco sobre as motivações e os sentidos envolvidos no projeto da publicação?
Acauam Oliveira – Além do dado mais imediato da adoção da obra como leitura/audição obrigatória do vestibular da Unicamp, acredito que o lançamento do livro possa ser lido no interior do conjunto de comemorações pelo aniversário de um dos mais importantes objetos culturais da história do país. Além do que, nos últimos anos os Racionais vêm promovendo várias comemorações por seus 30 anos de estrada – a publicação do livro se enquadraria também nesse contexto.
Para além das motivações mais imediatas, cabe lembrar um dado fundamental, que é o caráter algo inédito, ou incomum – como você coloca – dessa publicação. Salvo engano é a primeira vez que um disco é convertido integralmente em livro no Brasil (e aqui não tenho certeza, mas até o momento ninguém desmentiu essa afirmação). O que atesta tanto o reconhecimento cada vez maior por parte da “elite letrada” da importância e qualidade da cultura periférica, quanto a centralidade do trabalho dos Racionais no interior dessa tradição marginal. De uma perspectiva política também é compreensível esse movimento de aproximação entre os dois campos culturais. No caso específico da universidade, isso tem acontecido em parte porque a periferia e a população mais pobre estão (ou estavam) aos poucos ocupando esses espaços, o que tem gradualmente mudado a maneira de se enxergar e analisar as coisas. Mas mesmo nas universidades mais “brancas” e excludentes (i.e. “tradicionais”) é possível dizer que o interesse pela cultura periférica tem crescido.
Em relação ao Sobrevivendo no Inferno, me parece que seria um tanto ingênuo acreditar que a parte mais elitista da cultura universitária brasileira tem se interessado pelo disco somente por reconhecer a sua importância artística. Acredito que esse movimento tenha muito mais a ver com o fato da universidade estar sentido a corda apertar em volta do pescoço, com a emergência de um dos contextos políticos mais adversos dos últimos tempos – em vários pontos similar ao que acontecia nos anos 1990, no contexto de desenvolvimento e consolidação da cultura hip hop nacional – que afeta diretamente a educação pública. Portanto, se há um interesse crescente da academia por aquilo que a periferia tem a dizer, é porque ela está buscando desesperadamente por lições de sobrevivência.
Desse modo é compreensível que as universidades se voltem para essa produção cultural, pois foi esta que, por meio da análise minuciosa de seus efeitos sociais mais perversos, elaborou algumas das mais importantes reflexões a respeito desse contexto de desmanche da esfera pública, e que agora retorna com toda força. A periferia percebeu antes de todo mundo que o projeto político do Estado brasileiro naquele momento consistia em transformar o país em um imenso Carandiru. E além de oferecer o melhor diagnóstico da situação, essa produção cultural funcionava como um verdadeiro “manual de sobrevivência” do guerrilheiro urbano.
O que eu acho relevante nesse caso é que mais do que nunca a universidade está reconhecendo que precisa da periferia, só que agora não mais como objeto de estudo ou mão de obra barata, para cuidar do espaço de estudo do filho do patrão. A universidade – principalmente os cursos de humanas e as licenciaturas – precisa urgentemente aprender com a periferia, ouvir o que ela tem a dizer, se quiser continuar viva. Resta pensar o que a periferia ganha com isso, qual vai ser a moeda de troca, ou se essa relação vai se dar naquele velho esquema de apropriação que a gente já conhece.
Mas, para voltar a sua pergunta, creio ser interessante colocarmos a questão de uma perspectiva menos cuidadosa e mais direta, para dar logo nome aos bois. Essa publicação não se trataria, em última instância, de mero oportunismo editorial? Tal questão já foi colocada por aí algumas vezes (confesso que menos do que eu imaginava), e pode servir para indicar alguns aspectos importantes.
Em primeiro lugar, cabe dizer que a periferia – pelo menos até onde eu pude perceber – no geral tem compreendido o livro como mais uma conquista dos Racionais. Desde que o livro foi lançado eu tive a chance de participar de algumas rodas de conversas com uma galera que é envolvida com o hip hop de alguma maneira, ou que curte muito rap. E o que eu pude perceber é que dentre essas pessoas a recepção do livro tem sido muito boa. O sentimento é muito mais de orgulho por mais uma conquista da periferia do que a sensação de uma coisa desnecessária, ou redundante. Sem querer desviar a atenção para o interesse da pergunta, não seria esse o foco principal a se manter nesse caso? Compreender o livro no interior de uma narrativa de vitória dos próprios Racionais e de sua comunidade?
Por outro lado, tem um aspecto implícito nessa pergunta que considero ser bem relevante. Não tanto sobre a importância ou redundância do livro, mas sobre os efeitos mais concretos da aproximação entre diferentes classes e culturas. Porque se o Sobrevivendo no Inferno agora está presente na Unicamp, mas o público dos Racionais em grande medida ainda não, isso obviamente é um problema que levanta questões não tanto sobre a importância do livro, mas sobre a relação sempre tensa, e historicamente desigual entre academia (a “elite letrada”) e cultura da periferia. Porque se a obra passa a ser estudada, se tornando em alguma medida parte do cânone da Universidade, mas a periferia continua de fora da Unicamp, da USP ou de qualquer outra instituição acadêmica de prestígio do país, então os problemas denunciados pelo rap desde os anos 1980 continuam existindo. O que, aliás, é um movimento histórico de longa duração. Não me parece exagero dizer que aquilo que de melhor e mais interessante o país já produziu surge no interior da cultura popular, ou com ele se relaciona em alguma medida, que em troca recebe pouco, quase nada, quando não aquilo que de pior o país tem a oferecer. O resultado é, de um lado, uma produção cultural riquíssima, feita por sujeitos relegados à condição de marginalidade e que precisam lutar para sobreviver; e de outro uma universidade que produz um saber que, do ponto de vista de sua relevância social, assume muitas vezes um caráter bacharelesco e ornamental, como uma espécie de enfeite de luxo, justamente por ser produzido a partir de uma fratura social que a ela própria interessa perpetuar. E para resolver esse descompasso não adianta a universidade mudar uma vez mais seus objetos de pesquisa. A fratura precisa ser enfrentada efetivamente, por meio de mudanças estruturais concretas. Ela precisa mudar a sua cara e a sua cor, porque é só aí que ela vai ser capaz de propor uma mudança epistemológica mais real e profunda.
Seria correto dizer que só agora, após décadas de crescente sucesso comercial, o rap está ganhando maior atenção por parte da reflexão crítica “acadêmica” e por editoras e outras instâncias de legitimação cultural?
Em linhas gerais acredito ser correto dizer que o rap vem ganhando uma atenção cada vez maior por parte da crítica acadêmica, pois é cada vez mais comum se deparar com o tema em congressos, artigos, teses e dissertações. Mas eu tenderia a matizar um pouco essas colocações. Primeiro porque já tem algum tempo que o rap suscita interesse no meio acadêmico, ainda que atualmente a quantidade de trabalhos seja muito maior. E se ampliarmos o foco para as produções culturais periféricas, como a literatura e o teatro, não se pode dizer que a academia tenha ignorado o que acontecia a seu redor – o que é bem diferente de dizer que ela aprendeu a lição. Em segundo lugar, temos de reconhecer que a música popular em geral sempre ocupou um espaço secundário na academia e, ainda que essa realidade já tenha se alterado muito, ainda é notório seu espaço secundário, como apêndice nos cursos de Letras, Ciências Sociais e música erudita – as chamadas humanidades. E por fim, ainda que seja um fator relevante – sobretudo em relação a visibilidade – não podemos considerar apenas o sucesso comercial como fator de explicação para o interesse acadêmico no rap, posto que estilos com cifras de venda bem maiores – como o sertanejo universitário, ou o pagode romântico nos anos 1990 – despertam muito menos interesse (o que também não deixa de ser um equívoco, a seu modo). De qualquer forma, creio que a percepção geral é que o rap é atualmente um objeto cultural de extrema relevância, que tem produzido algumas das mais interessantes obras artísticas dos últimos anos.
A cultura hip hop costuma ser atravessada por certas tensões envolvidas na sua própria afirmação política/cultural. Tensões, por exemplo, entre um discurso mais “politizado” (na conotação mais usual) e a valorização de um estilo “gangsta” ou de elementos da criminalidade. Para não uniformizarmos demais a produção do rap nacional, seria possível indicar de que modo o estilo dos Racionais MC’s se singularizam no panorama mais amplo?
Na verdade, acredito que essa polarização entre um discurso mais “politizado” e a valorização mais, digamos, inconsequente do “gangsta”, que louva a bandidagem enquanto “estilo”, como sinônimo de postura transgressora e afrontosa, se aplica mais a certa vertente americana do rap e a algumas ramificações do funk brasileiro. Pois para o rap brasileiro dos anos 1990 (e não apenas no caso dos Racionais) a figura do bandido e do ladrão nunca foi tratada como pura metáfora (ainda que não deixe de ser isso também). O que acontece nesse caso não é bem uma polarização, mas sim a politização extrema dessa figura, que incorpora a contradição central do sistema que o rap procura estabelecer. Ou seja, a questão política central desse modelo de canção passa precisamente pela ressignificação completa da figura do bandido e do criminoso, por meio da construção real de um espaço onde esses possam contemplar novos modos de existência para além da condição de corpos descartáveis que é o lugar reservado a eles pela sociedade. Quando Brown, Sabotage e MV Bill interpretam bandidos em suas composições a ideia não é representar uma figura poderosa cheia da grana e cercada de mulheres, espécie de poder alternativo que é uma representação também do artista negro na Indústria Cultural (Djonga trabalha de maneira interessante com o bandido enquanto conceito em seu trabalho “Ladrão”, como um negro a tomar de assalto aquilo que o capitalismo branco roubou). Quando esses artistas falam do bandido, ou melhor, quando falam junto com o bandido, é o criminoso de fato que está sendo retratado, pois a ideia é elaborar um horizonte discursivo onde essa anti-voz, avesso da nação, possa efetivamente existir.
Uma das descobertas mais radicais do rap consiste na percepção de que o conjunto de problemas da periferia passa, em alguma medida, pela maneira como o Estado trata essa figura, como ela é construída enquanto “verdade” última do sistema. Creio que Sabotage é um exemplo perfeito nesse sentido: ex-gerente do tráfico, o papel que a sociedade brasileira naturalmente reservaria para ele é de reproduzir eternamente essa condição – não existe ex-bandido no Brasil quando se é pobre – que é a razão de ser de uma sociedade que resolve questões sociais por meio do encarceramento e do extermínio. A sociedade brasileira se constitui por meio do processo de transformar possíveis cidadãos em bandidos e marginais. Seres criados para a morte e para o esquecimento, homo sacer, razão de ser do sistema. Do escravo colonial ao pequeno traficante moderno, trata-se da continuidade de um mesmo projeto. É precisamente esse o lugar que o rap pretende transformar em outra coisa, possibilitando que um cara como Sabotage consiga se inserir no sistema por uma via não prevista. Ou melhor, em parte prevista, porque é ainda de música que se está falando “Crime, futebol, música, carai/ Eu também não consegui fugir disso aí/ Eu sou mais um”. Mas é não previsto na medida em que se afirma que aquele lugar, que para o sistema e para a opinião pública é o da indignidade absoluta, também é um lugar dotado de complexidade, de vida, de humanidade. Não um lugar de pureza inocência (como sustenta certo sociologismo mais tosco e paternalista, que afirma que o sujeito se torna bandido exclusivamente por ser pobre) e longe de ter o apelo sexy do Gangsta (o destino do bandido é certo e nada positivo, além de ser uma figura que geralmente leva o mal para dentro da comunidade), mas certamente um lugar dotado de dignidade e ensinamentos profundos, dentre eles, o sentido mais profundo da totalidade nacional.
Trata-se, pois, de um projeto que pensa uma mudança radical no estatuto social do bandido e que, portanto, aposta em uma transformação estrutural profunda naquela que é a base mesma de sustentação do próprio projeto de país, fundado na violência e no racismo. Eu acredito que uma das lições fundamentais que ainda podemos aprender com o Sobrevivendo no Inferno seja justamente a necessidade de se contrapor diretamente à lógica, hoje hegemônica no país, que defende que “bandido bom é bandido morto”. Na verdade, esse é o projeto do Estado brasileiro desde a colonização, mas que agora vem sendo assumido deliberadamente como bandeira e como causa. Para o rap dos anos 1990 o destino do “bandido” e daqueles que estão à margem aparece como uma espécie de imagem síntese do destino de todo jovem negro periférico, na medida em que se compreende que massacres como o do Carandiru e chacinas como a da Candelária e do Vigário Geral não foram um acidente, mas a consolidação de um projeto de Estado. Portanto oferecer alternativas reais para a vida desses sujeitos é a condição para a emancipação da periferia como um todo, uma vez que a produção do bandido preto pobre como “inumano” e, portanto, como um corpo que pode ser morto e descartado, é condição de manutenção da “normalidade” social. A radicalidade do rap consiste também em reivindicar a inclusão desse sujeito, cuja exclusão é a própria condição de existência do sistema, reconhecendo no seu dilema o destino de toda periferia enquanto avesso daquilo que se chama de “civilização brasileira”. Daí a radicalidade política desse projeto, que se coloca contra o próprio modo de organização do Estado.
Com relação à singularidade dos Racionais no interior desse cenário, que faz deles (na visão de muitos, entre os quais me encaixo) o mais importante grupo de rap do país, seria necessário um exame mais detalhado. Mas posso citar brevemente dois aspectos. Primeiro, o desenvolvimento de um modelo discursivo complexo que parte do princípio de incorporação de múltiplas vozes conflitantes a partir daquilo que Walter Garcia [i] definiu como um modelo épico de composição. Um modelo narrativo próprio que está ligado organicamente ao projeto político do rap dos anos 1990 e atinge seu ápice no disco de 2002, influenciando toda uma geração. Note-se que para a geração mais recente, ligada às batalhas de MC’s, o modelo de construção estética/social foi alterado radicalmente. Além disso, o grupo mantém até hoje uma percepção surpreendentemente aguçada de seu entorno. É comum a impressão entre os ouvintes de Racionais que o grupo está sempre a frente de seu tempo, adiantando questões que só ficarão evidentes tempos depois, e determinando caminhos. Na verdade, seria mais exato dizer que o grupo está com os dois pés fincados no seu tempo, mas absolutamente atento a tudo o que se passa a seu redor, com um grau de lucidez e contundência que impressiona. E não só musicalmente: quem já se esqueceu do discurso de mano Brown no palanque do PT [na campanha eleitoral de 2018], dando a letra exata do que iria acontecer?
Nisso consiste outra singularidade do grupo: a capacidade absolutamente extraordinária de encontrar a formulação estética precisa para questões decisivas colocadas pela comunidade periférica que, a partir dessa, ganha as consciências e se torna paradigmática. Por exemplo, a passagem do foco na denúncia da realidade oculta da periferia presente nos primeiros discos para a necessidade de se formular uma espécie de “teologia materialista” a partir de Sobrevivendo no Inferno surge da necessidade real de se pensar por formas de sobrevivência, que demandam o desenvolvimento de uma nova ética em que os negros periféricos se reconheçam em suas práticas enquanto irmãos. O ponto de partida é um problema bem concreto (o extermínio da comunidade periférica, tanto por razões externas quanto por razões internas), que exige um outro modelo de existência, a se construir, e para a qual a forma estética aponta. Produção esta que tem a extraordinária e raríssima capacidade de se tornar uma forma de vida.
Você apresenta na sua introdução do livro Sobrevivendo no Inferno uma análise do que chama de “construção do ponto de vista periférico”, deixando claro que se trata de um “resultado estético”, fruto de trabalho cumulativo, e não apenas uma expressão “automática” de um “lugar de fala”. Você poderia nos apresentar a passagem para o que chama de “postura do pastor-marginal” e como as dimensões estéticas e éticas estariam imbricadas nessa construção?
Com relação a esse ponto em particular, que é uma sacada interpretativa de um pesquisador uspiano chamado Ton Lopes [ii], a ideia é tensionar um pouco certa concepção mais simplória e imediatista do conceito de “lugar de fala”. Pois se é verdade que toda força da obra dos Racionais decorre de sua relação orgânica com a realidade periférica, é certo também que a potência de sua linguagem não decorre “naturalmente” dessa posição, sendo resultado de uma construção estética rigorosa. No fundo é a velha percepção sartriana em relação à obra de Flaubert: os Racionais só são o que são por serem da periferia, fato, mas o que explica que nem todo grupo de rap periférico possua o mesmo potencial artístico? Ou seja, a relação entre “lugar de fala” e estrutura narrativa, a qual é preciso qualificar, não se dá de modo automático.
No caso dos Racionais, a conquista da condição de porta-voz da periferia foi resultado de um lento processo de depuração estética. Em muitas das canções iniciais do grupo, o rapper assumia uma posição de superioridade que apresenta pelo menos dois elementos principais. Por um lado, ele se coloca como superior em relação a quem está do lado de fora da comunidade, por ser alguém que vive a realidade periférica e que por isso pode falar com mais propriedade sobre o que se passa ali. Por outro lado, ele também assume um tom de autoridade em relação à própria periferia, acusando os moradores de serem alienados e limitados: “Não sabe o que dizer/ Veja só você, o número de cor do seu próprio RG/ Então, príncipe dos burros, limitado/ Nesse exato momento foi coroado”. É esse tom de superioridade que pode ser identificado com certo “tom professoral”, um discurso construído de modo a assumir uma posição de autoridade frente à periferia. Ou seja, trata-se de uma voz periférica, mas cujo objetivo é mais passar uma lição do que estabelecer vínculos comunitários.
Já a partir de Raio X do Brasil o grupo irá apresentar uma mudança radical de postura. O ponto de vista particular dos rappers deixa de ser o elemento principal em muitas das canções para se tornar apenas uma das muitas perspectivas possíveis, criando um mosaico de vozes e olhares contraditórios entre si. A obra se torna essencialmente aberta, apresentando perspectivas que são confrontadas da forma mais complexa possível, por vezes assumindo um caráter francamente aporético. Não existe um ponto de vista exclusivo que determina os sentidos gerais das vozes articuladas pelo discurso, tomado como o lugar da verdade. O sentido é dado no conflito e na multiplicidade, articulando-se narrativamente de forma polifônica, de cujo conjunto emergem os dilemas de toda comunidade.
Mas será com Sobrevivendo no Inferno que essa mudança de procedimento irá encontrar seu tom mais bem acabado, quando a figura do professor autoritário dos primeiros discos cede lugar à postura do pastor-marginal. Ao contrário do professor, de olhar distanciado e senhor da verdade, o pastor-marginal acolhe e guia seus irmãos pelo vale das sombras a partir da palavra divina, construída coletivamente por toda a comunidade de irmãos. Enquanto o objetivo do professor é transmitir a sua verdade, o pastor deseja salvar a alma dos irmãos desgarrados, livrando-os das mãos do demônio, mais próximo e mais destrutivo do que se imagina. A voz do rapper é apenas a transmissora do verbo divino, cujo sentido é comunitário. Ou seja, os Racionais desenvolvem aqui uma verdadeira “teologia materialista” a partir da necessidade de fazer da periferia um espaço de resistência, via rap.
Ora, dizer que a palavra nesse caso comporta uma teologia implica em reconhecer que há uma mudança importante também em sua função. Trata-se de uma palavra de salvação que não mais se dirige ao Estado ou a qualquer outra instância externa à própria comunidade. Ela é caminho de salvação, desde que aquele que a escute compreenda e aceite os caminhos do proceder periférico. Seu objetivo maior é formar os sujeitos para a construção de uma ética comunitária que lhes permita viver a “vida loka” sem desandar, ou seja, permanecendo vivos. Isso significa que essas canções não pretendem ser interpretadas como meras narrativas, assim como um manual de guerrilha não funciona como mero entretenimento durante uma batalha, e o texto bíblico não é mera ficção para um fiel. O texto almeja partilhar uma sabedoria construída coletivamente pela periferia, integrando-a à vivência dos sujeitos. Daí que o disco apresente uma forma radicalmente aporética, cuja imagem mais bem acabada é o massacre do Carandiru, não por acaso no centro do álbum. Pode-se dizer que todo o projeto do disco se baseia na possibilidade de se criar uma comunidade por vir a partir dos destroços do massacre, completamente ciente de que as condições para sua realização ainda permanecem. Não é preciso dizer o quanto esse projeto segue atual. O resultado é um disco que, em termos estéticos, é tão bem realizado quanto os maiores clássicos da música brasileira. Contudo, em termos sociais, não encontra paralelos.
Há hoje um forte interesse na busca por novas leituras do país, valorizando intelectuais, artistas e pensadores periféricos, negros e mulheres que estavam fora do cânone das principais “interpretações do Brasil”. O rap certamente ocupa um lugar de destaque na produção cultural periférica contemporânea. Quais são os elementos centrais da visão do país que os Racionais MC’s colocam em jogo? Podemos identificar filiações políticas entre essa visão e o discurso de movimentos sociais?
Como já tratei da particularidade da linguagem dos Racionais, aproveito para tratar dessa relação entre rap, política e periferia a partir de uma perspectiva mais ampla.Nesse sentido, talvez um fenômeno interessante a se discutir seja a presença cada vez maior dos debates identitários, incorporados ao rap por figuras historicamente marginalizadas no interior do movimento.
Creio que uma das mudanças mais significativas e importantes do rap atual esteja na presença cada vez maior de mulheres e membros da comunidade LGBTQI. Ainda que desde sempre essas vozes tenham existido, é fato que sua presença tem se imposto de maneira cada vez mais contundente. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço dentro do universo do rap, e encontrando um público cada vez mais interessado, o que é resultado de muita luta. O rap sempre trouxe uma visão absolutamente complexa da realidade e do fluxo das relações sociais, mas quando se tratava da representação das mulheres recaía nos lugares comuns mais violentos e misóginos, marcado por uma pobreza de olhar que fragilizava o conjunto. Em parte isso se deve ao fato de que o rap dos anos 1990 tinha por objetivo estabelecer uma ética guerreira predominantemente masculina, em que não havia lugar para ambiguidades – o que é uma maneira de compreender o problema, e não de justificá-lo. O desejo era visto como caminho para a perdição, tentação que faria perder a batalha. Por isso as canções colocam por diversas vezes as mulheres como inimigas. Com relação aos LGBTs a coisa era talvez ainda pior: sua “presença” era mais uma antipresença, sinônimo do mal e do pecado, aquilo que os sujeitos se tornavam quando tudo o mais estava perdido: “Em troca de dinheiro e um carro bom / tem mano que rebola e usa até batom”. Sinônimo de derrota absoluta, deixar de “ser homem”, aproximar-se do feminino. Na verdade, mulheres e gays são basicamente o Outro dessa fase misógina do rap, a não ser quando seu desejo é completamente “domesticado” e não ameaçador (mulheres mães e virgens).
De todo modo a coisa tem mudado de figura nos dias de hoje, a ponto do próprio Brown afirmar que não concorda “quando o rap critica o funk, quando o outro critica o gay ou o candomblé. Neste momento me sinto minoria”, o que obviamente tem de ser lido em chave dupla, da conscientização da velha guarda para as novas pautas de luta, e para o enrijecimento conservador de certa parcela do rap atual. Inclusive a linguagem do rap feito por homens também vem se alterando significativamente por conta da presença cada vez maior das mulheres. Inicialmente, quando se começou a fazer raps com temática amorosa, houve muita polêmica. Argumentava-se que o rap não devia perder tempo com veleidades quando seu tema era violência, assassinatos, a dura vida das ruas, etc. Como falar de amor ajudaria os manos a ficarem vivos? Mas aos poucos a temática amorosa e sexual foi abrindo caminho e encontrando espaço, acredito que em grande medida por conta da presença das mulheres. Não porque falar de amor seja uma temática feminina, ou qualquer outra bobagem do tipo, mas porque é precisamente nesses raps que o homem irá refletir a respeito da sua relação com suas companheiras de uma maneira menos “armada” e misógina. Não o outro a se excluir, mas a alteridade da qual é preciso se aproximar. Ou seja, é uma forma de diálogo, de pensar a especificidade dessa relação. É claro que ainda não chegamos ao ponto do universo masculino considerar as mulheres também enquanto companheiras de batalha, mas já se avançou muito.
Ou seja, a linha hegemônica do rap continua assumindo uma perspectiva progressista e em diálogo com seu tempo, inclusive ampliando sua gama de discussões (e abandonando outras, o que se deve considerar para não pensarmos em termos simplistas de evolução ou decadência). Entretanto, surge daí uma questão a meu ver de grande interesse. Será que a perspectiva hegemônica do rap hoje coincide com a perspectiva da periferia que, segundo mano Brown, deu uma guinada à direita e elegeu Bolsonaro? Esse não é um ponto qualquer, pois toca no cerne mesmo da perspectiva que entende o rap com porta voz da periferia. Era justamente nessa coincidência de interesses, legitimada de parte a parte (rap e comunidade) e coletivamente construída, que consistia em um dos aspectos mais radicais do rap, que fez dele o projeto de música engajada mais bem-sucedido da história do país. Ou seja, a ideia do rap enquanto “porta voz da comunidade periférica” nunca foi mera figura de linguagem, um modo de dizer para se legitimar no mercado musical. Essa voz foi efetivamente construída ao longo dos anos, coletivamente, e com isso produziu um dos mais avançados sistemas de compreensão da realidade, que inclusive ajudou a transformar o próprio conceito de periferia ao longo da década de 1990 e 2000, impactando toda a cultura brasileira. Atualmente, entretanto, já não se pode dizer de maneira tão enfática que a ética do rap coincide com a da comunidade periférica de forma tão orgânica.
As implicações disso são muitas, e merecem ser debatidas com atenção, pois indicam mudanças importantes no campo da cultura e da sociedade. O que significa o fato da visão de mundo de artistas como Karol Conka ou Rico Dalassan ser mais progressista do que o olhar médio da periferia? Veja, da perspectiva do sistema estético, é bom para o rap manter sua contundência e radicalidade. Contudo, boa parte de seu poder consistia não apenas no fato dos rappers serem politizados, engajados, intelectualizados, etc., mas no poder de penetração dessas canções e ideias na coletividade periférica, que se politizava junto. O caráter coletivo dessa politização era o ponto verdadeiramente revolucionário do rap. Os rappers mais importantes do país não se colocavam como porta-vozes, como modelos, mas incorporavam as demandas da comunidade em suas canções de forma radical, para serem coletivamente pensadas. Por isso Sobrevivendo no Inferno é uma obra prima: não existe uma perspectiva determinante naquele disco, mas a representação de múltiplas vozes buscando coletivamente sobreviver. A questão nunca foi criar uma cena de rappers com uma visão de mundo complexa, radical, progressista em grande medida. Esse momento é fundamental, mas faz parte de outro, mais decisivo, que é a participação ativa da periferia na construção desses valores. Em certa medida, aquele moleque que ouvia um rap e ia procurar saber quem foi Malcolm X, quem foi Luther King, hoje corre pra descobrir o que é Megani e Hornet. Obviamente não estamos defendendo que o rap assuma posturas mais conservadoras para agradar seu público. Muito pelo contrário: o que se construiu foi tão forte e intenso que um movimento desse tipo só pode acontecer via rebaixamento. Mas esse deslocamento – em certa medida já anunciado em Negro Drama – não deixa de ser profundamente sintomático e revelador de alguns impasses que atravessam não só o rap, mas o campo progressista em geral. Se o rap se torna mais progressista que sua comunidade, cabe perguntar com quem exatamente ele está se comunicando, e quais os efeitos reais dessa representação.
Ao contrário do que ocorre com a MPB ou com o rock – onde a sensação de esgotamento ou de um eterno revival dos mesmos nomes é uma marca das últimas décadas – o rap nacional parece estar vivendo hoje o seu momento áureo em termos de mercado, visibilidade e criação artística. Esse descompasso reforça a tese de que ele está ligado à contemporaneidade de forma distinta de outros gêneros da música popular?
Em certo sentido essa sensação a qual você se refere remete à famosa entrevista do Chico Buarque (evocando Tinhorão), em que ele afirmou que o rap representava o fim da tradição da canção da qual ele era um dos representantes remanescentes. De fato, o rap rompe com essa tradição em vários sentidos. Ao invés da tradição melódico-entoativa, (forjada desde o início do século, e cujo “laboratório” privilegiado foi o samba), que pressupõe certo equilíbrio de opostos (melodia e entoação), um modelo radicalmente entoativo que afirma a irredutibilidade da voz do jovem negro da periferia, que não se presta à universalização da experiência nacional. Ao invés de um ponto de vista lírico de enunciação, calcado na crônica do cotidiano, um modelo épico que faz da multiplicidade das vozes dos 50 mil manos o seu ponto de força. Ao invés da aposta na “dialética da malandragem” e na tradição dos “encontros culturais”, a aposta na ruptura e na diferença radical entre classes e raças, entendendo a sociedade brasileira como campo de conflito radical. Além, é claro, dos inúmeros problemas colocados para modelos mais tradicionais de valoração estética da canção (pode-se dizer que DJ é músico? Uma vez que a inclinação melódica é atomizada no rap, é possível dizer que o rapper canta, da mesma forma que artistas de rock ou MPB cantam?). Diga-se de passagem, o funk é ainda mais problemático para um olhar interpretativo formado a partir dessa tradição, pois seus pressupostos estéticos são subvertidos quase que ponto a ponto.
Sem dúvidas, o sistema estético do rap – no sentido dado por Antonio Candido ao termo – é radicalmente diferente, derivando daí a impressão de que ele desenvolveu uma linguagem mais adequada aos novos tempos. Com relação ao mercado musical, por exemplo, pode-se dizer que o ambiente geral da música popular atual é de “precarização”. Espero não ser mal compreendido nesse ponto: não estou aqui mobilizando o antiquíssimo jargão conservador de decadência cultural pela imoralidade e relativismo da “esquerda cultural”, ou coisa que o valha. A produção cultural brasileira em termos de criatividade passa bem. A ideia de precarização não trata aqui de “decadência”, mas do ambiente geral de transformação do sistema musical, que sofreu um forte processo de reestruturação ao longo dos anos 2000, com mudanças fundamentais no modelo de organização da Indústria Fonográfica. Ao passo que se reforçam sistemas de desigualdades baseados em relações comerciais (monopólio absoluto do sertanejo, por exemplo), reconfiguram-se por completo noções mais ou menos estáveis como carreira, sucesso, álbum, projeto estético, etc. Como qualquer relação de trabalho contemporânea, a carreira de músico foi “flexibilizada”, o que pode ser percebido em diversas frentes: bandas com membros intercambiáveis, abandono da concepção de álbum, retorno ao single, modificação do conceito de “carreira de sucesso”, em patamares hoje bem mais modestos, condições de produção mais acessível e, ao mesmo tempo, mais precárias, etc.
Ora, todas essas transformações radicais, que caem como uma avalanche sobre as cabeças dos artistas mais antigos, parecem estar em grande medida incorporadas ao próprio histórico de constituição do rap, que em vários sentidos é um estilo forjado no interior de uma cultura de sobrevivência. A precarização das condições de existência não é um momento de crise, mas seu ponto de partida. Em termos de produção, o rap criou um sistema que sobrevive bem às margens dos grandes sistemas de produção musical, de modo que é pouco atingido pela crise da Indústria Fonográfica. É essa, ao contrário, que se volta para ele em busca desesperada por fôlego novo. O gênero também é forjado para sobreviver bem à crise da identidade nacional popular do desenvolvimentismo, ao focar em vínculos comunitários periféricos às margens do significante nacional. A MPB dos anos 1970, por exemplo, dependia organicamente de um significante nacional (mesmo que fosse para negá-lo), enquanto o rap já surge de seus escombros. Musicalmente, o rap faz uso das tecnologias de produção para injetar criatividade e potência em ambientes marcados pela precariedade – o sampler não deixa de ser um modelo de construção estética a partir dos escombros. E com relação às discussões políticas, desde o início o gênero aposta na centralidade da questão do negro no país – cujo subjugação sustentou basicamente todas as utopias nacionais até então –, afastando-se de setores da esquerda tradicional e antecipando muitas das pautas atuais das políticas identitárias.
Esse conjunto de aspectos estruturais, por sua vez, estão diretamente relacionados ao fato de que a periferia, por sua própria condição específica, foi capaz de perceber e antecipar antes de todos algumas dinâmicas que com o passar do tempo se tornariam nacionais – aquilo que Roberto Schwarz chamou, em outro contexto (a respeito da população dos países periféricos em relação aos centros do capitalismo), de privilégio epistemológico da periferia.
Por outro lado – para continuar na cola de Schwarz –, não podemos nos esquecer de que “a contemplação da perda de uma força civilizatória não deixa de ser civilizatória a seu modo”. Isso fica bastante claro nos últimos trabalhos de Chico Buarque, por exemplo, que fazem do deslocamento da forma em relação a seu tempo o ponto de partida da construção estética. Nesses discos é perceptível que existe algo que só pode ser dito a partir desse deslocamento, dessa impossibilidade de responder às demandas de seu tempo. O que se é muito pouco em relação à necessidade de sobrevivência dos sujeitos periféricos, não deixa de ser um importante objeto para o conhecimento e repositório de forças em desagregação.
Notas
[i] GARCIA, Walter. Diário de um detento: uma interpretação. In: NESTROVSKI, A. (org.) Lendo Música. São Paulo, Publifolha, 2007.
[ii] LOPES, Charleston Ricardo Simões. Racionais MC’s: do denuncismo à virada crítica. Universidade de São Paulo, 2015. Dissertação de mestrado.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.