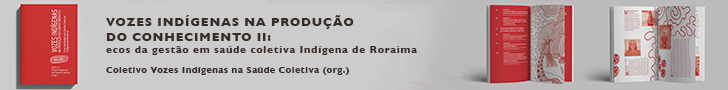Os Condenados: 15º trecho da trilogia de Oswald
“Jorge D’Alvelos não estava morrendo: estava subindo do fundo limoso de precipício onde o haviam jogado cego, perfurado de fogo líquido no coração”
Publicado 05/09/2014 às 23:37 - Atualizado 15/01/2019 às 17:38
Por Oswald de Andrade | Imagem Oswaldo Guaysamin
____
No âmbito da série “Oswald 60″, Outras Palavras publica semanalmente, em formato de folhetim, a trilogia “Os Condenados”, obra perturbadora que Oswald de Andrade escreveu entre 1922 e 1934. Acesse aqui os capítulos já publicados
____
Na sequência anterior, Jorge d’Alvelos caminha com Torresvedras pelas ruas da cidade. Surge o Corso. As moças, de cima dos carros, ignoram o convite lascivo dos maxixes. Os “Bandeirantes de Momo” vêm pelo viaduto. Na comissão de frente, o homem que aniquilara a sua existência. Aluga uma fantasia de pierrot e planeja se dirigir à Santa Casa. Desiste. No entanto, traz consigo o medalhão com o retrato de Alma e o revólver Browning. O pierrot preto sobe as escadas do Palácio das Indústrias. Lá fora, São Paulo vive os últimos instantes do carnaval. Jorge deita-se ao divã e encosta o cano do revólver ao coração. Uma luz e um baque mecânico na noite. Torresvedras acorda tarde. Um vendedor de jornais passa, gritando. Lê de repente a morte de um escultor brasileiro, de nome Jorge d’Alvelos. (Theotonio de Paiva, editor de Oswald 60)
____
O folhetim policial da gazeta paulista não dissera a verdade lancinante que foi para Carlos Bairão e Bruno de Alfenas encontrarem, ainda morno no seu pierrot de aluguel, o corpo hirto de Jorge.
Estavam na Rôtisserie em pleno jazz-band, entre luzes e taças de champagne, colombinas, casacas perfeitas, dominós, brilhantes, quando correu na sala que houvera um suicídio no Palácio das Indústrias. Quem trazia a notícia era a própria autoridade policiai que tomara conhecimento do fato. Chamado ao hotel, para verificar uma queixa de furto, entre um licor e a pressa de partir para o seu posto, agitado naquela terça-feira longa do carnaval, contara o ocorrido: não pudera levar médico nenhum ao Palácio das Indústrias, pois tanto o legista como o da assistência tinham tomado, momentos antes de ressoar o aviso de crime no telefone do gabinete, rumos diferentes e longínquos. Não fora necessário. Vendo o pierrot largado e sem pulso e da ferida gotejar o sangue quase negro, fizera recolhê-lo imediatamente ao necrotério da Central.
Saltando para a Cadillac que com eles fizera o corso, Carlos Bairão e Bruno de Alfenas – aquele num torero de seda, o tricórnio largo de veludo e o rabicho; este num dominó negro fechado de alto a baixo – fizeram voar a máquina possante pelas ruas onde os últimos populares dispersavam, e chegaram num pulo ao edifício aberto e iluminado da Secretaria da Justiça, no largo do Palácio. Homens despreocupados, fumando, enfermeiros de avental e um cabo sentado ao fundo, não lhes souberam explicar quem era o morto. A autoridade estava momentaneamente ocupada. Disseram-lhes que podiam ir ao necrotério entrando pelo portão de ambulâncias à esquerda.
As duas fantasias correram, procuraram o caminho, enveredaram por ele. Era um corredor de pedra, descendo para o fundo, entre paredes alvas. Desembocaram num começo de patamar aberto para a madrugada.
Havia neblina nos focos de luz. Uma escada desaparecia à direita, estreita, longa, intérmina; e lá embaixo, no escuro, o Braz panorâmico faiscava. Eles foram devorando os degraus, Bruno levantava nas mãos crispadas o dominó embaraçante. Carlos Bairão procurou inutilmente no escuro vago da Várzea a massa informe do Palácio das Indústrias. Desceram um novo trecho da escada, maior que o primeiro – e acharam-se numa entrada aberta de estrebaria. Investiram procurando. Um soldado moreno em mangas de camisa, entre dois cavalos suados, gritou com eles. Explicaram-se. O homem indicou-lhes, ao fundo, uma espécie de garagem baixa, fechada por um portão. Foram indo. Havia sentinelas de pé. Num cubículo que tinha ogivas verdes escancaradas divisaram, sobre uma mesa de mármore, um caixão aberto de zinco.
E dentro, num negror de sedas, o suicida tinha a cabeça caída para trás, os olhos semi-abertos, a boca muda.
Haviam-lhe arrancado violentamente um punho de rendas. A fantasia estava rasgada ao peito, a camisa também: e, sobre a carne nua e alva, devassavam-se-lhe pelos fortes e escuros.
Carlos imobilizara-se, aterrado, chorando baixo, Bruno de Alfenas, lento, respeitoso, no dominó negro, aproximou-se. Retirou uma pasta de algodão do lado esquerdo: estava ligeiramente ensangüentada; curvou-se, limpou o lugar ferido e descobriu no mamilo o ponto avermelhado e mole da penetração da bala. Recolocara o algodão e agora espalmava a mão sobre o peito.
– Está morno…
E num súbito horror contente, gritou:
– O coração não foi tocado! Bate! Ainda está vivo, vejam!
Dois soldados aproximaram-se espiando. Carlos perguntou ao outro se não era uma ilusão. A grande figura de Bruno de Alfenas perscrutava, afirmava de novo, perscrutava ainda.
– Vamos ver se o salvamos! – disse Carlos.
Pediram aos guardas que tivessem cuidado com o ferido.
Iriam lá em cima, falar ao delegado. A autoridade, surpresa, não opôs dúvida ao desejo que eles manifestaram de transportá-lo para uma Casa de Saúde. Deu ordens rápidas.
Um quarto de hora depois, uma grande ambulância deixava o necrotério. O sangue começara a verter de novo. Dois enfermeiros mantinham na maca o corpo sempre morno.
E um outro automóvel, galhardo, possante, com laços de serpentinas nas rodas, confetes nos bancos, restos gritantes da festa que celebrara, seguiu atrás, levando as duas fantasias.
Passaram a cidade, subiram a Avenida Luís Antônio. A sereia da ambulância chorava como se fosse a própria mãe de Jorge. E ao fundo do assento fofo, Carlos Bairão pensava que abafaria de flores o túmulo do amigo.
*-*-*-*-*
Na alvorada hospitalar, os dois cirurgiões mascararam-se de gaze, ficando apenas com os olhos descobertos. E moveram-se nos grandes camisões. Ele fora desnudado como para uma lição de anatomia. Havia em torno irmãs de branco e enfermeiros prestimosos.
As vozes dos médicos saíam soturnas através das máscaras. Dobravam-se sobre ele, sugeriam, discutiam.
E o zunzum das vozes continuou, lento às vezes, às vezes rápido, com silêncios profundos. Os ferros brilhantes, que eles recolocavam sobre a mesa esterilizada de vidro, continham manchas de sangue.
Tinham descoberto a baia. Costuravam agora. A irmã que sustinha a pobre cabeça branca de cabelos ondeados, chorava.
Os médicos foram lavar-se. Depois voltaram a vê-lo em silêncio, um silêncio que não dizia nada.
*-*-*-*-*
Encostado ao patamar da escada interna, o velho falava na manhã de hospital.
Era um brasileiro de imensa estatura, enrugado nos recortes do rosto, grisalho nos cabelos em franja desigual e nos bigodes em ponta; hercúleo e quixotesco.
Chupava um cigarro de palha, numa roupa surrada e antiga.
E Carlos Bairão notava os seus olhos agudos, alerta, as suas posições instintivas de guarda.
– Uma vez éramos crianças, o primo João de Deus e eu, dormíamos no mesmo quarto, na fazenda e um escravo quis nos matar. Nós dois avançamos para o negro. Ele era valente, nos deu trinta e duas facadas. Pegou uma numa mulata que quis agarrar o primo pelas costas. Seguramos o bicho. Eu me cortei aqui na mão…
Irmãs passavam, levando remédios, xícaras, seringas de injeção; enfermeiras corriam, médicos entravam e saíam dos quartos.
Carlos Bairão desde a véspera, quando viera saber o resultado da extração da bala, notara aquele tipo só, andando pausado e ereto pelos corredores. Tinha-o visto sair de um quarto de dois leitos, onde um rostinho de doente o interessara. E agora disposto a esperar a vinda do médico, pusera-se a conversar com ele.
A doente do quarto 21 que sorria um sorriso de vinte anos da sua cama alva e larga, tinha a acompanhá-la uma senhora baixa, de roupas de inverno europeu. E o velho rodava, entrando, saindo. Era quase uma sobrinha sua, a filha única do primo João de Deus, que morrera do peito.
– Que foi isso na mão? – perguntou o rapaz desencostando-se.
– Foi ar. Des’que apanhei isso, não pude mais dar dos meus tapas de mão fechada.
E num esforço longo tentou mover os dedos parados.
– Mesmo assim ainda brigo e não tenho medo de assombração. É só água benta e boa faca; e vou onde quiserem…
Carlos Bairão via passar nos seus olhos firmes, na sua tranqüilidade provada em meio século de dias inéditos e bruscos, a tragédia vitoriosa de seu povo.
*-*-*-*-*
Os peões bronzeados continuavam lá longe, sob o céu em folha, a avançada perigosa das bandeiras, agatanhando e subindo os limites fugidios da terra descoberta, que se ia entregando farta, compensadora, fiel à vinda profética das caravelas.
Raça, mais que raça, expedição secular com martirológio, calendário, santos, cidades e catedrais no solo vencido: monção transcontinental sem roteiro, transladação imperceptível e lenta de sonhadores de todos os climas, de malditos e heróis, de trânsfugas e reabilitados, de missionários e criminosos – caminhada lírica de quatrocentos anos.
Aos primeiros movimentos que nos portos da Península retesara panos e cordagens, trazendo, pelo mar, argonautas, degredados e padres, havia sucedido outro, mais possante e mais largo no surto das frotas comerciais do último século.
Nova gente havia deixado as costas áridas da Albânia, os portos buliçosos da Itália, as ruelas imundas de Salônica e de Marselha, as manhãs escaldantes da Sicília ou a enregeladas tardes noturnas da Suécia… E tinha vindo no mesmo espírito de cruzada egoística, sem gritos expansivos de guerra ou bandeiras erguidas, apenas ao batuque invisível e teimoso da própria vontade de vitória.
*-*-*-*-*
Ao fundo, no largo corredor da Casa de Saúde, assomou a figura magra e ligeira do Dr. Bráulio Costa. A senhora de roupas europeias que deixara com o velho a filha risonha dirigiu-se até ele. E perguntou-lhe:
– Doutor, é o senhor que trata do doente do quarto 11?
– Sou, minha senhora.
– Ele morre?
– Não se pode dizer nada ainda.
Ela despediu-se, forçando um agradecimento, entre lágrimas súbitas, irreprimíveis, pequeninas.
Carlos Bairão saíra depois de conversar com o médico, na volta do quarto. Não quisera ver o operado: impressionava-se demais. Jorge continuava com a respiração comatosa, ascendente e descendente. O Dr. Bráulio não garantia nada…
No portão do jardim exterior do Instituto, o moço cruzou com um automóvel de praça, onde vinha um senhor gordo, de grandes olhos e barba grisalha. Saiu para a Avenida. Doía-lhe perder o amigo: doía-lhe na alma que o artista maravilhoso, indiscutível que era Jorge d’Alvelos, fosse sacrificado assim a uma horrorosa tragédia, ignorado pela cidade para cuja glória se tinha feito nos anos laboriosos da Europa.
O senhor gordo, de olhos grandes e barba grisalha pagou lentamente o táxi, empurrou com receio a porta de vidro fosco e ficou olhando, descoberto e tímido, para o interior do hospital.
Campainhas retiniam no quadro de chamada, suspenso à parede; criadas lépidas chegavam, liam o número afixado, faziam-no recolher com um soco e voavam pelos corredores. O homem observava sem dizer nada, esperando que o interpelassem. Uma freira esguia passou, trazia uma toalha na mão. O visitante cumprimentou-a respeitosamente. Ela não o viu e desapareceu por outra porta.
Vozes ressoavam pelos corredores, eram médicos altos e rapados, em longos aventais. Vinham conversando.
O homem hesitou, quis segui-los, deu passos à-toa. Um moço vinha saindo de um quarto entreaberto e fixava-o.
Ele cumprimentou-o e disse:
– Eu desejava ter notícias de um doente, meu sobrinho, Jorge d’Alvelos, escultor.
– Não conheço… Estou em visita também…
A freira voltava, trazendo um irrigador metálico.
– Irmã — disse o rapaz. – Este senhor quer ver um doente.
A freira levou o tio de Jorge a uma sala que dava diretamente para a entrada. A uma mesa alta, de pé, sobre um livro de assentamentos, um homem de cavanhaque ralo e olhos atentos, escrevia. Entenderam-se.
– Jorge d’Alvelos… quando entrou?
– Não sei… Li nos jornais e recebi este cartão.
A irmã desaparecera sutilmente. O homem tirava do bolso interno do casaco um maço de papéis dobrados. Colocou-os respeitosamente sobre a mesa e começou a procurar.
– Não sei se encontro. Trouxe tanta encomenda, tanto negócio!
Encontrara entre folhas soltas um envelope armoriado, com restos de lacre, abriu-o e entregou ao outro um cartão em que Carlos Bairão lhe dava delicadamente o endereço da Casa de Saúde para onde transportara o amigo.
– Jorge d’Alvelos… – dizia o homenzinho, enfiando um lápis na barba a se lembrar. – Ah sei, o do tiro!
– Sim – fez o parente subitamente incomodado, movendo-se sobre as pernas grossas e procurando logo sair pelo corredor. Um caso estranho na nossa família, só houve no passado, um caso idêntico.
Iam andando. O empregado escutava-o com a mesma afabilidade indiferente do começo.
– Só um. Foi num naufrágio. Era tio-avô dele. Chamava-se Jorge também, o mesmo nome. Mas esse era comandante de navio. Naufragou. Salvou a tripulação e não quis sobreviver. Mas foi num naufrágio.
O empregado desembaraçava-se, ia saber do médico se podia conduzi-lo. O tio do escultor esperou. Nos seus gestos precavidos, nos seus modos lentos e cautelosos, notava-se uma longa ausência de cidade grande. Desabituado ao ladrilho, às salas enceradas, ele olhava tudo contemplativamente.
O outro voltava, ligeiro, com o lápis na mão.
– O médico está vendo uma doente. O senhor faz o favor de esperar.
– Meu sobrinho está muito mal?
– O ferimento é grave…
O empregado aboletou-se, tomou apontamentos a lápis. E um silêncio de minutos engrandeceu o tique-taque do relógio negro da parede.
– Quase dez horas… Diga-me uma coisa, o senhor conhece bem São Paulo. Eu não venho cá há mais de oito anos, está tudo mudado, onde é a Casa Alemã?
– Na Rua Direita.
– O bonde que se toma é o da Avenida mesmo?
– É. Faz linha circular.
Vendo o homem olhá-lo, com a mão perdida na barbicha do queixo, Antero d’Alvelos, expandiu-se:
– Trouxe uma porção de encomendas, imagine que não quis dizer nada à minha mulher nem a ninguém. Escondi na burra os jornais que traziam a notícia da desgraça. E pretextei uma viagem de negócios. Quem sabe se posso levá-lo para lá?
– Oh! Ele não pode sair. Foi operado há quatro dias, não?
– Tiraram a bala?
– Sim. O Dr. Bráulio é uma celebridade.
– Como está tudo em progresso. São Paulo que eu conheci era bem outro. Hoje só se encontram bicicletas mecânicas, estrangeiros e andaimes.
Ouviram-se passadas ligeiras no corredor. A figura esperta do médico apareceu no avental branco. O empregado apresentou-os. Falaram de Jorge.
– É seu sobrinho? Vamos ver se o salvamos. Pode vir ao quarto comigo.
E no corredor claro, o médico caminhou ao lado do homem gordo que ia fixando mais os grandes olhos por tudo. Fê-lo passar.
A abertura da porta jogara um pouco de luz para dentro. Depois, restabeleceu-se a sombra.
Antero d’Alvelos, nervoso, interessado, queria inutilmente distinguir alguma coisa no leito.
E viu afinal, entre alvuras de lençóis, uma face pálida, pálida e astênica e duas mãos lívidas, inertes.
Conhecera Jorginho pequeno, de cabelos cacheados. O doutor esperava. Como ele se demorasse muito, tocou-lhe o braço, fez-lhe compreender que era preciso sair.
*-*-*-*-*
O caldeireiro chamara num brado o seu bando de assalto. Jorge quis atirar-se do leito, com os olhos côncavos, horríveis. E a colher inflexível verteu-lhe zinco ardente pelas entranhas do peito. A lava derretida ia engrossando, formando uma bola azul que lhe soldava os veios do tronco e dos braços.
E um urro humano, igual, regular, obcecado, dentre o amontoado dos enfermeiros acorridos, levantou-se pelo hospital, pôs latidos na acústica dos corredores, fez os visitantes taparem os ouvidos, os enfermos pedirem que fechassem as portas…
Uma criada roliça, de touca, passava correndo. O velho alto e hercúleo chamou-a. Ela tinha lágrimas nos olhos.
– Que é isso?
– É o doente do 11 que está morrendo.
*-*-*-*-*
Jorge d’Alvelos não estava morrendo: estava subindo do fundo limoso e febrento de um precipício onde o haviam jogado cego, perfurado de fogo líquido no coração, às cabeçadas, tonto, perdido, lamentável.
As veias internas do peito ingurgitavam-se da lava úmida e viva. E o hospital inteiro urrava.
*-*-*-*-*
Passaram-se sete dias e sete noites.
Enrolado em pensos, o operado tinha os olhos vagos, a face imóvel e branca e os lábios mecânicos falando.
– Água, formador!
E a obsessão partia-se numa clareira de ouro, que vinha, que vinha, que andava. A sua pobre cabeça queria apreender aquilo e trabalhava, trabalhava. Ficava com os braços trêmulos do esforço. Tinha compreendido: era uma música – que música linda!
A música cascateava. E dos penhascos da serra de Santos, rolava numa corda imensa e branca, a água a acender-lhe fogos azuis na garganta.
– Olha a água batendo na pedra, formador!
Desfalecia numa velha modorra. E a música acordava-o de novo. Na face imóvel e alva, os lábios dissociados contavam: eram cem violinos e os cinco mil sinos de Roma.
Os sinos paravam e rolavam e dos violinos, no ouro de um ocaso de África, subiam formas longas, monstros espirituais, estátuas lívidas…
– Que belo! Que belo!
De novo, batia nas pedras da serra de Santos, a fita torturante de água fresca.
Pelas aberturas douradas dos olhos, entravam-lhe em nuvens de persuasão e de silêncio, ondas de ouro, onde pinoteavam lentamente animais estranhos como montanhas áridas.
Ficava a ver.
Numa sala imensa, ao fundo, concertavam num piano, impecáveis, dois velhos amigos seus.
– Que bonito!
Era um arabesco só, um arabesco envolvente, que crescia em espasmos. E a água passava nas escalas, rolava em cascatas pelo piano, inundava tudo num jorro de cristal líquido e sonoro.
Tinha a garganta ferida, seca, torrada; e abria os olhos para defender-se.
Caía de novo com ouro nas frestas das órbitas cansadas. Em um imenso écran de cinema, escreviam e apagavam em letras cruas: Arte e Delinquência.
E o velário desaparecera. Era uma descomunal planície, onde esfinges douradas e longas paravam com olhos vazados e expressivos. Eram harpias enroladas no fundo, onde despencava do alto, tenuemente, uma poeira de asas minúsculas e egípcias, de ouro. A chuva de ouro crescia, entupia-lhe a garganta, onde placas jorravam, abertas e ardidas.
E uma mulher andava pelo quarto, abatido de penumbra. A mulher ia e vinha; tinha-se despido e viva como uma estátua, dos seios em pêra, dos olhos claros, fizera-se dia de novo, dia azul, num quarto azul, de paredes infinitas. A mulher tinha as formas de bronze, com os cabelos ouro-vermelhos de Alma.
Ele viu faiscarem suas unhas cor-de-água, e ela crescer no azul, extingui-lo em jogos ágeis, gigantescos e terríveis.
*-*-*-*-*
No fim da segunda semana, o músico Torresvedras que viera todas as tardes, obstinado e mudo, foi admitido afinal a vê-lo. Penetrou na penumbra do quarto.
Um homem de barba crescida e nariz afilado de morto tinha a cabeça enterrada para o lado nos travesseiros do grande leito.
A irmã que o conduzira aproximou-se do doente, curvou-se sobre ele, arranjou uma dobra do lençol e disse:
– É um seu amigo que tem vindo sempre…
Jorge d’Alvelos continuava imóvel. Havia sobre o leito almofadas coloridas, festivas, trazidas do atelier e do quarto.
E Torresvedras sentiu a necessidade de falar, de expandir-se, de dizer o que lhe ia por dentro. Achegou-se. Um soluço grosso ficara-lhe na garganta. Encostara-se ao leito e perguntou:
– Como foi, meu amigo…
Sem voltar a cabeça, o doente murmurou numa espaçada algaravia lamentosa:
– Arran… caram… o co… ração…
*-*-*-*-*
Voltara a mulher de unhas cor-de-água. Jorge apenas não via que ela tinha um casaco grosso de lã, europeu, e chorava.
Era a mãe da artista de Roma que, sem pressentir a catástrofe de Jorge d’Alvelos, esperava sorrindo a sua volta do Rio no leito branco do quarto 21. Haviam-lhe dito aquilo e ela acreditava.
Quatro dias depois do desembarque em Santos, fora acometida de febre violenta e resolvera passar os dias do Carnaval num Sanatório. Havia feito uma travessia acabrunhada e dolorosa. Quatro meses atrás, esmagando as cores na palheta, no seu atelier de Via Margutta, sentira um súbito mau gosto na boca. Fora a primeira hemoptise. Uma pleuro-congestão declarara-se pela segunda vez. E depois disso, Mary Beatriz desfalecia lentamente.
Os médicos haviam-lhe aconselhado a Suíça, qualquer vilazinha de chalés, na Jungfrau, ou mesmo embaixo, Vevey, sobre o lago.
Era preciso deixar Roma. Como estivesse terminado o pensionato do governo de São Paulo, ela convencera a mãe angustiada de que deviam voltar ao Brasil. Faria uma exposição e se fosse preciso iria tratar-se nos Campos do Jordão.
Não avisara Jorge, num desejo infantil de surpreendê-lo na grande blusa de linho, na sacra paz do atelier que havia de ter, sob o céu caliginoso de São Paulo, quem sabe se na terminação gloriosa de um relevo para o Monumento do Ipiranga.
E na quarta-feira de cinzas, pela madrugada, sua mãe, que não pudera dormir por causa dos gritos da urêmica do quarto 7 e saíra à busca de caldo, voltara pálida, aterrada, sem o alimento da enferma. Tinha assistido lá fora, à entrada do corpo em sangue de um suicida.
A doente adormecera entre os fartos cabelos, à luz do abat-jour inteiriço. A senhora saiu de novo, voltou. E nunca mais deixou de acompanhar, como se fosse um filho que lhe negassem, o operado do quarto 11.
Abrira-se dias depois com Carlos Bairão que imediatamente viera visitar a artista no seu leito e dizer-lhe que recebera do Rio uma carta em que Jorge d’Alvelos lhe pedia para informá-lo se era verdadeira a notícia da imprevista chegada de Roma. Fora à residência de seus primos à Rua Aurora, e lá lhe haviam dado o endereço do hospital.
Sorrindo mais ainda, a tísica pediu-lhe que não dissesse nada a Jorge de sua doença. Viera para ali apenas repousar da travessia. E os médicos a haviam proibido de sair. Pediu-lhe que fizesse tudo para que o escultor regressasse depressa. Não tinha ninguém para conversar – só a mamãe. O velho tio regressara ao interior, os primos eram ocupados.
Carlos Bairão que confiava já na ressurreição de Jorge, viu, naquele encontro inesperado, um estímulo sobre-humano para a vida do amigo e prometeu trazê-lo na próxima semana.
Nessa manhã, haviam carregado dificultosamente o doente do quarto 11 para uma cadeira de rodas.
E ele ficara ali, animalizado, barbudo, indiferente, com o tronco enrolado e enorme.
O médico proibira à mãe de Mary Beatriz de vir vê-lo, pois ele podia reconhecê-la e ter um trauma fatal.
Mas Jorge d’Alvelos não reconhecia senão a dor que lhe rondava implacavelmente pelas galerias do corpo.
*-*-*-*-*
Deitada no grande leito da sua esperança, ela pensava nas tintas com que refaria a vida…
E como não melhorasse, sua mãe e Carlos Bairão angustiados, procuravam obter do Dr. Bráulio, sempre ligeiro e atento, a possibilidade de fazê-los se verem.
O médico de Mary Beatriz era o Dr. Carlos Pinheiro. Tinha a velha cara cheia de sulcos e bossas que lhe davam um aspecto de seriedade monstruosa. Manifestara-se de opinião contrária ao encontro. A tuberculose afinava a sensibilidade, a sua marcha dependia muitas vezes da afetação dos centros sensíveis. Ela devia partir quanto antes para os Campos do Jordão. Mas a doente, apesar da tosse que lhe rachava o peito, recalcitrou – não sairia dali sem rever Jorge.
Disseram-lhe que o escultor estava doente, de um ferimento enorme que recebera no atelier, quando evitava o desabamento de uma estátua.
Ela chorou, pensando que ele se recusasse a vir vê-la.
Carlos Bairão anunciava-se todas as manhãs, pela enfermeira roliça e risonha, mandava-lhe flores. E foi preciso a intervenção mazorra e honesta de Torresvedras, para diminuir a aflição da doente. Ela acreditou afinal e agora, à noite, esquecia de rezar por si à Madonna Del Giglio, para pedir à boa senhora que curasse depressa o seu amor.
Porque vendo-se mal, o sentimento definitivo de sua vida de mulher, viera-lhe numa súbita invasão, por todos os poros da alma e do corpo. Ao aproximar-se das costas brasileiras, caída na sua chaise-longue, a contemplar, nas tardes vazias, nuvens sobre o mar, ela vira partirem, uma a uma, todas as antigas restrições, as antigas reservas. Amava o seu amor, amava o seu amor! Num envolvente perdão, bendizia a existência toda dele, dia a dia, os seus sofrimentos, as suas loucuras, as suas orgulhosas revoltas. E doía-lhe deliciadamente o coração tísico. Ia encontrá-lo, e partir com ele num grande carro, por estradas e caminhos, com a felicidade por guia. Era uma exasperação mórbida, que lhe alargava as grandes pupilas sérias e fazia-a arranhar muito tempo, com as unhas bem tratadas, os lençóis do leito.
*-*-*-*-*
Mas o abalo físico de Jorge d’Alvelos parecia ter sido mortal.
O ressuscitado permanecia de tronco colossal e duro na grande cadeira, junto à janela, agora aberta para o céu e para as árvores de um parque. Vivia numa indiferença humilhada de animal que escorcharam. Vinham fazer-lhe o penso demorado e doloroso, uma vez ao dia. E como fosse exigido o máximo repouso, deixavam que dormisse ali mesmo.
Certa manhã, trouxeram-lhe uma visita, o velho capelão da Santa Casa, que Carlos Bairão tivera o expediente de ir buscar.
E o enfermo ao vê-lo entrar, pensou em beijar-lhe as mãos. Tinha um sorriso inédito no rosto. Murmurava palavras de confusa gratidão; quis mover-se da cadeira, mas não pôde firmar o corpo imprestável. Um instante, a boca torturou-se, entristecendo a máscara inteira recoberta de barba.
Mas sorria de novo, preso ao sacerdote que abrira com os braços erguidos as portas do céu para Alma. A mística aparição crescia aos olhos do doente. Deus mandara também a ele o desobstruidor de paraísos.
*-*-*-*-*
Na sua cadeira, com o peito enfaixado depois do curativo, ele viu a irmã de caridade arrumar roupas e objetos. Chamou-a com a voz humilde.
– Irmã… eu não morro mais?
– Não. Deus o salvou.
– Que livro é esse?
– O livro das enfermeiras…
– Empresta-me?
A irmã veio sorrindo trazê-lo. Era um volume de orações e conselhos práticos.
Ficou lendo, a freira saíra. Caiu-lhe ao colo, de dentro das páginas, uma imagem. Tomou-a nas mãos: era Maria de Magdala, em litografia, com frisos de ouro. Havia qualquer coisa escrito no verso. Jorge voltou o santinho e leu, numa letra caligráfica: “Sob o peso da desgraça, a alma que não chama por Deus é muda”.
(Continua na próxima semana)
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras