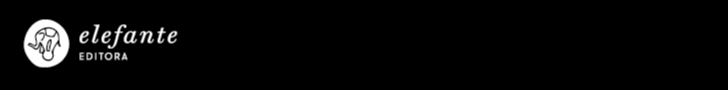Grande Sertão e as veredas da revolta
Filme é corajoso ao “transplantar” as veredas da história de Riobaldo e Diadorim para uma favela distópico-futurista, onde jagunços são milicianos. Porém, parte da poesia roseana se perde numa linguagem de “tiro, porrada e bomba”
Publicado 13/06/2024 às 15:51 - Atualizado 13/06/2024 às 15:58

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do IMS
Toda transposição cinematográfica de uma obra literária canônica corre o risco de despertar controvérsias, frustrações e, eventualmente, fúrias. No caso de Grande sertão, versão de Guel Arraes para a obra-prima de Guimarães Rosa, o perigo se multiplica dadas as liberdades e ousadias assumidas pelos realizadores (incluo aqui o corroteirista Jorge Furtado).
O grande e saudável atrevimento da produção foi transpor a trama e os personagens do livro para uma favela distópico-futurista que apenas exacerba características já presentes em comunidades cariocas atuais. Já as primeiras imagens nos inserem em um universo cinematográfico autônomo, uma geografia física e humana singular, graças a uma cenografia espetacular, amparada obviamente por recursos de computador.
Mas a ambição do filme não para aí. Referências a Tiradentes e a Canudos, feitas pelo então professor de colégio Riobaldo (Caio Blat), sugerem toda uma linha interpretativa da história brasileira como um confronto reiterado de opressores e oprimidos, ordem e crime (ou rebelião, dependendo do ponto de vista de quem narra).
Jagunços e milicianos
Nessa leitura, milicianos e membros de facções das favelas atuais e futuras são como que avatares dos antigos jagunços do sertão. É entre eles que o pacato Riobaldo vai se meter por amor a Diadorim (Luisa Arraes), valente figura andrógina que pertence ao bando de Joca Ramiro (Rodrigo Lombardi). Tudo isso mantendo, tanto quanto possível, a prosódia e a dicção poética do texto de Guimarães Rosa.
O problema dessa grande operação de risco, a meu ver, não está em sua ambição e em sua irreverência diante da obra original. Ao contrário: esse é seu mérito maior, seu modo de buscar o que há de vivo nesse magma literário e renová-lo para um novo tempo, um novo público.
Ocorre que, no afã de atualização, talvez o diretor tenha forçado a mão ao assumir uma linguagem de filme juvenil de ação ininterrupta (tiro, porrada e bomba) com música enfática, ruídos ensurdecedores, visual expressionista, montagem frenética e diálogos gritados – um clímax atrás do outro, sem nuance, sem silêncio e sem respiro entre eles. Nessa estridência toda, perde-se boa parte da riqueza dos diálogos e corre-se o risco de submergir o espectador numa profusão de estímulos sensoriais que tem o efeito paradoxal de anestesiá-lo e impedi-lo de pensar e mesmo de se emocionar.
Nada disso tira o interesse, a força e a coragem da iniciativa. Os tesouros da literatura estão aí para ser saqueados, debatidos, transmutados, reavivados. Não há por que abordá-los com timidez ou excesso de reverência. “Clássico é um livro que não cessou de dizer o que tinha a dizer”, escreveu Italo Calvino. Grande sertão: veredas continua dizendo, nas mais variadas vozes. Vem aí, por exemplo, outra versão cinematográfica, O diabo na rua no meio do redemunho, de Bia Lessa, com o mesmo Caio Blat como Riobaldo. É esperar para ver.
A estação
Entra em cartaz nesta quinta-feira um filme inquietante, A estação, primeiro longa-metragem da mineira Cristina Maure. Rodado num lindo preto e branco repleto de matizes, é sobretudo uma obra de atmosfera, que busca o fantástico sem recorrer a efeitos especiais.
Nele se narra a chegada de uma mulher (Jimena Castiglione) a uma estação ferroviária deserta, num lugarejo à beira de um lago. Logo descobrimos que outras pessoas estão como que aprisionadas a esse lugar no meio do nada. Um limbo? Uma antessala da morte? Ou já estão todos mortos? Preservar o mistério até o fim é um dos encantos deste pequeno e belo filme.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.