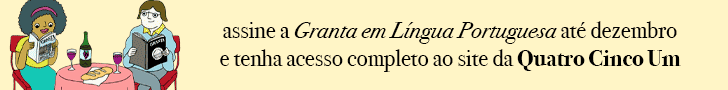Cinema: Os ossos que falam
Um Macunaíma contemporâneo, aspirante a cineasta e traficante de pedras preciosas. Entre o Brasil, Moçambique e Portugal, Um animal amarelo é uma tresloucada (e lírica) fábula sobre o colonialismo e suas violências na carne e na alma, ainda vívidas no entremares
Publicado 02/09/2021 às 13:40 - Atualizado 30/09/2021 às 11:54

Por José Geraldo Couto, no Blog do Cinema do Instituto Moreira Salles
Um animal amarelo, de Felipe Bragança, que está em cartaz em várias cidades do Brasil, é um filme desconcertante e difícil de classificar. Sua sinopse mais básica poderia dizer que é a história de um brasileiro branco, aspirante a cineasta, que, seguindo o que parece ser um destino atávico, vai a Moçambique em busca de diamantes e acaba se envolvendo com o tráfico internacional de pedras preciosas.
Não deixa de ser isso, mas ao mesmo tempo não é nada disso. Fernando (Higor Campagnaro), o cineasta-aventureiro, recebe a visita ocasional de um estranho monstro amarelo que engole gente. Além disso, herdou do avô (Herson Capri) um fêmur humano que encerra em si a memória de um passado de violência. O velho conversava com o osso, Fernando não chega a tanto.
Na África, ele assume o nome do avô, Sebastião, pleno de significado na cultura luso-brasileira, e é enquadrado por ativistas moçambicanos que defecam pedras preciosas e procuram vendê-las no mercado exterior. Fernando/Sebastião, com sua estampa de branco respeitável, servirá a eles como negociador.
Colonizadores e colonizados
Isso é apenas uma parte do enredo. Em Portugal, Fernando tem um romance com Susana (Catarina Wallenstein), a filha de um comerciante de joias racista, e tenta negociar com um excêntrico barão salazarista (Diogo Dória). Entre outras peculiaridades, Susana tem um rubi incrustado no clitóris. O fato histórico de os colonizados produzirem a riqueza consumida pelos colonizadores ganha aqui uma metáfora fisiológica: as pedras que os moçambicanos defecam são as mesmas que a burguesinha lusitana usa como graciosos apêndices corporais.
O componente fantástico perpassa a narrativa em fricção permanente com um realismo quase documental: aldeias moçambicanas miseráveis, um grande hotel convertido em cortiço na cidade da Beira, ruas sujas do Rio de Janeiro, reunião com gerente de banco para cavar patrocínio, notícias televisivas sobre o impeachment de Dilma Rousseff, etc. Em Moçambique, dos velhos navios encalhados na areia aos edifícios em ruínas, tudo é signo de um passado escuro, cruel e ainda presente.
A opção pelo antigo formato de tela 1,33 (ou 4:3), quase quadrado, acentua o estranhamento. Do mesmo modo, há durante todo o tempo, na narração em off por uma voz feminina moçambicana, uma sugestão de metalinguagem que só se explicita, aliás lindamente, nos minutos finais. A voz que narra, descobrimos no devido tempo, é de Catarina (a extraordinária Isabél Zuaa), a altiva líder dos moçambicanos que cagam preciosidades.
Discrepâncias fecundas
O que desconcerta e inquieta em Um animal amarelo é que suas partes não se encaixam perfeitamente. Há algo de destrambelhado em sua construção, uma cacofonia de gêneros, e não chega a se formar uma alegoria “redonda”, de leitura clara e unívoca. Tanto melhor. Suas próprias discrepâncias de tom, bem como as contradições no perfil do protagonista, mantêm sempre teso o arco da surpresa e da invenção.
Em seu ziguezague psicológico e moral, Fernando/Sebastião remete a outro herói ambíguo, o Macunaíma de Mário de Andrade (e mais ainda o de Joaquim Pedro), ambos oscilando entre a intrepidez e a covardia, a sinceridade e a fraude, a esperteza e a ingenuidade. Seu périplo fantástico também lembra o do “herói sem caráter”. O tom de rapsódia picaresca, de fábula sem moral explícita, é análogo. Em ambos os casos trata-se de uma indagação sobre a origem, a identidade, o lugar do personagem na sua própria cultura e na história do mundo.
Realizado com uma liberdade notável de imaginação – em que mais de um crítico, incluindo eu mesmo, viu pontos de contato com o português Miguel Gomes –, Um animal amarelo fala de um processo torto de opressões seculares, violências recorrentes, injustiças sociais e raciais persistentes. Fala do desconcerto do mundo a partir da perspectiva dos explorados, a exemplo do Glauber Rocha de Der leone have sept cabezas, mas com uma veemência menos estridente e imperativa, mais doce, lírica, eventualmente cômica. De quebra, satiriza indiretamente a literatura e o cinema dos heróis aventureiros imperialistas estilo Indiana Jones ou Allan Quatermain.
Não deve ser por acaso que a oscilação política e moral do protagonista branco é alvo da crítica sarcástica da narradora negra. É ela que mantém o personagem e cada espectador, sobretudo os brancos, num estado de autoquestionamento. Cada um de nós é visitado de quando em quando por algum animal amarelo e tem que conversar com os ossos do passado para conhecer a si mesmo e deixar de ser mero repetidor da história, esse pesadelo do qual, como o Stephen Dedalus de James Joyce, não conseguimos acordar.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras