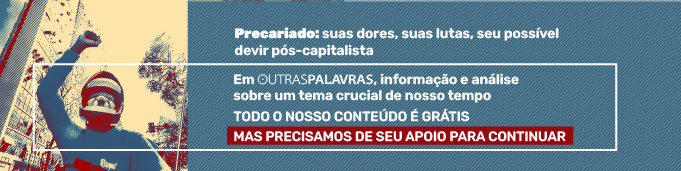Saúde indígena: como evitar outros genocídios
Exemplo bem-sucedido de proteção ao povo Zo’é, no PA, mostra: garantir o bem-estar nas aldeias requer infraestrutura, equipes estáveis e ampliar comunicação. Há um requisito: superar fosso que há entre a medicina moderna e a ancestral
Publicado 30/01/2023 às 17:42 - Atualizado 30/01/2023 às 17:54

Por Marcos Colón e Erik Jennings, na Piauí
“A saúde deve ir lá na aldeia, e não esperar que eles [indígenas] venham aqui na cidade”, disse o presidente Lula no último sábado (21), depois de se horrorizar com a situação da Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, em Boa Vista (RR). A casa abriga indígenas das etnias Yanomami, Sanöma e Ye’kuana que são transportados para a capital do estado em busca de tratamento. Naquele dia, diante do quadro de desnutrição e falta de assistência médica na região, o Ministério da Saúde declarou estado de emergência nas terras Yanomami.
Lula está correto. Atender os indígenas dentro de seus próprios territórios é benéfico em vários níveis. A notícia ruim é que não basta enviar equipes de saúde: é preciso dar a elas infraestrutura, treinamento e humanizar o atendimento para que seja respeitada a cultura local. Ou seja: é preciso investimento. A notícia boa é que isso tudo é viável, como demonstra a experiência com o povo Zo’é, situado no noroeste do estado do Pará.
Mas voltemos ao caso Yanomami. O que aconteceu para que mais de 570 crianças morressem de negligência (por fome e doenças tratáveis) nos últimos quatro anos? Por que foram ignorados 21 pedidos de ajuda aos indígenas, conforme revelou a imprensa? A Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena) não estava cuidando do povo Yanomami? Os profissionais de saúde não estavam indo às aldeias? Não estávamos gastando milhões de reais em horas-voo para transportar pacientes até os hospitais mais próximos?
A resposta é sim. A assistência estava sendo realizada durante todo esse tempo, mas sob condições precárias, fruto da má vontade de um governo declaradamente anti-indígena.
O cenário trágico na Terra Indígena Yanomami pode ser explicado por dois fatores. O primeiro é o modelo de medicina moderna, marcado por desigualdades e afinado com a lógica do capitalismo predatório. A saúde é tratada como uma mercadoria padronizada e individualizada, mais focada no tratamento do que na prevenção. O subsistema de saúde indígena não conseguiu, nesses anos todos, abarcar as particularidades culturais de cada povo. Nunca foi, portanto, um modelo adequado para lidar com as populações indígenas.
O segundo fator é a invasão do território Yanomami por milhares de garimpeiros – “o povo da mercadoria”, como denomina acertadamente o líder Davi Kopenawa. Esses invasores contaminaram as águas, causando indiretamente a morte de crianças e estrangulando a cultura yanomami. Roubaram do povo sua autonomia socioeconômica. Tornaram os indígenas dependentes do arroz e das bolachas com refrigerante servidos nas bordas dos barracos.
Ainda no sábado, Lula afirmou: “Uma forma de a gente resolver isso é montar um plantão da saúde, sabe? Lá nas aldeias, para que a gente possa cuidar deles lá. Fica mais fácil a gente transportar dez médicos do que transportar duzentos indígenas que estão aqui.”
Foi sobre esse novo velho modo de fazer saúde que escrevemos um artigo na Folha de S.Paulo, em abril de 2020. No texto, refletimos sobre aquilo que chamamos de “culturalidade na saúde”. Em poucas palavras, trata-se de resolver os problemas dentro do território e montar um sistema de saúde baseado na diversidade de culturas e comunidades e em variáveis sociais e epidemiológicas. Isso significa abandonar o modelo baseado em um indivíduo, um caso clínico ou uma determinada patologia. A ferramenta central desse modelo não seriam os grandes hospitais e cidades, e sim pequenos centros de saúde nas vilas e aldeias.
Infelizmente, o que temos visto no Brasil, na maioria dos casos, é o oposto disso. Estamos aparelhando hospitais, não a comunidade. Formamos especialistas que sabem transplantar corações, mas carecemos daqueles que enxerguem a cultura e o meio ambiente como parte do tratamento de saúde.
O presidente Lula e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, entendem que “ir lá tratar” os yanomami pressupõe criar, no próprio território, uma estrutura mínima para atendimentos e internações de baixa complexidade. Também é preciso incorporar tecnologia médica dentro das aldeias, ter profissionais na linha de frente que aprendam a língua e a cultura yanomami, e formar equipes com tempo para articular a medicina moderna com a medicina indígena. É necessário, além disso, disponibilizar medicamentos não só da rede básica, mas também de uso restrito – como, por exemplo, antibióticos e até mesmo soros antiofídicos que possam ser usados pela equipe médica local. Ir à aldeia significa ainda investir em comunicação via satélite e em pequenas bases de produção de energia solar. É preciso ter estabilidade nas equipes de atendimento médico para, com isso, conquistar a confiança do povo que está sendo atendido.
Hoje, a medicina nos permite fazer um ultrassom usando um pequeno transdutor ligado a um aparelho celular. Os campos cirúrgicos se tornaram leves e descartáveis. Laboratórios ficaram compactos, do tamanho de uma caixa de sapato. Toda essa tecnologia precisa estar a serviço dos povos que cuidam do planeta, como os yanomami. Ao mesmo tempo, há a necessidade de humanizar as atividades médicas, aproximá-las das pessoas.
A alternativa ao modelo que temos hoje no Brasil precisa se basear no paradigma da culturalidade – ou seja, organizar os serviços de saúde não em centros médicos nas grandes metrópoles, mas sim na comunidade e na cultura em que os pacientes estão imersos. A dimensão cultural de cada ser humano é, sob esse ponto de vista, tão importante quanto sua anatomia: é algo a ser compreendido, cuidado e protegido.
Não se trata de uma experiência apenas teórica. Ela existe na prática e está acontecendo há quase vinte anos no território indígena do povo Zo’é, no noroeste do Pará.
O atendimento médico ao povo Zo’é tem como objetivo resolver o maior número possível de problemas na própria floresta, evitando o contato com a cidade e, por tabela, com epidemias e com o preconceito dos não indígenas. Essa experiência tem sido financiada desde o ano 2000 pelo Ministério da Saúde, que atua em parceria com a Funai.
Em várias ocasiões, a equipe da Sesai auxilia a Funai na resolução de conflitos entre os Zo’é. Em outros momentos, é a equipe da Funai que ajuda os agentes de Saúde a tomar a melhor decisão terapêutica em determinada circunstância. Os Zo’é sempre são informados do que está acontecendo e, de um jeito ou de outro, participam das decisões.
O modo de assistência ao povo Zo’é é norteado por três premissas fundamentais. A primeira delas é o respeito à cultura e às especificidades sociais, levando em conta tabus e o conhecimento médico tradicional dos indígenas. A segunda premissa é minimizar riscos de morbidade e mortalidade. Para isso, evita-se retirar os pacientes do lugar onde moram, já que eles têm baixa imunidade a patologias externas. Por fim, a terceira premissa é a necessidade de haver convênios institucionais para construir essa política, permitindo que o agente voluntário se profissionalize e possa trabalhar com equipes multidisciplinares.
Esse modelo busca ampliar o conhecimento dos indígenas sobre as doenças e as práticas médicas dos não indígenas, além de promover um diálogo entre conhecimentos tradicionais e ocidentais. Ao longo do processo, os indígenas aprendem a relação entre epidemias, saúde ambiental e o contato com pessoas de fora.
No território dos Zo’é, as equipes de saúde filmam e gravam em áudio as interações com os indígenas. Isso inclui entrevistas sobre metodologias, técnicas e medicamentos tradicionais da cultura local. Também se registram as práticas curativas utilizadas pelo povo, e toma-se nota de como estava a saúde dessa população antes do contato com os médicos. Nas gravações, também fica registrada a forma como os Zo’é veem a medicina dos “brancos”.
Esse material vem sendo coletado desde 2016. Ele será analisado e sistematizado como um banco de dados a serviço da saúde dos Zo’é. Poderá, mais adiante, servir para o desenvolvimento de um programa educativo.
É difícil comparar a situação dos Zo’é com a dos Yanomami. São povos com histórias diferentes, que não têm o mesmo nível de contato com o restante da sociedade. Mas uma coisa é certa: os territórios de ambos os povos são alvo de inúmeras pressões econômicas. A cobiça pelo ouro também impacta o povo Zo’é. Por que, então, os zo’é não vivem uma crise de desnutrição? Por que seu território não foi tomado por garimpos ilegais?
O trabalho de servidores da Funai sempre foi intenso e muito eficiente na proteção territorial do povo Zo’é. E a saúde nunca deixou de ser parte desse trabalho. Quando houve um surto de malária na Terra Indígena Zo’é, em 2006, os relatórios médicos ajudaram a Funai a conseguir um decreto estadual que criou ali uma zona de amortecimento, como são chamadas as áreas no entorno de uma terra indígena onde há restrição a determinadas atividades. Essa zona foi fundamental na contenção dos garimpeiros e, mais recentemente, na proteção dos Zo’é contra a pandemia.
Nos idos de 2016, por exemplo, um pequeno garimpo situado no entorno da terra Zo’é foi rapidamente desmontado. A operação foi articulada pelo Ministério Público Federal. Não se abriu brecha para que os garimpos prosperassem. Na terra Yanomami, por outro lado, inúmeras denúncias de invasão não resultaram em ações concretas do Estado. Com o passar dos anos, o governo perdeu o controle do território.
A interação entre Sesai e Funai permitiu a condenação de ao menos um homem branco que submeteu indígenas Zo’é a trabalho escravo na produção local de castanha. Relatórios de saúde, acompanhados de informações da Funai, levaram os castanhais a fecharem as portas na pandemia, limitando a circulação de pessoas naquela região. As consequências dessa política são inegáveis. Até hoje a Covid não entrou na Terra Indígena Zo’é. Somente três Zo’é pegaram a doença, justamente quando tiveram que sair de seu território, em dezembro de 2022, para ir a um hospital tratar um caso de alta complexidade.
É uma experiência que deu certo e que deve ser seguida. Esse modelo de atendimento usa o território e a cultura indígena como principal barreira contra epidemias. Se não houvesse ali um pequeno hospital, dotado de equipamentos básicos, os Zo’é talvez não tivessem resistido a um governo cujo chefe trabalhou ativamente em favor do vírus.
É preciso pluralizar as formas de se pensar a assistência à saúde indígena. Ir à aldeia, conforme sugerido por Lula, é muito mais do que levar uma equipe de saúde para dentro do território. É se integrar à comunidade. Se corretamente implementada, esta será uma nova forma de cuidar da saúde indígena no Brasil. É importante estimularmos um sistema que enxergue a floresta como o maior e mais bem equipado hospital que um povo originário pode ter.
Marcos Colón Doutor em estudos culturais pela Universidade de Wisconsin-Madison, professor do programa de Saúde Pública da Universidade Estadual da Flórida e diretor dos documentários Beyond Fordlândia e Pisar Suavemente na Terra
Erik Jennings é coordenador da residência médica em neurocirurgia do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, e médico da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena). É autor de Paradô: Histórias de um Neurocirurgião do Interior da Amazônia e Olhando o Rio
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras