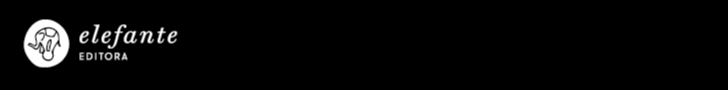Assim se faz a perseguição aos quilombolas
Em SP, Ministério Público quer impor a comunidade multa milionária, por incêndio que terceiros cometeram em suas terras. Processo impede demarcação oficial da área, corta créditos e instala clima de medo e tensão permanentes
Publicado 22/04/2019 às 17:39 - Atualizado 22/04/2019 às 17:45

Por Thais Lazzeri, no The Intercept Brasil | Imagem: Fernando Martinho
O agricultor Benedito de Paula Moura, de 67 anos, o Ditão, fecha os punhos, como se fosse pegar impulso para se levantar, cerra os olhos miúdos e remexe os pés dentro das botas plásticas que a chuva o obrigou a vestir para roçar. E me encara.
“Aqui não é casa, é um barraco, mas é aqui que nós vivemos. Imagine que você sai de casa com a sua família. Vem uma pessoa que não gosta de nós e coloca fogo em tudo. Você volta e não tem onde morar”, diz. “Daí o Ditão (como se refere a si mesmo) é multado e condenado a pagar uma multa milionária porque a casa dele queimou. E foi isso que aconteceu perto da nossa associação. Então nós estamos sendo réu inocente. Queimaram nossa casa e nós somos culpados.”
Ele repete a mesma história três, quatro vezes. Quer que o mundo saiba do caos que a justiça impôs à comunidade quilombola onde vive, no extremo sul do estado de São Paulo.
Encravada em uma região montanhosa no Vale do Ribeira, na cidade de Barra do Turvo, a cerca de 320 quilômetros de São Paulo, as 23 famílias do Quilombo Cedro vivem um desassossego. A Associação Nova Esperança Quilombola do Bairro Cedro, que representa as famílias, recebeu a notificação da execução de uma multa que ultrapassa R$ 6 milhões por um incêndio florestal provocado por desconhecidos na Cova dos Corvos, uma área usada por terceiros. O caso, emblemático, uniu Defensoria Pública do estado de São Paulo e da União e o Ministério Público Federal em defesa dos quilombolas.
Cercados por invasores
O quilombo do Cedro é uma das quatro comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável dos Quilombos da Barra do Turvo, parte do Mosaico de Jacupiranga, nome do antigo Parque Estadual de Jacupiranga. Composto por 14 unidades de conservação, o mosaico abrange 243.885,78 hectares, quase duas vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Oito mil quilombolas vivem nas comunidades – e graças a eles, hoje a região abriga a maior reserva de Mata Atlântica de todo o país.
A pressão sobre as comunidades aumentou, afirmam os moradores, na década de 1990, quando o governo de São Paulo intensificou a proteção do território, que sofreu uma série de invasões de sulistas e nordestinos durante a ditadura militar. “Isso aumentou a especulação das terras”, afirma Nilce de Pontes, integrante da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a Conaq. Para se protegerem de novas invasões, eles organizaram uma associação e buscaram a certificação oficial como quilombolas.
Documentos apontam que a origem das famílias remonta ao século 18, com Pacífico Morato de Lima, considerado o patriarca. Como os antepassados, vivem da agricultura de subsistência itinerante, baseada em um rodízio das áreas de plantio. A prática milenar, herdada de povos indígenas e tradicionais, recebeu o título de patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. A história da comunidade foi mapeada e entregue à Fundação Cultural Palmares, instituto do governo federal responsável pela certificação. Em 31 de outubro de 2006, veio o reconhecimento oficial.
Nesse mesmo ano, Dejalma Mendes de Ramos, um dos invasores que permaneceu nas terras, pôs fogo na mata para abrir pasto para gado – o que não é permitido. Ele perdeu o controle da queimada, que por oito dias varreu 13 hectares de floresta. “Não foi um incendiozinho, foi um desastre”, diz Ditão, com os olhos arregalados, como se sentisse as labaredas de novo.
Para proteger o território, a própria Conaq denunciou o crime ao MPF, que repassou a denúncia para o Ministério Público Estadual. Os documentos obtidos pelo Intercept mostram que, durante as investigações do caso, a Fundação Florestal, órgão do governo responsável pela gestão da área, afirmou que bastaria abandonar e proteger a área que a natureza se recuperaria. Não foi o que aconteceu.
Com o acordo veio a culpa
Tanto o invasor Dejalma Mendes de Ramos quanto as vítimas do quilombo foram corresponsabilizados pelos danos ambientais de 2006. Em 2012, o Ministério Público firmou um termo de ajuste de conduta: coube ao invasor a retirada do gado; aos quilombolas – que não tinham posse, não faziam uso das terras nem cometeram o incêndio –, a proteção e fiscalização do território contra novos invasores. Ramos e a associação assumiram, ainda, a missão de recuperar toda a área sob pena de execução de multa em caso de descumprimento. O estado de São Paulo, dono das terras desde 1969, é testemunha.
“Eu sou ambientalista e fiquei feliz em ajudar a replantar a terra dos meus antepassados. Voltei feliz [da reunião no Ministério Público Estadual], todo orgulhoso”, diz Ditão, com certa raiva sobre a própria ingenuidade depois de anos de resistência como quilombola.
Na época, a comunidade não tinha assessoria jurídica. E, ao assinar o termo, mesmo sem ter cometido crime algum, não se deu conta de que a associação assumiu o ônus pelo reflorestamento. O Ministério Público Estadual entendeu que deveria ser assim porque os quilombolas tinham “futuro interesse” na área, uma vez que pedem a regularização de parte do território no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o Incra. “Enfrentamos, aqui no quilombo Cedro, uma questão de conflito ambiental, conflito territorial, que acontece em todas as comunidades do Brasil hoje”, diz Nilce. “Foi um sacrifício”, diz Ditão.
Mesmo com a aposentadoria rural de um salário mínimo que alguns idosos do quilombo recebem, os descendentes de escravos do Cedro estão abaixo da linha de pobreza, segundo parâmetros definidos pelo Banco Mundial.
Para cumprir o termo de ajuste, gastaram o que não tinham – mais de R$ 10 mil – e deixaram de ganhar porque abandonaram seus roçados em razão da mobilização para fazer valer o acordo. Fora o esforço físico e emocional: a área que o fogo varreu fica a uma hora de caminhada mata adentro, em região montanhosa. As milhares de mudas compradas para reflorestar iam no lombo de animais. E os quilombolas, à pé.
Quase quatro anos depois, a história se repetiu como tragédia: a mesma área pegou fogo novamente.
R$ 6.140.973 de multa
Era 14 de agosto de 2016. Na manhã daquele sábado, Ditão repetiu a rotina de quatro décadas. Liderou o culto semanal, de pouco mais de 40 minutos, na igreja de São Pedro. Na ausência do padre, que realiza missas mensais, são as palavras de Ditão que confortam a comunidade. Passava das 11h quando, da porta da igreja, os fiéis avistaram uma fumacinha branca ao longe. Horas depois, confirmaram um novo incêndio, que eles consideram criminoso, no mesmo local do anterior. Mais de 60% do trabalho da comunidade foi destruído, ou 11 campos de futebol, apontaram laudos posteriores. A Fundação Florestal foi avisada na segunda-feira seguinte, dia 16.
“Sabe o que eu mais sinto? Muita gente da comunidade, que nos ajudou a plantar, que dividiu a alegria de ver a área verde de novo, não está mais aqui. Já faleceram”, diz Lauriti Aparecida de Moura, atual diretora da associação. Ditão leva as mãos ao rosto quando, de soslaio, vê um vulto franzino dentro da casa com pouca luz. A aparência de sua companheira de vida, *Maria Tereza, de 69 anos, sem viço, entrega que ela perdeu a batalha contra um câncer intestinal. Os quilombolas não precisaram fazer contas para descobrir que era inviável repetir todo o trabalho.
Com o novo incêndio, o Ministério Público Estadual entendeu que a associação descumpriu o acordo. Em abril de 2018, a procuradoria pediu a execução da ação civil pública e da multa de R$ 2 mil por dia com correção de juros, que resultou em uma sanção milionária no total de R$ 6.140.973,58.
Procurado, o Ministério Público Estadual afirmou, por nota, que o termo “vinha sendo cumprido de forma insuficiente pela comunidade, até que a área por recuperar foi incendiada”. A partir de então, diz o MPE, o acordo “passou a ser descumprido de forma mais intensa”. Sobre o valor da multa, disse que se trata de “mera referência do cálculo” em razão da data da assinatura do termo e execução. A nota diz ainda que durante o processo é provável que a multa seja “seja consideravelmente reduzida, pois se tornou claramente excessiva.”
“É quase um genocídio. Poderia matar todo mundo de fome para o resto da vida se tivessem de pagar”, diz Ocimar Bim, pesquisador que já foi da Fundação Florestal e acompanha há décadas a luta dos quilombolas.
Os relatórios de fiscalização feitos por funcionários diretos da Fundação Florestal, responsável por manter a área, mostram o comprometimento dos quilombolas à época do reflorestamento, praticamente finalizado quando o segundo incêndio foi provocado. Procurada, a Fundação pediu que o Intercept enviasse as perguntas por e-mail. Não tivemos retorno até o fechamento.
Na avaliação do defensor público estadual Andrew Toshio Hayama, que assumiu o caso no ano passado, há uma série de equívocos no processo: o termo de ajuste de conduta ter sido praticamente cumprido, o fato do incêndio ter sido provocado por desconhecidos da comunidade quilombola sequer ter posse da terra. “Para além de ser desproporcional e não ter nenhuma razoabilidade, entendo que ele tem problemas jurídicos.” E continua: “Isso ameaça os direitos da comunidade ao território e a própria existência da comunidade.”
Com o processo em nome da associação, a comunidade não pode seguir com a regularização fundiária no Incra. Tampouco conseguir empréstimos, por exemplo. “Por isso digo que quem fez isso (o segundo incêndio) queria prejudicar a comunidade”, afirma o quilombola Vandir Ferreira.
Em articulação conjunta, o Ministério Público Federal, e a Defensoria da União e a Estadual tentam, sem sucesso, resolver extrajudicialmente o caso com o MPE. Depois, comunicaram a Fundação Cultural Palmares, entidade ligada ao Ministério da Cultura responsável por reconhecer quilombos, que demonstrou interesse em integrar a defesa da comunidade Cedro. Tentaram, via comarca de Jacupiranga, que o processo fosse deslocado para a Justiça Federal, com mais bagagem nos direitos das comunidades tradicionais.
Em janeiro deste ano, o pedido foi aceito. “A minha vida está aqui. E a gente vai lutar pelos que estão conosco e os que ainda estão por vir”, diz Lauriti. O futuro da comunidade, no entanto, ainda depende da decisão da justiça federal.
*Maria Tereza faleceu durante a apuração desta reportagem.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras