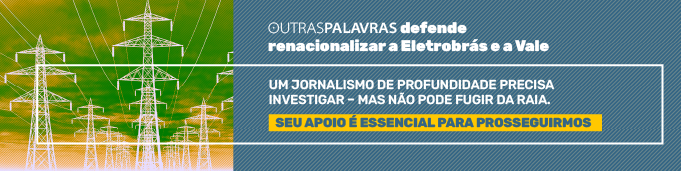Quando cidadania torna-se mercadoria
Países se especializam em vender naturalização para os rejeitados da Europa. Já a classe média e os milionários buscam atrativos como vantagens fiscais e vistos premium. “Uma casa, um seguro, um bom investimento”, diz propaganda na Turquia
Publicado 21/12/2023 às 15:22

Por Marco D’Eramo em A Terra é Redonda | Tradução: Eleutério F. S. Prado
“Aux armes, citoyens!”. Assim começa o refrão de La Marseillaise, adotado como hino nacional francês pela Convenção Revolucionária de 1795. Não mais servos, nem súditos, nem vassalos, mas iguais. Cidadão: uma categoria política que havia desaparecido com o mundo antigo (cives romanus sum) ressurgiu para encapsular os direitos conquistados pela Revolução e para unir a comunidade imaginada do Estado-nação.
Os direitos de cidadania seriam ampliados ao longo do tempo (direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho…) juntamente com seus deveres correspondentes (alistamento militar, dever do júri, imposição de impostos…). Aqui reside uma distinção fundamental com os direitos humanos contemporâneos: o objetivo de dar conteúdo positivo a uma igualdade que de outra forma seria formal e teórica, expressa no princípio de “uma pessoa, um voto”.
Essa concepção de cidadania – e, portanto, de Estado – teve seu auge na década de 1960, mas depois começou a declinar. Continua a ser considerada uma forma de pertencimento, que pode ser conferida pelo nascimento (ius soli), pela linhagem sanguínea (ius sanguinis) ou por um período prolongado de residência. No entanto, a cidadania, como diz uma expressão corrente, “encolheu”. Os direitos diminuíram com o fim do Estado de bem-estar social; por sua vez, os deveres encolheram para aliviar a carga tributária; foram às vezes totalmente abolidos tal como ocorreu com o alistamento militar.
Com o triunfo do neoliberalismo, a cidadania transformou-se em mercadoria, ou seja, em algo que pode ser comprado e vendido. Existe agora, como escreve a socióloga norte-americana Kristin Surak em The golden passport, uma “indústria da cidadania” que se estende pelo mundo. O livro contém um tesouro de informações, dados e relatos em primeira mão da história dos primeiros quarenta anos desta indústria.
Por que seria preciso comprar cidadania? Cobiça-se outra nacionalidade porque nem todas as cidadanias são iguais. Nossas vidas dependem de uma “loteria de nascença”. Como Kristin Surak nos lembra, se você nasceu no Burundi, pode esperar viver uma média de 57 anos com US$ 300 por ano à sua disposição; se você nasceu na Finlândia, os números são 80 anos e US$ 42.000, respectivamente.
As grandes migrações que vemos hoje dependem dessa desigualdade geopolítica ilimitada. As fronteiras servem para manter este abismo: a Turquia recebe seis bilhões de Euros por ano de Bruxelas para impedir a entrada de refugiados sírios, afegãos e outros na União Europeia; a partir deste ano, a Tunísia vai receber 1,1 bilhão de Euros para travar a migração subsariana. A pequena república de Nauru (uma ilha de 21 quilômetros quadrados com uma população de 12.600 habitantes) obteve metade de seu produto interno bruto, na última década, admitindo requerentes de asilo rejeitados pela Austrália.
No entanto, embora a cidadania seja ferozmente desigual, ainda somos rotineiramente apresentados à ficção jurídica de que todos os Estados são igualmente soberanos – uma noção que remonta a Le droit des gens (1758), de Emer de Vattel, que argumenta que se no estado de natureza os homens são iguais uns aos outros, apesar de todas as suas diferenças, então isso deve se aplicar aos Estados.
É claro que os Estados não são de forma alguma igualmente soberanos. Nauru não tem soberania igual a um país como a Alemanha, apesar de seu voto ter o mesmo peso na ONU. Eis que pode abrir embaixadas ao redor do mundo, oferecer imunidade a seus diplomatas e assim por diante.
É a esse respeito que Kristin Surak cita Stephen Krasner, que em seu livro Sovereignty (1999) diz: “o que encontramos com mais frequência, quando se trata de soberania, é hipocrisia organizada”. A reformulação da cidadania como mercadoria é resultado dessa contradição entre igualdade formal e desigualdade real. Como disse Thomas Humphrey Marshall, em 1950, “a cidadania fornece a base da igualdade sobre a qual a estrutura da desigualdade pode ser construída”.
Muitos naturalmente querem fugir dessa desigualdade e, na grande maioria dos casos, isso ocorre por meio da migração. Mas para os poucos que podem pagar, há um elevador em vez de uma escada íngreme que leva para cima nas fileiras da cidadania. A cidadania é tipicamente comprada pelas classes privilegiadas dos Estados desfavorecidos – aqueles nas periferias do comércio global, sujeitos a sanções imperiais, marcados por agitação política, guerra ou autoritarismo.
O mercado de cidadania surge, explica Kristin Surak, “da confluência das desigualdades interestaduais e intraestaduais”. O preço da cidadania para si e para sua família varia de algumas centenas de milhares de dólares a alguns milhões. Os compradores tendem a ser multimilionários, mas podem ser palestinos em busca de status legal, empresários iranianos atingidos por sanções, elites chinesas tentando se proteger da expropriação feita pelo partido-Estado ou oligarcas russos buscando refúgio do governo volátil de Vladimir Putin e, agora, dos perigos da guerra.
Por um tempo, os maiores clientes eram moradores de Hong Kong nervosos com a tomada da cidade por Pequim. Mas também podem ser gestores e executivos de alto nível – indianos, paquistaneses, indonésios – que trabalham nos Estados do Golfo, que não têm o direito legal de permanecer lá quando se aposentam e não desejam retornar aos seus países de origem.
Precisamente porque a cidadania de alguns Estados é um privilégio exorbitante, os seus atuais detentores fazem questão de a proteger, erguendo barreiras intransponíveis. Assim, mesmo para os extraordinariamente ricos, não é fácil comprar cidadania de Estados no topo da pirâmide geopolítica (embora haja exceções: a França naturalizou o bilionário do Snapchat, Evan Spiegel; a Nova Zelândia fez o mesmo com o bilionário fundador do PayPal, Peter Thiel).
Outro caminho é comprar uma cidadania de classificação inferior que permita entrar e residir nos estados superiores – a hierarquia dos Estados corresponde a uma hierarquia de mobilidade internacional. Aqueles com passaportes da União Europeia ou do Japão podem entrar livremente em 191 países; já os passaportes americanos abrem a entrada em 180 países; o passaporte turco permite que se entre em apenas 110 nações. Em essência, escreve Kristin Surak, enquanto os imigrantes devem viver no Estado em que esperam ingressar, para aqueles que compram a cidadania apenas seu dinheiro precisa residir lá.
Os primeiros a capitalizar o comércio de cidadania foram as nações da Caricom: os quinze microestados caribenhos com uma população combinada de 18,5 milhões. São Cristóvão e Nevis quebrou precedente ao promulgar uma lei em 1984 que concedia cidadania a quem investisse uma determinada quantia. Isso ficou conhecido como “cidadania por Investimento” (CBI).
Durante séculos, as ilhas prosperaram com açúcar – produzindo 20% da produção global no século XVIII – mas na década de 1970 entraram em uma crise econômica, exacerbada pelo crescimento da indústria de cruzeiros. O programa CBI acabou gerando 35% do PIB desses mini Estados. Eles tinham a vantagem de fazer parte da Comunidade Britânica, onde se aplica a “common law” inglesa; como se sabe, essa lei se baseia em decisões judiciais anteriores, definindo apenas o que é proibido; difere, pois, da “lei civil” que define o que é lícito e, portanto, é muito mais restritiva.
Sem surpresa, os Estados caribenhos da Commonwealth, como Antígua, Granada e Santa Lúcia, seguiram esse exemplo. Em seguida, veio a Dominica, cuja economia era inteiramente baseada na produção de bananas, que exportava principalmente para a Europa até que, na década de 1990, os regulamentos da OMC permitiram que Chiquita montasse um negócio concorrente e que foi bem-sucedido.
À medida que a “guerra das bananas” que se seguiu levou a ilha à beira do abismo, o programa CBI tornou-se o seu principal trunfo; a fim de igualar os benefícios de seus vizinhos da Commonwealth, ofereceu cidadania a taxas mais baixas e outros benefícios (como facilitar a mudança de nomes). Desde 2009, os passaportes de São Cristóvão e Antígua dão aos seus titulares livre acesso ao assim chamado “espaço Schengen”. Desde 2015, Dominica, Granada e Santa Lúcia oferecem a mesma regalia.
A conveniência de um passaporte depende da mobilidade que ele proporciona. Nesse sentido, cidadania é diferente de residência. Há cerca de cinquenta países (Portugal, Espanha, Austrália e EUA entre eles) que em troca de investimento oferecem residência, mas não cidadania. A mobilidade, porém, depende não tanto do Estado que o naturaliza, mas daquele que o permite entrar (em 2015, por exemplo, São Cristóvão perdeu a entrada gratuita no Canadá de tal modo que, assim, o seu passaporte sofreu uma boa desvalorização).
É por isso que, à medida que a indústria da cidadania tem saído cada vez mais de sua fase caseira, desenvolvendo mais regras e procedimentos, os grandes Estados ganharam cada vez mais influência sobre a concessão da cidadania. Para adquirir a cidadania dos microestados caribenhos agora é necessário que os Estados Unidos (e, cada vez mais, a também a União Europeia) deem a sua aprovação.
No Mediterrâneo, os principais vendedores de cidadania são Malta e Chipre, por razões relacionadas com a sua história. No caso de Malta, isso se deve à língua inglesa, sua localização e sua adesão à União Europeia. Os termos de seu programa CBI foram muito contestados tanto pelos partidos de oposição malteses quanto pelo Parlamento Europeu, que impôs um limite de 1.800 naturalizações. Foi até mesmo fechado em 2020, mas desde então reabriu com um limite de 400 naturalizações por ano e 1.500 no total (ao preço modesto de um investimento de 700 mil euros, mais 50 mil euros por familiar ou funcionário). Chipre também tem a vantagem de estar na União Europeia; contudo, também faz parte das nações não alinhadas durante a Guerra Fria além de ter um forte partido comunista.
Quando a URSS entrou em colapso, havia uma grande população de profissionais de língua russa, muitos nas áreas de direito e finanças, com fortes conexões com Moscou. Em pouco tempo, Chipre se tornou um destino favorito para os russos por causa de sua proximidade, seu sol e seu acesso à Europa. A sua capital foi renomeada extraoficialmente para “Limassolgrad”, ou “Moscou ensolarada”; possui agora “escolas russas, lojas russas, clubes russos, restaurantes russos, jornais russos”, tal como informa Kristin Surak.
No entanto, com a crise grega de 2013, a troika impôs grandes taxas (as quais chegam a 100%) sobre todos os depósitos bancários não segurados acima de € 100.000. Assim, o programa CBI de Chipre foi encerrado vários anos depois de criado. Assim como a pandemia aumentou a demanda por passaportes daqueles que queriam escapar de lockdowns draconianos impostos na China, os russos tiveram que procurar um novo refúgio.
Eles o encontraram na Turquia, um candidato incomum entre os vendedores de cidadania. Com uma população de 80 milhões de habitantes e um poderoso exército, é uma das 20 economias mais fortes do mundo. No entanto, hoje recebe mais da metade dos compradores de cidadania do mundo. Pode não ser membro da União Europeia, mas tem outras vantagens. Ao contrário dos microestados caribenhos ou Vanuatu, ou mesmo Malta, Istambul é uma metrópole que é perfeitamente habitável para um expatriado afluente.
No início, a maioria dos pedidos vinha do Iraque, Afeganistão, Palestina e Egito. Em seguida, os residentes estrangeiros de Dubai também entraram na onda. Com a Covid-19 e depois a guerra na Europa, ucranianos e paquistaneses juntaram-se às fileiras dos que procuram a Turquia como lugar de moradia. Para os iranianos endinheirados, a Turquia tem um apelo especial – não só porque é um país vizinho e um dos poucos que os iranianos podem entrar sem visto, mas também porque a lira turca sofreu uma forte desvalorização (nos últimos dois anos perdeu metade do seu valor face ao dólar) devido à elevada inflação (39% este ano).
Os iranianos, menos penalizados pela desvalorização de sua moeda, estão comprando imóveis na Turquia, bem mais do que em outros lugares: atualmente eles estão comprando uma média de 10.000 unidades habitacionais por ano. Estes são ativos rentáveis, uma vez que os preços da habitação estão a subir em Istambul como em toda a costa mediterrânica. Como disse uma agência para pedidos de cidadania: “você pode pensar na Turquia como uma casa, como um seguro e como um bom investimento”.
Dessa forma, a cidadania foi financeirizada, transformada em um produto semelhante a veículos de investimento estruturados. Embora comparadas ao fluxo mundial de migrantes (cerca de 200 milhões), as naturalizações por investimento são ínfimas – cerca de 50 mil por ano – revelam mais sobre cidadania do que poderíamos supor.
Sabemos todos que a cidadania afeta a cidadania fora do Estado, já que sempre a carregamos e não podemos nos despojar dela. Visitando a Índia, sempre fiquei impressionado com a capacidade dos locais de adivinhar a nacionalidade dos turistas europeus. Percebi que nosso sistema de nacionalidade é para eles uma espécie de sistema de castas; ora, eles são bem treinados para distinguir entre as muitas castas com as quais cresceram (há cerca de 3.000 no total, com 25.000 subcastas).
Talvez o fenômeno mais curioso relatado por Kristin Surak seja o dos americanos que buscam a dupla nacionalidade. Muitos deles são residentes estrangeiros que não querem continuar pagando impostos para os EUA (onde o regime tributário estipula que se deve pagar não importa o lugar do mundo em que se viva ou se ganhe a própria renda). Outros buscam uma segunda nacionalidade para poder viajar. Uma grande socióloga com dupla nacionalidade me disse que desde 11 de setembro ela sempre viaja com seu documento europeu. Alguns se candidataram a viajantes após a eleição de Donald Trump. Quem sabe o que farão de novo no dia 5 de novembro de 2024.
__________________________________________
Marco D’Eramo é jornalista. Autor, entre outros livros, de The Pig and the Skyscraper (Verso).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras