PCC: "É Proibido Roubar na Quebrada"
Ao lançar novo livro sobre o PCC, Karina Biondi sustenta: movimento é diverso e heterogêneo, mas de fato enfrentou “criminalidade banal” nas periferias
Publicado 10/07/2018 às 19:47 - Atualizado 20/12/2018 às 23:16
 Ao lançar seu segundo livro sobre o PCC, a antropóloga Karina Biondi sustenta: movimento é diverso e heterogêneo, mas mantém relação entre presídio e as ruas — e de fato enfrentou “criminalidade banal” nas periferias
Ao lançar seu segundo livro sobre o PCC, a antropóloga Karina Biondi sustenta: movimento é diverso e heterogêneo, mas mantém relação entre presídio e as ruas — e de fato enfrentou “criminalidade banal” nas periferias
Entrevista a Lígia Bonfanti, no Justificando
Para escrever seu primeiro livro, Junto e Misturado: Uma Etnografia do PCC, Karina Biondi se valeu de uma posição bastante peculiar nas penitenciárias: a de antropóloga e esposa de esposa de detento. Seis anos depois, seu marido foi inocentado, mas Biondi continuou sua pesquisa. Agora, lança É Proibido Roubar na Quebrada: Território, Hierarquia e Lei no PCC, resultado de sua tese de doutorado, publicada em 2015.
Se, no primeiro livro, a autora se concentrou na atuação da facção dentro dos presídios de São Paulo, no segundo expande seu olhar para fora. “As cadeias estão muito presentes no cotidiano das quebradas, seja pelo trânsito daqueles que vão presos e depois voltam, seja pela ausência dos que não estão nas quebradas ou, ainda, pela comunicação que se dá entre os lugares”, avalia a autora.
Leia a entrevista:
 Quando você escreveu o seu primeiro livro, Junto e Misturado: Uma Etnografia do PCC, você assumiu a dupla posição de antropóloga e de visitante no presídio. Qual foi a influência disso na construção do livro?
Quando você escreveu o seu primeiro livro, Junto e Misturado: Uma Etnografia do PCC, você assumiu a dupla posição de antropóloga e de visitante no presídio. Qual foi a influência disso na construção do livro?
A posição de visitante foi essencial para saber um pouco sobre cotidiano das prisões, para conhecer as pessoas que ali estão, as condições nas quais vivem, os problemas com os quais se deparam e, principalmente, acessar as reflexões que são feitas por elas. Isso faz aparecer questões que, embora centrais na vida dos presos, dificilmente aparecem em conversas com quem não está minimamente familiarizado com a vida prisional.
Qual é, agora, a sua posição, na escrita de Proibido Roubar na Quebrada. Território, Hierarquia e Lei no PCC? É um olhar diferente?
Com certeza. A familiarização que a condição de visita me dava não estava dada na minha pesquisa nas ruas. Foi muito difícil conseguir me tornar minimamente familiar, a ponto de conseguir travar diálogos sobre as trivialidades do cotidiano, sobre o que importa tão somente aos que ali estão vivendo. Mas essa dificuldade, e é isso que procuro mostrar no livro, já dizia muito sobre o cotidiano das quebradas e sobre o próprio funcionamento do PCC.
Você, como antropóloga, tem sempre a preocupação de usar os termos “nativos” do grupo que pesquisa, ou seja, utilizar o vocabulário e as categorias usadas pelos próprios membros do PCC. Quais são as diferenças entre como os membros e as pessoas de fora falam do PCC? Qual a relevância dessa escolha na construção da narrativa?
A definição do que está dentro e o que está fora do PCC é um desafio. Porque pesquisei cadeias e quebradas que eram do PCC, nas quais ele estava muito presente, mas onde não havia nenhum membro. E esse é um problema – empírico, mas que leva a desafios teóricos – que perpassou os dois livros. É um dado empírico que desafia o instrumental teórico que temos disponível. Para lidar com isso, as pessoas que vivem nesse universo lançam mão de um vocabulário específico, cuja tradução para conceitos já consolidados na academia fazia escapar justamente aquilo que esses termos em uso pretendiam captar. Por isso investi na descrição desses termos, em tentar entender o que eles querem dizer, o que eles permitem, o que eles movimentam, o que eles fazem acontecer. Porque as palavras não são aleatórias, vazias ou inocentes. A centralidade desses termos na construção da narrativa foi uma estratégia para lidar com esse fenômeno sem tomar atalhos, sem fazer traduções precipitadas que já excluísse parte do que significa, que já atribuísse uma explicação na própria tradução ou que já direcionasse os resultados.
Qual a importância de tratar o PCC como um movimento?
Raramente ouvi alguém chamar o PCC (ou o crime paulista, visto atualmente como sinônimo de PCC) de movimento. Mas essas duas ou três vezes em que isso aconteceu me serviram de brecha para investir em um campo conceitual diferente.
Em seu primeiro livro, você trata a presença do PCC nas cadeias, neste, do PCC nas ruas. Quais são as diferenças que você pode apontar entre a atuação do movimento nesses dois espaços diferentes? Como eles estão relacionados um com o outro?
As cadeias estão muito presentes no cotidiano das quebradas, seja pelo trânsito daqueles que vão presos e depois voltam, seja pela ausência dos que não estão nas quebradas ou, ainda, pela comunicação que se dá entre os lugares. Então o que acontece em um lugar acaba refletindo em outro, tendo consequências ali, o acontecimento tem continuidade. É difícil impor uma separação estanque. É claro que os ambientes são diferentes. Acho que o PCC é muito mais intenso nas cadeias e são as prisões o seu ponto de sustentação. As ruas são lugares para ganhar dinheiro. Tive a impressão de que os integrantes do PCC que estão fora da cadeia se dedicam muito mais às suas atividades com fins financeiros (e, depois, com o desfrute daquilo que o dinheiro traz) do que com o cuidado com o PCC. Esse zelo, por contraste, aparece muito mais nas cadeias. Mas as cadeias são uma realidade presente, um futuro muito possível para aqueles que estão em liberdade. E eles sabem que o que fazem do lado de fora dos muros traz consequências, para eles e para o PCC, dentro das cadeias. Eles não deixam de lado, portanto, o cuidado com sua reputação ou a manutenção do PCC nas quebradas.
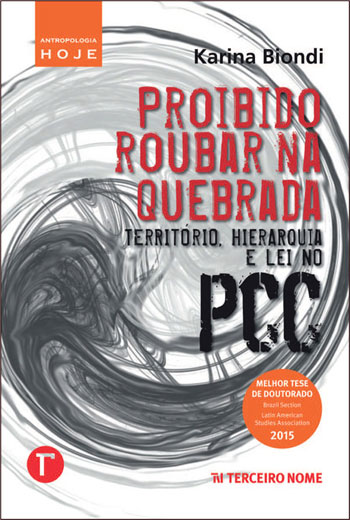 Como você vê a ligação entre a existência do PCC e a queda nos índices de violência no estado de São Paulo desde o início dos anos 2000?
Como você vê a ligação entre a existência do PCC e a queda nos índices de violência no estado de São Paulo desde o início dos anos 2000?
Especialistas procuram dar várias explicações para a queda do número de homicídios em SP. Eu, como etnógrafa, posso contribuir para o debate trazendo as palavras daqueles que poderiam ter matado ou poderiam ter morrido. Eles são unânimes em dizer que não mataram ou não morreram por causa do PCC. Porque hoje já não se mata mais por motivos banais, ou sem que antes todos os lados do litígio sejam ouvidos e possam se defender e sem que a morte seja considerada “justa”. Igualmente, os moradores das periferias, que frequentemente testemunhavam mortes ou se deparavam com cadáveres nas ruas onde moram, dizem que hoje isso não acontece mais graças ao PCC.
Quais são as questões éticas envolvidas com a pesquisa antropológica de um movimento como o PCC?
Eu tomei duas precauções éticas. A primeira foi não prejudicar as pessoas sobre quem escrevi junto às forças legais ou policiais. E a segunda era não prejudicá-las em seus próprios meios sociais, especificamente no crime.
O subtítulo do seu novo livro é “Território, Hierarquia e Lei no PCC”. Qual a importância desses conceitos na sua pesquisa? Como eles se relacionam com o conceito de “movimento”?
Esses conceitos, tão centrais não só nas ciências humanas mas na nossa tradição de pensamento, são desafiados ao longo do livro. Na medida em que descrevo os conceitos de “movimento”, “ideia”, “ritmo”, “sintonia” e “situação”, vou mostrando que “território”, “hierarquia” e “lei” são insuficientes, inadequados para pensar o PCC.
E o conceito de “quebrada”?
A ideia de quebrada, embora não tenha tanta centralidade no trabalho, também desafia as delimitações formais de território. Quebrada diz respeito a uma localidade, mas é relacional e circunstancial. Pode ser uma cidade, uma região, um bairro, uma rua.
Voltando à questão do olhar/do seu papel como pesquisadora na escrita do segundo livro: você pode falar um pouco mais da sua relação com os personagens? Quais foram as questões éticas envolvidas? Você ainda mantém contato com algum deles?
A relação com as pessoas sobre as quais escrevi foi bem tensa, justamente por não ter contato prévio com a maioria delas. Eles, não sem motivos, têm muita desconfiança. E também não entendiam muito bem o que eu queria fazer, o que exatamente eu gostaria de escrever. Mas o que mais dificultou a pesquisa de campo foi o fato de eu ser uma mulher e estar em um universo majoritariamente masculino. Cheguei a interromper minha pesquisa em um dos lugares onde tentei fazer trabalho de campo por me sentir ofendida por questões de gênero.
Não só deixei de ter contato com todos eles como também escrevi o livro com raiva de muitos. Mas hoje, penso que, na verdade, quem é do crime, quando está na rua, está preocupado em ganhar e, depois, gastar seu dinheiro. Nunca em tutelar uma antropóloga, em ficar dando atenção a ela. Se minha pesquisa fosse centrada em entrevistas, isso não seria problema, mas um trabalho de campo envolve o convívio e a atenção ao que é ordinário, comum, cotidiano. E isso exige morar ali. Ao final do longo período, de mais de um ano, em que circulei por quebradas, achava que ainda não havia feito campo.
Sempre que eu estava para me mudar para algum lugar, acontecia algo que impedia a mudança. Mas o interessante – e mágico – da escrita é que faz com que voltemos às situações que vivemos. Nesse retorno, notei que muito do que vivi nas minhas tentativas de me mudar para alguma quebrada, que orientou meus cuidados e atitudes, tudo isso já indicava não só minha circulação pelas quebradas, mas minha inserção em um modo específico de ver o mundo.
Você encerra o livro dizendo que “não via o que os malandros viam, mas via como eles viam”. Você poderia falar um pouco sobre isso?
Meu enfoque, muito impulsionado pelo meu objeto de estudo, é nas perspectivas, mais do que nas formas. O que mais me intrigava ao estudar o PCC é que sua forma mudava conforme a posição que eu assumia e até conforme a pessoa cujo ponto de vista eu procurava apreender. Os próprios integrantes do PCC enxergam o Comando e o efetuam de formas muito diversas. Para quem pretende escrever sobre o PCC, essa ausência de uma forma minimamente consensual é desesperadora. Então mesmo levando em conta os pontos de vista (o que é meio óbvio que o PCC visto por seus integrantes difere do PCC visto pelos órgãos policiais), eu não conseguia chegar a algo que poderia ser “o PCC visto de dentro”. Demorei muito para perceber que eram essas diferenças não só na expressão e efetuação do PCC nos vários lugares onde ele está presente (o PCC na zona leste de São Paulo é diferente do PCC de uma cidade do interior, que difere do que existe na baixada santista, etc), mas também na forma como ele é concebido, eram essas diferenças que fazem dele um fenômeno tão enigmático, tão pouco compreendido e, consequentemente, sobre o que eu deveria me dedicar a escrever. Porque há algo comum entre todas essas diferenças. E o que eu vi de comum dizia respeito a um modo de ver o mundo, a um método de estar nele; o que não corresponde a uma forma inequívoca.
Você fala em seu livro da “onda de violência de 2012”. O que mudou naquele momento?
Esse era o período no qual a maior parte do meu trabalho de campo se passou, o que agravou bastante minha já difícil inserção. Em alguns lugares, as desconfianças se potencializaram. Em outro, isso impediu minha mudança para a quebrada. E, no final, não acho que algo tenha mudado. Mas o durante foi bastante dramático. Imagine o nível de tensão de um lugar onde as pessoas moram em uma casa de 1 ou 2 cômodos e não podem, como costumam fazer em épocas normais, usar as ruas como extensões de suas casas, sob o risco de serem mortas ou torturadas. O pior é ouvir gente que nunca entrou em uma favela dizendo que se está na rua é vagabundo. E muito do que viviam era pautado pela imprensa. “Onda de violência” foi um termo criado pela imprensa. Programas de televisão exploravam o assunto, criavam uma generalidade e incitavam a existência de combates a essa onda, quando o que se via eram ocorrências localizadas. A “onda”, isso que se espalhou nas percepções, nos debates, que tomou conta da vida de várias pessoas (no estado de tensão pelo qual passavam tanto os moradores das periferias quanto os policiais) foi impulsionada pelo próprio fato de chamá-la de “onda de violência” e agravada pelo lugar que se deu a ela na pauta dos jornais.
Você continua acompanhando o PCC após a escrita do último livro? O que você tem observado?
Deixei de acompanhar. Leio uma notícia ou outra, mas se há algo que aprendi durante a pesquisa que resultou no livro é que as coisas têm que ser vistas in loco. Não me sinto apta a comentar sobre alguma ação do PCC sem estar minimamente inserida naquele contexto. Muitos me perguntam sobre a expansão do PCC para outras regiões do Brasil, fora de SP. E costumo responder que se o PCC que existe em uma quebrada é diferente do PCC que existe em uma quebrada adjacente, é irresponsável falar sobre o PCC em outros Estados sem uma pesquisa séria nas regiões. O que ocorre é que as informações que circulam na imprensa são derivadas das informações policiais. E isso tem que ser considerado, porque não há informação que não contenha nela própria uma metodologia de coleta e análise de dados. Isso não é problema. O problema é que isso dificilmente é explicitado. Ninguém fala em como a informação foi obtida, quais os pressupostos envolvidos, o que foi visto diretamente, o que foi relatado, o que foi interpretado, quais as lacunas que foram preenchidas. Para ter algum rigor, não dá pra usar esse material. E eu, sinceramente, não quero mais me enveredar em pesquisas de campo em meio ao mundo do crime. A única coisa que me permito dizer é que, se essa metodologia PCC que existe em outros estados for a mesma da que vi operando em SP, o PCC que acontece nesses lugares é diferente do que existe em SP.
Você agora está atuando no Maranhão. Que pesquisas você está realizando no momento? Quais temas você sugere para quem está iniciando na antropologia, e pensa em estudar a criminalidade, as chamadas “facções criminosas”, etc?
Sei que existe PCC no Maranhão, mas aqui a situação é outra, é de disputa entre facções. Se a pesquisa em São Paulo, onde o PCC é hegemônico, já foi difícil, nem quero pensar em estudar o crime aqui. Estou fugindo do tema, não quero mais fazer trabalho de campo em meio ao mundo do crime e, como disse, não me permito fazer pesquisas a partir de material que considero como de má qualidade para uma pesquisa acadêmica. Além disso, o Maranhão tem uma política de financiamento que prioriza pesquisas sobre coisas aqui do Maranhão. Então estou investindo na pesquisa sobre epistemologia dos estudos sobre crime e segurança, com foco no plano de segurança pública do Estado do Maranhão, chamado Pacto Pela Paz. Mas eu incentivo e adoraria ver mais gente pesquisando o crime. Uma coisa que vem acontecendo é que o crime invade as pesquisas sobre outros temas. É PCC pra tudo que é lado, aparecendo em pesquisas sobre vários temas. Quando eu estava em São Paulo, até propus à FAPESP [Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo] a criação de um núcleo de estudos em antropologia do crime e uma das coisas que eu queria era ver como se dá o PCC em espaços como torcidas organizadas, escolas de samba etc, mas o projeto foi negado. Mas se a pessoa já está desenvolvendo uma pesquisa e o PCC aparece lá pra ela, acho que isso não deveria ser descartado. É importante a gente entender quais as formas que o PCC assume em variados contextos, sem tentar sempre alocar tudo o que diz respeito ao PCC na imagem que a segurança pública faz dele.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras
Um comentario para "PCC: "É Proibido Roubar na Quebrada""
Os comentários estão desabilitados.


Essa pesquisadora é sensacional, merece mesmo ser conferido o trabalho dela.