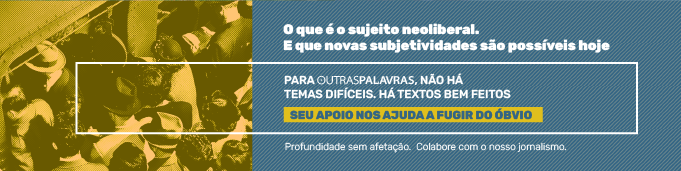O que queima os deserdados da terra?
Autor de Torto Arado, Itamar Vieira Jr retorna com Salvar o fogo. Obra retoma a questão da terra e das vidas e espiritualidades que nela se enraízam. Ao celebrar os levantados do chão, escrita se faz ato artístico e político de largo alcance
Publicado 26/05/2023 às 14:55 - Atualizado 26/05/2023 às 16:06

Por Wander Melo Miranda para o Suplemento Pernambuco | Imagem: Renato Parada/ Divulgação
No seu segundo romance, Salvar o fogo, Itamar Vieira Junior retoma com maestria a questão agrária de Torto arado (2019), agora da perspectiva de uma família de lavradores que vive em Tapera do Paraguaçu, um pequeno pedaço de terra arrendado dos monges do convento local. Mais uma vez a personagem principal é uma mulher, Luzia, diferente das demais por ter uma corcunda proeminente, motivo de zombaria dos habitantes do lugar, e por fazer nascer e lastrar o fogo onde e quando quiser, razão para que a considerem uma feiticeira – “Diziam que nos dias de lua, por onde Luzia andava, as coisas queimavam”.
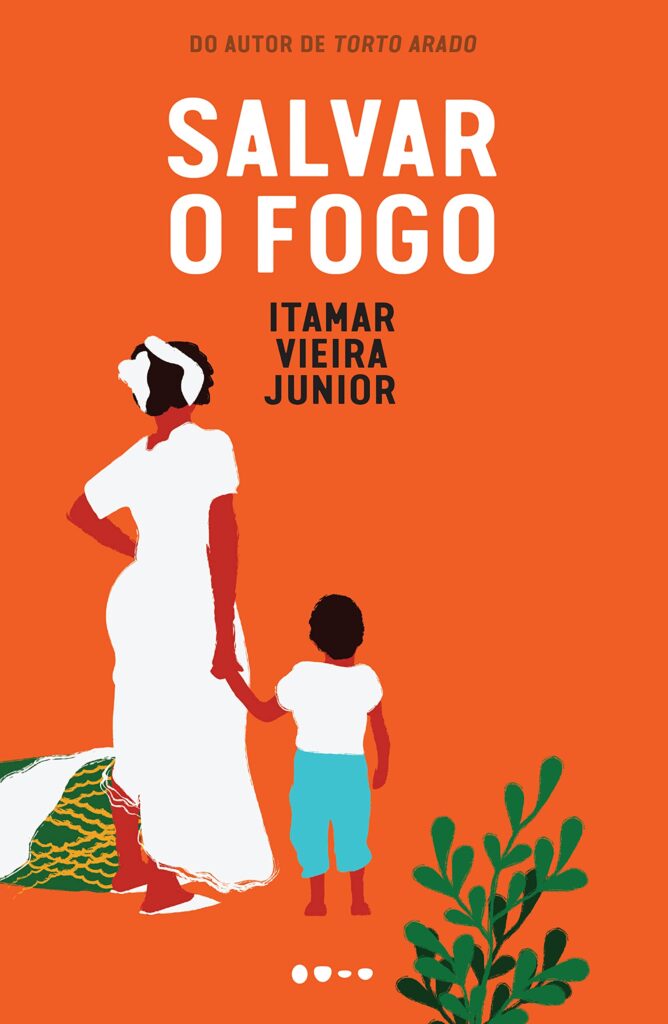
Assim estigmatizada, em torno dela se desenrolam as agruras familiares e do povoado, ou aldeia, nome mais adequado aos antepassados de seus moradores. A narrativa se inicia com o parto de seu filho Moisés, nome de ressonâncias bíblicas evidentes, e termina com a cena do manto por ela feito com penas de pássaros, resgate de sua ancestralidade indígena: o fim retorna ao princípio, tempo circular como nos mitos. Ou repetição em diferença no romance que lhe dá forma literária, novas possibilidades de entendimento e temporalidade específica. O ritmo lento da narrativa parece querer ressaltar a permanência das dificuldades, o dia a dia arrastado da aldeia, as mudanças improváveis das relações sociais rigorosamente hierarquizadas à sombra do poder onipresente da Igreja.
O motor da narrativa é, portanto, a memória, o ir e vir da reminiscência da gente “grã-grossa” que a família de Luzia representa, pescadores e lavradores, gente da água e da terra: “Na teia do esquecimento a memória se faz de doses iguais de verdade e de imaginação”, diz Moisés, o único da família a estudar numa escola, a do convento, onde será vítima de um monge pedófilo, como outros jovens alunos: “a cruz me cega”, diz ele no delírio da febre posterior à cena brutal.
A pedofilia marca o corpo e a mente do filho assim como a corcova marca a mãe e, por tabela, toda a família, que apesar dos frequentes esforços de Luzia se desagrega. Todos deixam a aldeia em busca de trabalho na cidade – a “grande aldeia” –, se comunicam raramente e se encontram, mesmo assim não todos, quando da morte da mãe e do pai. A posse precária do pequeno pedaço de terra se confunde com a precariedade da manutenção dos laços familiares de uma forma de vida social em desaparecimento, de uma ancestralidade em ruínas, a que o incêndio do convento dá um tom irônico.
A subalternização da vida do campo se revela, sob novas e diferentes formas, na cidade grande, pois a “indigência poderia ser pior na cidade; nem todos aqueles atraídos por seu brilho conseguiam sobreviver”. Nada de novo no front, portanto, a não ser a continuidade da indigência, cujos primórdios e desenvolvimentos a narrativa busca determinar com as minúcias do relato de vozes em contraponto.
Para Moisés, a quem caberia, pelo nome e lugar na família, levar sua gente para uma terra prometida (e sempre adiada), resta, ao contrário, apenas a esperança de “soterrar qualquer intenção de repetir a melancolia herdada dos antepassados”. A volta ao campo não se apresenta, pois, como uma saída. A agonia do pai, vítima de queimaduras fatais num incêndio, faz com que “seu conhecimento sobre a nossa história est[eja] se transformando, aos poucos, ao reconhecer o lugar de cada um em sua vida”, percebe Luzia.
O reconhecimento do lugar de cada um na família e na história, na sua história, é uma forma de rememoração da experiência vivida que a torna plena da atualidade – “O tempo era uma folha seca atravessando o descampado”. Atravessá-lo é “descobri[r] verdades e a dor do mundo”, ultrapassá-las pelo desejo de ir mais além da própria história e descobrir nela uma tradição recalcada, tarefa a que Luzia se entrega, enfim, como uma promessa de felicidade pela qual vale a pena lutar, mesmo que se traduza por um pequeno pedaço de terra perdido no fim do mundo.
Vestir no final o manto de penas que Luzia confecciona com suas próprias mãos é mais do que tudo um ato simbólico que referenda a luz que seu nome traz: sua corcunda desaparece, seus braços como que viram asas, seus olhos refletem o fogo e ela parte em direção ao pedaço de terra que lhe dá o sustento mínimo: “Seu nome é coragem, e já não teme a morte”, como dizem as últimas palavras do livro. O manto deixa de ser uma peça exótica de museu, como seu similar admirado pelo olhar do branco europeu, e assume a função para a qual foi verdadeiramente criado.
Mais uma vez, Itamar Vieira Junior tem na afirmação do valor da vida dos deserdados da terra não apenas condição, mas razão de sua escrita. Conseguir levá-la adiante com a firmeza e a qualidade literárias que lhe são próprias é um ato político e artístico de grande valia e largo alcance, que faz do desencantamento do mundo uma abertura para a ascensão do outro, mon semblabe, mon frère, diria o poeta. É o que vale, afinal, para um escritor de verdade.