"Faça do ministério como se fosse o seu palco"
Publicado 29/11/2011 às 14:20
Quando perguntado sobre os momentos difíceis de sua gestão à frente do Ministério da Cultura, o cantor e compositor baiano Gilberto Gil aponta os questionamentos ao governo Lula e à competência de um ministro-artista.
Por Projeto Produção Cultural no Brasil*
Gil tem graduação em administração, mas construiu sua carreira na música, é um empresário de si mesmo. São mais de 50 discos lançados – 12 de ouro e sete Grammies – e uma importância imensurável para a cultura nacional.
Gil começou a compor nos anos 60, ainda em Salvador, onde fez os primeiros contatos com produção cultural com o grupo que seria conhecido como Doces Bárbaros. Em São Paulo e no Rio, trabalhou com Augusto Boal, Vianinha e Guarnieri.Para ele, a televisão potencializou a arte brasileira em muitos aspectos a partir dos anos 60, sobretudo o teatro e a música. Já com a tecnologia,mudou radicalmente a forma de se produzir cultura, afirma, sobretudo com a internet. “A autoralidade explodiu, ficou em aberto”.
Gil foi seduzido pela política com a auto-crítica da esquerda mundial na reestruturação da União Soviética, no final dos anos 80. Antes de eleger-se vereador em Salvador, em 1988, foi presidente da Fundação Gregório de Matos. Ao lado de Antonio Risério, Roberto Pinho e Waly Salomão formou um grupo que buscava a “aproximação entre a criatividade das artes e a gestão da administração pública”. Foi com o mesmo objetivo que aceitou o convite de Lula para ser ministro, cargo que ocupou de 2003 a 2008.
Por que você decidiu fazer o curso de administração na juventude?
Não tenho muita clareza sobre as razões objetivas. Creio até que elas não estavam muito presentes quando eu fiz a escolha. Não tinha nenhuma informação sobre o que era ser um administrador, o que era o mercado ou o universo em que os administradores propriamente operavam. Quando eu era pequeno, eu queria ser médico porque meu pai era médico. Depois, ao longo da vida, fui desistindo. Fui crescendo e fui desistindo, me fixei na engenharia.
A gente escolhia basicamente as carreiras que eram ofertadas. Classicamente, naquele período, essas carreiras eram advocacia, medicina, engenharia. Nessa ordem na maioria das vezes (risos).
Eu tinha, portanto, escolhido engenharia, era uma coisa que veio ao longo do ginásio com as abordagens que eu fui fazendo das matérias – física, química, matemática –, as ciências exatas contrapondo ciências humanas. Decidi que eu queria uma coisa mais ou menos assim.
Gostava de desenhar. Certo momento, eu falei: “Vou fazer engenharia”.
Prestei o primeiro vestibular de engenharia em Salvador e perdi. Quando eu estava me preparando para fazer o segundo vestibular, eu vi um anúncio do curso de administração. Tinha sido instalado em Salvador, na cidade da Bahia, o curso da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Aquilo era uma coisa nova, engraçada, estranha, eu li as coisas do anúncio e acabei decidindo fazer administração. Também porque eu achava que era mais fácil, o exame deveria ser mais fácil. As exigências quanto à física, química, matemática não eram tão grandes (risos). Essas matérias não estavam no vestibular de administração de empresas.
Existiam outras que diziam respeito um pouco mais a minha sensibilidade de artista, de designer das coisas ligadas ao mundo das artes, enfim. Resolvi fazer administração basicamente por isso.
O seu primeiro contato com a produção cultural? Como você começou a dirigir os próprios shows?
Primeiro não foram os meus, não. Eu fui me encontrando com a produção artística na Bahia, na interface teatro-música. Tomei o primeiro contato com a produção a partir do pessoal do Teatro dos Novos em Salvador [companhia de teatro que fundou em 1964 o Teatro Vila Velha], junto com Caetano Veloso, Maria Betânia, Gal Costa, Tom Zé.
Foi esse primeiro grupo no qual atuávamos como músicos e compositores. Já me armei um pouco como designer nesse sentido. Acompanhava o que todos iam cantar, como fariam, qual seria o tema, que canções diziam respeito a esse tema que a gente poderia desenvolver.
Essas ideias de conceito para o show e da questão cênica envolviam todo um mundo que eu não conhecia: iluminação, cenografia, figurino, todas estas coisas. Foi o primeiro contato com estas várias produções artísticas. E foi ali em Salvador, exatamente a partir da formação deste grupo, que fui requisitado a fazer alguma coisa. Era inauguração do Teatro Vila Velha, da Sociedade Teatro dos Novos. O diretor da companhia Teatro dos Novos era amigo de vários de nós e pediu que fizéssemos um show como parte da programação dessa inauguração. Foi o Nós, por Exemplo, em 1964 [espetáculo que teve a direção geral de João Augusto e a direção musical de Gil e Roberto Santana].
O produtor Roberto Santana já estava nisso?
Ele veio fazer essa direção também. Veio trabalhar junto nisso porque ele era ligado a teatro também. Caetano também já estava tendo uma experiência, já estava ligado a teatro, tinha desenvolvido um trabalho musical para teatro com Álvaro Guimarães. E tinha muito gosto por isso, muito mais do que eu. Então, tinha Caetano, João Augusto, Roberto Santana e Betânia. Ela, inclusive, muito interessada por toda essa dimensão de dramaturgia e música. Hoje em dia é uma coisa óbvia, a carreira dela se desenvolveu a partir daí, uma grande atriz e cantora.
Mas todos aqueles ingredientes já estavam naquela primeira produção – Nós, por Exemplo. Em seguida, vieram outros shows individuais, o show da Betânia do qual eu também fui fazer parte, os shows da Gal, o do Caetano, o do Tom Zé, o meu próprio show. A sequência desse primeiro momento foi uma série de shows individuais.
E tudo era novo: questões cenográficas, musicais, de produção. Foi um treinamento durante aquele período entre 1964 e 1965. Travei ali o primeiro contato com o universo da produção.
Era um processo coletivo?
Era. Todo mundo palpitava, alguns mais naquilo que tinham mais afinidade. Caetano palpitava mais na questão cenográfica, na montagem do show no palco. Eu, por exemplo, me restringia mais as questões propriamente musicais, mas olhando para tudo aquilo, vendo como era e sendo impactado por todas aquelas outras dimensões.
Desses produtores e inventores culturais dessa primeira fase sua, quais te influenciaram mais?
Roberto Santana, João Augusto, Caetano e a própria Betânia. Logo depois dali também tem o momento da chegada a São Paulo e ao Rio, quando conheci Augusto Boal, o Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), o Gianfrancesco Guarnieri, todos com que a gente dialogou. O Boal, por exemplo, dirigiu um show nosso, o Arena Canta a Bahia [1965]. Vianinha e Guarnieri montaram o show Opinião com a Betânia aqui no Rio e depois em São Paulo. Eu conheci essa gente toda, estabeleci vários níveis de contato com eles, aprendendo e criando a minha interface com a produção.
A produção de vocês era também a partir do novo, das influências. No processo de criação estética da tropicália tem até a genialidade das roupas, como as dos Mutantes e a Dromedário Elegante. Nos Mutantes, isso veio da Regina Boni e da extraordinária esperteza e inteligência da Rita Lee inicialmente. E o meninos também, Serginho Dias e Arnaldo Baptista, mas sob a batuta da Rita. Ela sempre foi e é até hoje a mais esperta das artistas brasileiras nesse quesito. A roupa trazia humor, uma mistura com Chacrinha naquele momento, não é?
Ah, sim, tinha tudo. Havia Beatles, cinema americano, musical de Hollywood, boutique elegante da moda, escolhas irreverentes dos drop out, daqueles que estavam caindo fora dos sistemas rígidos de escolhas da família, com mãe,pai, tio e tia. Era hippie nesse sentido, chegou toda esta estética hippie e a Rita juntava com muita habilidade tudo isso. Ela tinha um dedo para escolher um sapato que era uma coisa, uma meia que era outra, uma calça ou uma saia, ou um vestido que fosse outra coisa, uma capa estranha para o Arnaldo, uma cartola para o Serginho.
Era a estética da desconstrução típica de modelos clássicos em trajes e indumentárias para palco, trazendo um pouco a rua para o palco, as cenas das ruas, das praças, trazendo o antiquário junto com a boutique da moda. Rita foi responsável por boa parte da criatividade que se instalou no Brasil.
Em 1969, você foi exilado para a Inglaterra, depois daquele show em Salvador. Quando você chegou em Londres, o que vocês viram de espetáculos, como era a produção cultural na Inglaterra?
Vi Pink Floyd, vi tanta coisa. Cheguei e travei contato com aquele mundo. Impressionava em especial a questão de como o som era tratado, os novos equipamentos de PA [abreviatura de equipamentos de áudio para public address, geralmente se refere ao som que vai para a plateia], aquelas coisas dos auto-falantes, com suas novas caixas e marcas. As firmas inglesas e americanas estavam fazendo inovações na amplificação dos instrumentos. Muita coisa impressionava. Desde os PAs até o quadrifônico que o Pink Floyd lançou na Inglaterra.
Estávamos nesse meio, a conhecer tudo isso e aprofundar ainda mais na variedade dos grupos que estavam lá. De conjuntos de rock já clássicos até os pré-punks de Portobello. O show da Yoko Ono no Lyceum na véspera do Natal de 1970 já trouxe elementos das artes plásticas muito fortemente. A cenografia do show dela, por exemplo, era toda cambiante e muito ligada ao que a gente veio a conhecer depois como instalação por parte dos artistas plásticos. Era Yoko junto com John Lennon, George Harrison, Eric Clapton e outros naquela noite ali. Lembro que uma hora a cortina abria e tinha um saco no meio do palco. De repente, ela saía daquele saco. Aquele pacotão, aquele embrulho ali no palco e era ela que estava ali dentro. Isso me lembrava os Parangolés e os Penetráveis, do Hélio Oiticica. A Yoko era uma artista multimídia já e com interesses ligados muito firmemente ao desconstrutivismo das artes plásticas.
Enfim, minhas experiências iam assim. Até a Roundhouse existia lá, era um palco parecido com tantos festivais que apareceram depois, como tantas casas noturnas que você vê hoje no Rio, em São Paulo, na Bahia, em tantos lugares. Roundhouse era um palco com grande auditório, com rotatividade de estilos, de grupos, teatro, circo e música, cada coisa em um dia. Ainda tinham os festivais ao ar livre. Ao lado, ou paralelamente ao palco, acontecia todo um universo cenográfico com as barracas e as pessoas e os grupos se juntando em torno das fogueiras. Era muita coisa!
Você também integrou a produção cultural com uma dimensão política. Essa idéia de olhar para o coletivo da produção cultural e seu ambiente. Como foi essa relação?
Foi desde o começo. Já falei aqui daqueles primeiros momentos em Salvador e depois no Rio, em São Paulo, ali na esteira do que começamos a fazer com os Doces Bárbaros. Fica bem claro que ali você já tinha todas estas coisas. Um grupo de teatro inaugurando o seu espaço, mas que juntou dança, música clássica, música popular e o próprio teatro. Os primeiros contatos com estes coletivos estavam todos ali. E depois Rio e São Paulo. O Opinião no Rio, o Arena em São Paulo. No Arena, em São Paulo, a gente passava o dia todo. O pessoal chegava lá 14h e eu chegava um pouquinho mais tarde porque eu ainda trabalhava na Gessy Lever. Mas ficávamos trabalhando ali até meia-noite, uma da manhã, decidindo vários momentos da produção. Falava com o diretor, com o cenógrafo, com o figurinista, outra hora com músico. Tudo junto.
Você acompanhou a produção cultural no Brasil desde os anos 60. Como você vê a mudança deste cenário?
Quando você falou em mudança, a primeira coisa que veio à minha cabeça é a televisão. Primeiro porque ela exigiu o enquadramento à própria tela, à telinha.
Ela foi juntando coisas. Teve um papel importantíssimo de juntar esses coletivos: músicos, orquestras, cinegrafistas, figurinistas, maquiadores, cineastas, dramaturgos, atores. De meados de 60 até o final de 70, a televisão se desenvolve muito fortemente no Brasil. E, além da televisão fazer a absorção desses outros mundos, no Rio e em São Paulo principalmente, ela foi também influenciando estes outros mundos. A televisão influenciou muito o teatro, ele se fortaleceu com os artistas e com os seus estágios na televisão. A música também, os festivais musicais revelaram novos cantores, novos compositores, novos músicos. Tiveram também papel fundamental nessa coisa, forneceram base para o esparramamento que a música teve por outros territórios depois.
É um período marcado pelo desenvolvimento dessa força da televisão. E, evidentemente, existe também tudo aquilo que passou ao largo da televisão, passou à margem desse processo e foi chamado de alternativo.
Porque a televisão também barrava muita coisa. É isso que eu estou dizendo. Muita coisa veio ao lado, passou à margem da televisão, como Dzi Croquettes, por exemplo. Os próprios shows dos Doces Bárbaros não foram para a televisão, foram para o cinema, foi o disco e um filme que cuidaram do registro daquilo. Dou este exemplo, mas há milhares de centenas de exemplos do alternativo. Era uma alternativa ao mainstream, ao que vinha da televisão e ao show business mais produzido e gerido pelos interesses das gravadoras, enfim. Muita coisa aí eu diria que se refere a esse período de formação do universo da produção artística brasileira. Eu não estou nem falando do cinema porque é uma outra construção,é uma outra engenharia, outro conceito de produção. Estou me atentando mais à música, televisão e teatro.
O cinema lembra uma coisa à parte porque acaba por construir instituições, mais do que qualquer outro ramo, não é?
Ah sim! Porque precisa. É engenharia, justaposição de partes, construção, tijolo sobre tijolo, produções complexas, tempos longos, recursos mais abundantes, não pode ser instantâneo, não pode ser rápido. É uma produção custosa do ponto de vista do tempo, do espaço, dos recursos, da capacitação humana. Então o cinema teve que construir instituições fortes, por conta do desafio do financiamento e também da exibição. O show é outra coisa. Um show de música ou de teatro você monta e bota no palco, cobra o ingresso,faz o anúncio. Claro que tudo isso é complexo, mas isso se dá em espaços de tempo muito menores. O filme não. São muitas perguntas: “Quantas salas de cinema? Quantas poderão ser ocupadas? Quantas vão ser programadas? Como dividir a produção? Qual será a concorrência estrangeira na exibição?”.
Daí o fortalecimento desse lado institucional dos coletivos do cinema: os produtores de cinema são uma turma, os diretores de cinema são outra turma, os técnicos de cinema, os estúdios de filmagem, as grandes companhias de iluminação, de fornecimento de material disso e daquilo, então o cinema precisa, é uma produção mais pesada, mais complexa.
Pegando a sua dimensão política, como foi a coisa de se candidatar a vereador de Salvador?
Candidatar-me a vereador foi um desdobramento de uma série de outros momentos de abordagem da dimensão da vida política. Primeiro, foi eu ter ido para a Fundação Gregório de Matos, que era o equivalente à Secretaria Municipal de Cultura de Salvador, na gestão do prefeito Mário Kertész. Era um momento em seguida à perestroika e glasnost, os dois braços do movimento de revisão da União Soviética e de toda influência do comunismo real e do socialismo real. Mikhail Gorbachev tinha sido agente daquela desconstrução, daquele desmonte e eu tinha achado aquilo muito significativo.
Porque se por um lado havia toda uma crítica da esquerda ao capitalismo e às formas perversas de gestão capitalista da sociedade, por outro lado faltava às esquerdas a auto-crítica sobre o lado difícil do socialismo real. Aquele desmonte foi uma comprovação de que essa auto-crítica, enfim, finalmente chegava ao seu dado concreto e isso servia para todos nós no mundo todo, era um alerta.
Então foram os vários significados desse momento que me levaram a pensar: “Puxa vida, então eu acho que tem lugar para novas formas de política, formas criativas de política, formas artísticas, a política pode voltar a ganhar sua dimensão de arte mais ampla”. Fazer política é fazer uma arte. E, naquele momento, havia ali na gestão de Mário Kertész um grupo com João Santana, Roberto Pinho, Antônio Risério que já era um pouco isso, uma interface de criadores, gente criativa, pessoas das artes colaborando diretamente, criando interface direta com o poder, com a gestão, com a administração municipal. Então eu disse: “Quero ficar um pouco com vocês fazendo esse trabalho de aproximação entre a criatividade das artes e a gestão da administração pública”. Foi isso. Fui e fiquei lá um ano.
Você foi presidente da Gregório de Matos?
Fui presidente da Gregório de Matos, foi o jeito que o grupo achou de me levar pra lá. Porque eu não era propriamente um técnico ou coisa parecida. Eu tive formação no curso de administração, mas sou um artista. Presidi a fundação acompanhado de todo esse povo, o Waly Salomão, o Risério, o Roberto Pinho.
Fiquei um ano. Ser vereador foi um desdobramento de tudo isso. O grupo achava que a gente poderia postular a candidatura a prefeito. Esboçou-se um lançamento da candidatura a prefeito, mas acabou não dando certo. Então, eu tinha a opção de deixar tudo e voltar para o meu lado artístico, ou então de continuar servindo de alguma forma ao projeto. Naquele momento a opção foi a candidatura a vereador, cargo em que fiquei quatro anos.
Fale sobre esse começo na política formal, na Gregório de Matos. Como foi a primeira impressão do artista e da gestão pública?
Aquele grupo e as características artísticas dele formavam o conceito de gestão cultural na cidade de Salvador naquele momento. Davam esse tom de nítida aproximação com o campo de criatividade artística, muitas releituras das formas de fazer projeto, “de para quem”, além de repensar as escolhas dos investimentos técnicos, de pessoal e econômico-financeiros. Foram uma série de projetos de como apoiar os grupos afro-nascentes, como o Olodum (que fez sua sede nessa época), criar os terreiros de candomblés, cuidar e intensificar as relações da Bahia com a África para potencializar o legado africano na Bahia e dar visibilidade aos seus vários produtos ou aos seus vários aspectos, também a questão dos poetas de rua, o teatro ambulante que retomava uma tradição do teatro de rua – o projeto se chamava Boca de Brasa. Enfim, era a gestão criativa.
O Gilberto Gil da política cultural é gestado ali?
Sem dúvida! E não é à toa que quando eu vou para o Ministério da Cultura eu levo uma boa parte daquela turma.
No governo Collor, toda a estrutura cultural brasileira é mudada: o fim do ministério, as leis de incentivo. Como você vê isso? Por que se acabou com o ministério naquele período?
É a visão do presidente, o seu modo de compreender. O presidente Collor tinha uma visão do que costumam chamar de neoliberal, uma crença muito forte na autogestão, na autoregulação por parte da sociedade civil com apoio direto do mundo corporativo e do capital. Esse receituário neoliberal para as políticas públicas, quer dizer, a visão de política pública praticamente sem o Estado, fez as mudanças na cultura. Existem as histórias todas que o desmonte cultural no caso dele foi uma coisa pessoal, por não ter tido o apoio do universo cultural e artístico, mas, ainda que este ingrediente pudesse ter pesado um pouco, no fundo é a visão que ele tinha de Estado e de política pública. Ele queria entregar a gestão das coisas públicas ao mundo privado. É o catecismo neoliberal. Tenho a impressão que foi isso que acabou com o ministério, com o Conselho Nacional de Direitos Autorais e com uma série de coisas.
Como surgiu o convite para ser ministro? Por que alguém como você quis ser ministro?
Aquele momento da Fundação Gregório de Matos e da prefeitura de Salvador, incluindo todo o sentimento crítico de mudança na esquerda com o Gorbachev, isso se manteve como base para a manutenção de um desejo, de um querer, de uma vontade. Mas eu não pensava em nada disso mais, não tinha vontade de levar mais esse sentido de gestão criativa para a interface da política. Foi quando o presidente Lula me chamou.
Do nada?
Do nada! Da cabeça dele (risos)! Ele me disse: “Estou te chamando da minha cabeça”. Era uma porralouquice, porque o PT fazia uma pressão danada. E fez. Foi uma queda de braço do presidente Lula com o PT. Ele ganhou.
E é curioso porque você era amigo do Fernando Henrique Cardoso e apoiou o governo dele.
Mas apoiei Lula. E mais ainda: quando fui dar apoio a Lula, um ano e meio antes da eleição de 2002, fui eu, Juca Ferreira e Alfredo Sirkis levar o nosso apoio em nome de boa parte do partido [Partido Verde]. Naquele momento, eu disse a ele: “Esse apoio, pelo menos da minha parte, não retira o apoio que eu continuo e continuarei a dar ao governo Fernando Henrique Cardoso até o final”. Enquanto o PT falava da herança maldita, eu falava da bendita herança de Fernando Henrique. Ainda que houvesse certos aspectos neoliberais, mas, por outro lado, houve significados e ações importantes, coisas que se comprovaram depois. O governo Lula se beneficiou muitíssimo do que veio de lá do Fernando Henrique. O chamado para eu ir para o ministério foi uma coisa que saiu da cabeça dele, provavelmente juntando um respeito, admiração pessoal que ele tinha por mim, pelo artista, pela história, pela minha trajetória de vida e tal, inclusive as experiências, os experimentos políticos da Bahia e tudo isso e junto com a dimensão do Partido Verde que era importante. O partido se mobilizou naquele momento, pelo menos os principais.
Porque, depois, o partido nunca assume você como Partido Verde no governo?
O partido, oito anos atrás, era diferente. O partido cresceu muito de lá para cá. Tinha poucos parlamentares, tinha poucos representantes e já era bastante dividido. Tinha um PV de São Paulo, tinha um PV da Bahia, um PV do Rio de Janeiro, eram autônomos, eram grupos mais ou menos autônomos e tinha uma direção nacional. Mas uma parte do partido, aquela parte que apoiou o presidente, enfim, essa parte é a que ele queria reconhecer e essa parte era a parte que estava ao meu lado.
O Lula propôs alguma coisa para sua gestão?
Não, ele disse: “Faça do ministério como se fosse o seu palco”. Ele disse isso textualmente.
Que Ministério da Cultura você encontrou?
Primeiro, desarrumado no sentido das atribuições das áreas de gestão.Muita confusão, muitas secretarias, muita sobreposição de tarefas. Requereu uma reorganização, um novo organograma que foi feito logo em seguida com a criação das secretarias, com o afastamento destas vinculadas. Depois também não tinha, do meu ponto de vista, daquilo que eu imaginava, uma visão da grande complexidade e da nova complexidade da questão cultural no Brasil, com os novos problemas, com as novas tecnologias e a relação dessas novas tecnologias na vida cultural, tecnologias exaustivamente utilizadas pela produção cultural, como é o caso das tecnologias digitais. Elas já começavam a se tornar ferramentas exaustivas da produção cultural e o ministério não olhava para nada disso. Também não olhava propriamente para a questão dos impactos destas questões na questão autoral, não olhava para a ampla diversidade cultural do Brasil com a necessidade de investimento no protagonismo de setores importantes, setores populares importantes da criação da produção cultural no Brasil. Enfim, um diferente do que eu imaginava que deveria ser um Ministério da Cultura.
Qual foi o momento mais difícil, mais árduo de todo esse tempo que você ficou?
Foram quase seis anos e meio. Penso que o mais difícil foi aprender a ler o ministério, o que ele era e o que ele deveria deixar de ser, ler um ministério ideal, um novo ministério, o que ele deveria ser. Tudo isso. Desenhar novos programas, novos projetos, novos meios de realização destes programas e projetos. A segunda coisa mais difícil é lidar com gente. Isso é difícil. Lidar com coletivos é difícil em todo lugar. Em um lugar com mais de duas mil pessoas, mais as equipes das instituições vinculadas, as interfaces com os governos municipais, estaduais e tal. A terceira coisa difícil foi ser um ministério de um governo em questão, um governo que chegava com mil interrogações, o governo do presidente Lula: com muita simpatia ainda que com muitas interrogações e com muita antipatia e com mais interrogações ainda de outro lado, além das interrogações sobre um ministro-artista.
Quero falar de um momento peculiar desse ministro-artista. Foi aquela sessão da Organização das Nações Unidas. Como foi aquilo?
O secretário-geral Kofi Annan me convidou. Ele sabia que eu provavelmente estaria lá como ministro do presidente Lula. E ele participaria da abertura da assembléia. Aquele era o primeiro ano do presidente, tinha uma delegação de ministros e eu faria parte desta delegação brasileira. O secretário Kofi Annan me convidou para fazer um show, foi pura e simplesmente isso.
E você convidou ele para tocar bongô? Foi na hora?
No final do meu show, eu o convidei para tocar. Na hora mesmo. Eu disse:“Secretário Kofi Annan venha até aqui e tal”. E ele: “Mas o que você quer?”. Já respondi assim: “Eu quero que você toque alguma coisa com a gente”. Havia guitarra, violão, tudo. Peguei o tamborim e mostrei a ele. Aí ele viu uma conga e se sentiu mais em casa.
E o microfone da conga estava aberto mesmo? Ele tocou de verdade?
Estava. Ele tocou! É um africano.
Das suas realizações como ministro, quais você destaca?
Várias coisas. Na área de patrimônio, especialmente, ênfases no cuidado do patrimônio material. Houve um importante fortalecimento das políticas para museus no Brasil, uma reavaliação do trabalho do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a idealização de novos museus que viessem atender a novas demandas mais específicas – Museu do Pantanal, Museu da Pedra e Sabão, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol –, uma série deles que diretamente foram empreendidos pelo ministério, por associadas ou com outras entidades do mundo privado. A diversidade, um apoio decidido ao conceito de diversidade cultural, inclusive objetivamente um trabalho junto à Unesco, a um conjunto grande de países que vieram a proporcionar a implementação da Convenção para a Diversidade Cultural, o Brasil teve naquele momento um trabalho importantíssimo junto com Espanha, Canadá, países africanos e sul-americanos. Foi um trabalho forte, a convenção foi aprovada e depois o ministério continuou a luta para os países ratificarem e reconhecerem a convenção. Para além de todo desdobramento desse ativismo convencional junto à ONU, à Unesco, aos organismos internacionais, houve um trabalho de identificação de um protagonismo popular cultural encoberto, não propriamente visível e que precisava vir à tona. O programa Cultura Viva e os Pontos de Cultura deram conta de um primeiro momento para esboçar esse mundo submergido da produção e do protagonismo cultural popular. Também cito o trabalho na área do cinema com o fortalecimento da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a tentativa de uma criação de uma agência que desse conta de todo o audiovisual. Não deu, mas coube ainda assim fortalecer a Ancine, trazer a agência para o âmbito do Ministério da Cultura. Esse movimento proporcionou a criação da Secretaria de Audiovisual e a interação de uma parceria entre a secretaria e a agência no sentido de dar ao cinema um panorama novo, uma porta de reentrada no ministério e no governo com novas reinvidicações: fortalecimento dos fundos, da política de financiamento, discussão sobre as políticas de distribuição, o déficit de salas de cinema no país, muita coisa. A política digital, claro, com o início do trabalho do Ministério da Cultura com as novas tecnologias da comunicação: as novidades nesse campo, as novidades do ponto de vista regulatório, os novos problemas e os desafios da chegada da tecnologia, enfim, criar uma área de diretoria digital no ministério foi muito importante.
E, por fim, as questões pontuais de discussão e criação do Sistema Nacional de Cultura, a Conferência Nacional de Cultura, o Plano Nacional de Cultura, os debates para rever a Lei do Direito Autoral, o fortalecimento da televisão pública no Brasil e a postura de assumir as responsabilidades mais fortes do governo em relação à TV digital.
Só pra gente fechar, você está há dois anos fora, qual o futuro do “Gil político”?
Não tenho a menor idéia. No momento não tenho nenhuma vontade, o novo Gorbachev não apareceu ainda para me estimular a alguma coisa na política (risos). Acho difíceis as relações do mundo político hoje com o resto. Não tenho muita vontade, eu não vejo muito como dar e antever uma contribuição verdadeiramente interessante nesse campo. Mas a vida também é uma permanente interrogação. Não sei te responder.
A Copa do Mundo pode ser articuladora de possibilidades culturais?
A Copa do Mundo vai ser uma coisa interessantíssima que vai ser feita do Brasil. Eu sou futeboleiro, um fã e adepto do futebol. Fui partidário destas candidaturas da Copa do Mundo e das Olimpíadas. São momentos importantes. Alguém já achou que eu deveria ser ministro dos Esportes por causa das duas coisas. E eu não quero (risos).
O que é ser artista hoje, no meio da nova cultura digital?
A própria visão de carreira está em cheque. Quer dizer, tal como foi visto até aqui, o que era uma carreira de um artista, em que ela se sustentava, em que ela se apoiava, como ela se desenvolvia, enfim, os vários processos. A importância do disco nisso, a importância dos meios de comunicação nisso, da televisão, de tudo isso, a importância do show business de um modo geral, enfim, tinham estes clássicos, estas entidades clássicas da produção cultural. Era nisso que se sustentava o conceito de uma carreira propria-mente. Hoje não é só. Não é mais propriamente nessas colunas que uma carreira se sustenta. Portanto não é mais propriamente uma carreira como era visto antes. É uma série de outras coisas. É um conjunto de fragmentos de várias coisas que vão constituindo o agir do artista.
O artista, hoje, em determinado momento, está associado a coletivos de redes sociais, em outros momentos ele está associado a fragmentos do velho edifício da produção cultural. Outras vezes ele é autonomia pura, ele é indivíduo sozinho tuitando (risos). As novas tecnologias, com a diminuição do tamanho, a portabilidade, a acessibilidade, a possibilidade de multiplicação de gentes, de pessoas fazendo coisas, filmando, gravando, transmitindo, editando isto e aquilo. Ficou difícil.
Este mundo saiu das mãos dos especialistas, dos artistas, dos jornalistas, dos autores propriamente. A autoralidade explodiu, ficou em aberto. Portanto a visão da autoralidade aos cuidados do direito autoral também explodiu. Creative Commons é um pouco para isso, para agilidade, sua autoralidade vai imediatamente se registrar eletronicamente por meio da internet, sem a mediação da editora. Você, o autor, anônimo, é o próprio editor imediato do seu produto artístico. Fica agora outra questão: existe uma série de autores novos, anônimos, microautores e que precisam entrar neste mundo.
(*) Entrevista realizada por Fabio Maleronka Ferron e Sergio Cohn no dia 1 de junho de 2010, em Sao Paulo.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


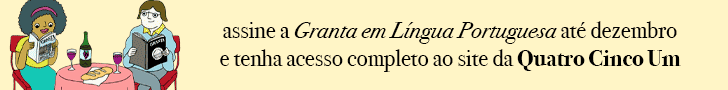
5 comentários para ""Faça do ministério como se fosse o seu palco""