Keynes: sua ousadia e seus limites
Novo livro tenta interpretar papel do economista mais influente nos “anos dourados” do pós-guerra. Ele rechaçava a idea do mercado ordenador da sociedade. Mas jamais almejou uma democracia radical, por não ir além do horizonte burguês
Publicado 12/07/2021 às 14:09

Por Eleutério F. S. Prado, em A Terra é Redonda
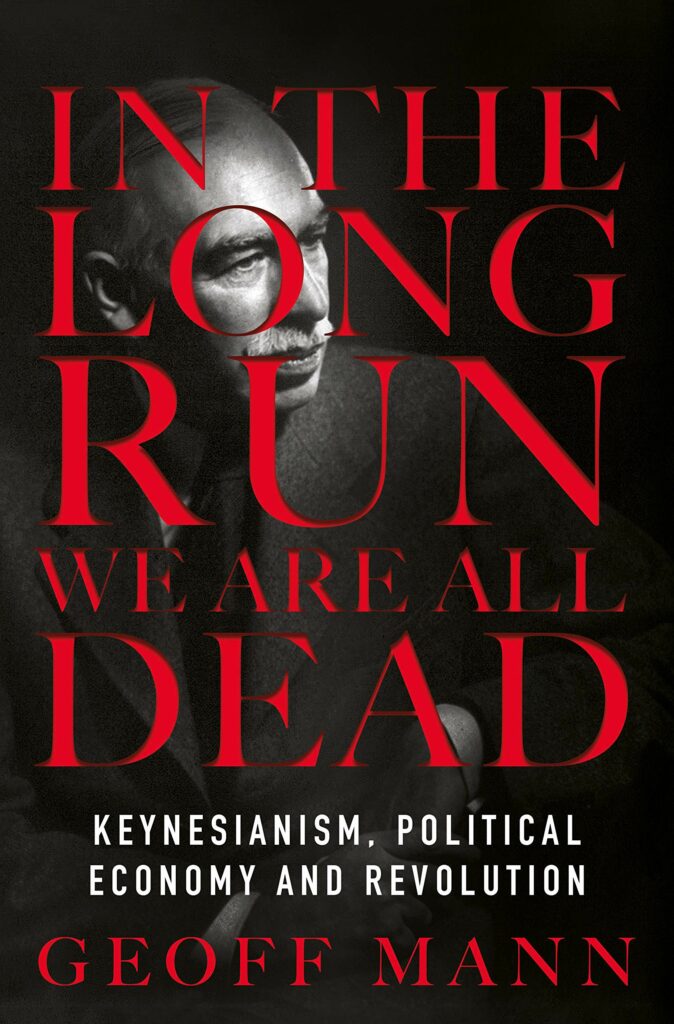
De modo bem sintético, o keynesianismo talvez possa ser exposto por meio de uma analogia atrevida que emprega o circuito do capital em geral. Pelo menos está assim apresentado no livro de Geoff Mann,[i] No longo prazo estaremos todos mortos (2017): “Assim como a mercadoria foi posta por Marx, no circuito do capital em geral, isto é, em D – M – D’, como um termo médio na expansão do valor, a dialética keynesiana captura a dinâmica central do liberalismo iliberal pondo o Estado como um termo médio no circuito L – E – L’, o qual realmente vem existindo há dois séculos” (Mann, 2017, p. 386).
Ora, como a tese contida nessa analogia se afigura bem atilada mesmo após uma segunda vista, a nota que se segue visa explicá-la.
Note-se logo que Mann caracteriza John M. Keynes como um liberal iliberal, como alguém que atua como advogado da intervenção do Estado para modificar e preservar o liberalismo, isto é, a liberdade forçada e a prosperidade restritiva que o sistema econômico realmente existente faz existir. Mas isto, segundo ele, não é novo. Pois, o capitalismo não tem subsistido por força apenas dos mercados, mas, ao contrário, tem sido renovado e reconstituído pelo Estado e pela economia política intervencionista há muito tempo. Segundo esse autor, tem sido assim pelo menos desde o golpe de novembro de 1799, quando Napoleão Bonaparte tomou o poder em França, após a Revolução de 1789.
Keynes, portanto, foi mais um protagonista, mesmo se importantíssimo, num contínuo de atuação econômica e política estatal contra-arrestante que vem de bem longe. Tal como outros antes e depois dele, julgava de modo iliberal que as sementes de sua própria destruição estão sempre a germinar no capitalismo. E que elas não se desenvolvem até o ponto em que isto realmente acontece porque a atuação do Estado protege, salva e, assim, repõe constantemente o liberalismo.
Eis como Mann explica o keynesianismo: “A contribuição decisiva do keynesianismo para o liberalismo consistiu em legitimar a sua hegemonia, generalizando continua, pragmática e cientificamente uma visão do mundo na qual o bem-estar proporcionado pelo Estado e a prosperidade da sociedade civil se apresentam conceitualmente como inseparáveis. E esta é mesmo a própria definição de “civilização” [na ótica de Keynes]. Este inescapável liberalismo iliberal mostrou-se essencial para a sobrevivência mesmo do liberalismo clássico, bem mais dogmático; pois, lhe abasteceu com uma lógica política ansiosa, sem a qual ele não teria sobrevivido sem um uso constante da força bruta. A burguesia e a classe média são assim tanto efeito como causa da “civilização” keynesiana”. (Mann, 2017, p. 386).
Mas por que menciona que a lógica política do keynesianismo está atravessada pela ansiedade? Mann sugere que um misto de esperança e de medo está subjacente ao legado desse economista que não endossava o liberalismo clássico. E que esse composto contraditório se encontra implícito na declaração emblemática de que “no longo prazo estaremos todos mortos” – expressão esta que, por isso mesmo, foi escolhida como título do seu livro. Eis que o keynesianismo instala-se entre a promessa de sucesso econômico e a ameaça constante de que sobrevenham novos desastres, mesmo eventualmente grandes tais como aquele da Crise de 1929. Ele sabe que o sistema econômico apronta sempre novos acidentes e que, portanto, a vida dos seus gestores não é fácil.
Essa expressão sugere, ademais – como ressalta Mann –, que viver num certo estado de inquietação quanto ao devir é a sina inexorável de toda a “civilização” possível. Sob essa perspectiva, não haveria, também, qualquer caminho para construir outro futuro melhor além daquele que conserva o núcleo do capitalismo do melhor modo possível. Existiriam outras alternativas, mas todas elas, inevitavelmente, trariam de algum modo o espectro do autoritarismo e mesmo do barbarismo. Dito de outro modo, para Keynes o capitalismo seria o fim hegeliano da história.
Do ponto de vista econômico, o keynesianismo é aquilo que os economistas keynesianos fazem em termos teóricos e práticos ou aquilo que está referido a um conjunto bem definido de proposições sobre o funcionamento do sistema econômico, as quais estão presentes e demarcam a herança de Keynes, em particular na Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro? Ainda que a primeira alternativa possa ser aceitável, é evidente que o legado de Keynes tem certas características bem definidas: a atividade do dinheiro, a instabilidade do investimento na manutenção da demanda efetiva, a incerteza sistêmica que envolve as decisões empresariais, o papel contra-arrestante do Estado etc.
Há, entretanto, um ponto fundamental. É central observar que a sua teoria econômica é estagnacionista: “quanto mais rica for a comunidade, mais tenderá a ampliar a lacuna entre a sua produção efetiva e a potencial; e, portanto, mais óbvios e maléficos os defeitos do sistema econômico” (Keynes, 1983, p. 33). Assim como verificar que essa sua visão crítica se alevanta de uma análise focada na circulação – e não na produção de mercadorias, tomando estas como formas de capital (Prado, 2016). Pois, como indicou Marx ironicamente, “a esfera da circulação ou do intercâmbio de mercadorias (…) é de fato um verdadeiro éden dos direitos naturais do homem (…) liberdade, igualdade, propriedade e Bentham” (Marx, 1983, p. 145).
É, pois, na esfera da sociabilidade do mercado que se encontram as reservas de Keynes ao capitalismo. A exploração, a alienação e o conflito entre as forças produtivas e as relações de produção não são problemas para ele. Diferentemente, ele enfatiza sobretudo que a própria natureza das interações mercantis dificulta a conciliação do interesse individual com o bem-estar coletivo. E, nesse sentido, como ressalta Mann, ele não compartilha o otimismo cínico de Bernard Mandeville exposto em sua Fábula das abelhas. Para ele a busca do auto interesse não teria sempre como consequência o bem-estar comum – mas um latente e permanente mal-estar. Ademais, a má repartição da renda e o desemprego decorrentes, em última análise, das interações movidas pelos interesses próprios, costumam alimentar uma raiva de fundo na sociedade mercantil que pode minar – julga ele – o seu potencial civilizador.
Segundo Geoff Mann, três características distinguem a longa tradição a qual pertence John M. Keynes. A primeira delas é a ausência de um humanismo universalista capaz de projetar um futuro civilizado para todos os seres humanos. Ao contrário, toda a sua preocupação civilizatória concerne apenas ao mundo euro-americano; eis que apenas o bem-estar desta fração da humanidade lhe interessa: “o keynesianismo” – diz – “tem sido quase sempre não apenas uma crítica elaborada no interior do capitalismo liberal dos estados-nações ‘industriais’ da Europa Ocidental e da América do Norte – mas tem sido sobretudo uma crítica que ignora todo o resto”. Nesse sentido, trata-se – como também diz – de uma crítica social moderadora que “espelha perfeitamente o mundo burguês, colonialista, masculino e branco no qual e para o qual fala” (Mann, 2017, p. 47).
A doutrina liberal do keynesianismo é geralmente denominada de “liberalismo embutido” para acentuar que prevê a realização da liberdade burguesa apenas no interior de uma ordem social que põe certa unidade, certa harmonia. Keynes, em particular, é crítico do que também se costuma chamar de “liberalismo desembutido”, o qual embasara a visão de mundo da economia política clássica e do imperialismo do livre-comércio. Em consequência de seu viés euro-americano, essa doutrina, tal como aquela que visa superar, é plenamente consistente com a aceitação ativa ou passiva da falta grosseira de liberalismo na periferia do sistema global. Mais do que isso, é consistente com a tese de que a ordem internacional pode e deve ser posta apenas pelo conjunto dos países ricos que se veem como mais desenvolvidos – mesmo se os países pobres e remediados a recusam.
A segunda característica é a ausência de adesão ao dogma liberal que manda priorizar sempre a liberdade individual frente a igualdade e a justiça social. Diferentemente, essa tradição acolhe costumeiramente um individualismo mitigado, tomando a liberdade da pessoa como condição necessária, mas não exclusiva em si mesma e, assim, não suficiente, para realizar uma sociedade civilizada. Se é um fim, é também um meio para negociar a realização de um estado social em que ela própria pode existir junto como o bem-estar coletivo. Segundo Mann, o projeto keynesiano contém no fundo uma ambição para criar algo novo, um lugar, portanto, que ainda não existe. Eis que acredita que “liberdade, solidariedade e segurança podem ser plenamente alcançadas numa ordem social racional”, isto é, numa ordem construída pela vontade e pela razão humana (Mann, 2017, p. 49).
Nesse sentido, é bem sabido que Keynes considerava o estado lamentável da sociedade de seu tempo como uma confusão colossal (colossal muddle), a qual desejava ver superada. É sabido também que ele próprio estava se esforçando nos anos 1930 para contribuir ao máximo para que isso ocorresse. A sua teoria geral nunca foi um empreendimento puramente acadêmico, ao contrário, pretendia intervir nos rumos da sociedade, isto é, da sociedade que lhe interessava.
A terceira característica do keynesianismo é um certo otimismo prático, uma crença forte na capacidade de resolver os problemas da sociedade por meio de intervenções públicas adequadas. É assim que Mann explica a falsa consciência que obra no interior dessa corrente de pensamento:
Diante das forças autodestrutivas produzidas pela própria sociedade civil, quer mostrar que tais tendências funestas não devem necessariamente levar a um fim trágico ou mesmo a uma ruptura temporária ou ainda a uma severa penitência. Ao contrário, sustenta que mediante paciente e pragmática supervisão, as instituições existentes, as ideias e as relações sociais têm o potencial de produzir, sem quebras, uma transformação radical da ordem social.
Se os conservadores arguem que é possível chegar ao ‘melhor de todos os mundos possíveis’ zelosamente protegendo o status quo, se os liberais falam que é possível alcançá-lo por meio do compromisso com um conjunto de ideais abstratos, se os radicais afirmam que isto é possível por meio de uma reconstrução pela raiz da vida social, os keynesianos dizem que um mundo radicalmente diferente se encontra pacificamente em potência na ordem social existente – na ordem euro-americana, liberal e capitalista, obviamente. (Mann, 1917, p. 50).
O keynesianismo é, portanto, autoconfiante. Propugna por um capitalismo sem capitalismo a ser alcançado por meio de uma revolução sem revolução, afirmando peremptoriamente que sabe muito bem como se chega lá. Em consequência, afirma-se na teoria – e mais ainda na prática-política – com certa arrogância. Quando é chamado por uma força política vencedora, passa a atuar para criar a boa e prospera ordem social que julga possível. Esta – crê – pode ser realizada historicamente mediante o constante emprego de uma inteligência prática de administradores competentes, ou seja, de um construtivismo social capaz de pôr em prática boas correções e reformas em resposta aos problemas que surgem.
É muito claro que Keynes, o pai fundador dessa corrente de pensamento prático-político em sua versão contemporânea, não acreditava nem na capacidade de autorregulação da sociedade nem no bom funcionamento espontâneo dos mercados. Ao contrário, ele pensava que a sociedade e os mercados, ao serem deixados por sua própria conta, tendiam à desordem, aos impasses e às crises, alongar-se-iam na criação de esgarçamentos e rupturas que sempre podem vir a crescer e a ameaçar a sua própria existência. Segundo Mann, com Hobbes, Keynes pressentia que sob o “contrato social” vigente escondia-se o “estado de natureza” e que, portanto, ele apenas se manteria incólume por meio da ação do Estado.
Ou seja, em resumo, L – E – L’. Ou ainda “não L – L”, ou seja, o keynesianismo é uma negação determinada, não radical, do liberalismo clássico.
O keynesianismo tem, pois, fé no Estado – e não mercado – como força constantemente restauradora da “civilização”. Acredita, pois, que apenas o Estado se constitui como potência capaz de integrar a sociedade, de “harmonizar o particular e o universal, material e ideologicamente, sem sacrificar nenhum deles” (Mann, 2017, p. 54). É ele e somente ele que pode fazer existir o “estado de bem-estar social”.
Entretanto, é preciso ver que essa “civilização” almejada pelo imaginário keynesiano não pode advir de uma “democracia popular” ou de um “democratismo populista” ainda no âmbito do capitalismo e muito menos poderia decorrer da democracia radical que, segundo Marx, seria posta historicamente, ao seu devido tempo, pelos “trabalhadores livremente organizados”. Ao contrário, o keynesianismo mantém certo desapreço pelo potencial civilizador da democracia, pois, para nele acreditar, é preciso confiar fortemente na capacidade da sociedade de resolver os seus próprios problemas. Ora, tal como os marxistas secretamente hobbesianos,[ii] ele nunca acreditou nisso. Nesse sentido, o keynesianismo – do mesmo modo que o neoliberalismo – quer resguardar do voto popular um espaço crucial para certas decisões tecnocráticas – aquele âmbito em que se tomam, por exemplo, as decisões que afetam os fundamentos da economia e da segurança nacional.
Em consequência, ambas essas correntes têm algo em comum.
É preciso reforçar, para finalizar, que também o neoliberalismo pode ser sinteticamente explicado pela lógica L – E – L’, com a diferença de que, para ele, a tarefa central do Estado não é realizar o “estado de bem-estar social”, mas, ao contrário, é impor a concorrência e a competição como norma de vida em todas as esferas da sociedade (Dardot e Laval, 2016).
Enquanto o keynesianismo propõe uma metamorfose plástica do liberalismo por meio da mediação do Estado, o neoliberalismo propõe uma metamorfose cínica. Confessa que a “justiça social” não convém à “ordem liberal”; postula que os humanos devem ser apenas sujeitos do dinheiro; e, para chegar aos seus objetivos, quer fracionar ao máximo a sociedade para reforçar o domínio da burguesia. A diferença em relação ao keynesianismo, pois, não é pequena – e pode mesmo ser considerada imensa –, mas ela está posta num fundo comum de identidade. Ora, é este último – o privilégio do Estado na mudança social – que atualmente precisa ser superado.
Eleutério F. S. Prado é professor titular e sênior do Departamento de Economia da USP. Autor, entre outros livros, de Complexidade e práxis (Plêiade).
Referências
Dardot, Pierre & Laval, Christian. A nova razão do mundo:Ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo, 2016.
Keynes, John M. Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
Mann, Geoff. In the long run we are all dead: Keynesianism, political economy, and revolution. Londres: Verso, 2017.
Marx, Karl. O capital. Crítica da Economia Política. Livro I, tomo 1. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
Prado, Eleutério F. S. “Como Marx e Keynes demarcam o campo da macroeconomia”. Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, nº 45, outubro-dezembro de 2016.
Notas
[i] Professor da área de Geografia da Universidade Simon Fraser, Canada.
[ii] A mediação do Estado, neste caso, não visa repor o liberalismo, mas instalar o “socialismo realmente existente”, isto é, L – E – SOREX.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

