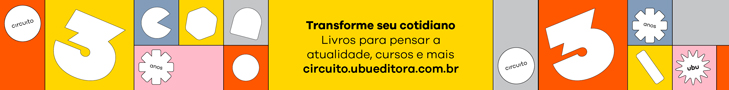Jornadas de Junho: como tudo começou
Militantes relembram como o movimento surgiu, em meio a lutas pelo Direito à Cidade. Os anos de trabalho de base com secundaristas. Os protestos e articulações em 2013. E a captura das ruas pela ultradireita. Seria possível outro desfecho?
Publicado 12/06/2023 às 17:54 - Atualizado 12/06/2023 às 18:46

Por Raphael Sanz, na Revista Fórum
Em 2 de junho de 2013, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), anunciava que as tarifas para uso de ônibus, metrô e trens na capital paulista subiriam de R$ 3,00 para R$ 3,20. Foi o estopim para o início das polêmicas Jornadas de Junho. Já tinha havido jornadas semelhantes em Porto Alegre e em cidades vizinhas como Taboão da Serra e Osasco naquele ano, é verdade, mas foi em São Paulo que a coisa tomou uma proporção inimaginável para os próprios militantes do Movimento Passe Livre (MPL). E o que foi uma campanha contra um tarifaço acabou se tornando um “acontecimento”. Os protestos cresceram para além do movimento social que pautava o acesso ao transporte público, com a aparição das táticas black bloc e dos chamados movimentos “anticorrupção” (e antipetistas).
A Revista Fórum entrevistou três ex-militantes do MPL, que contam a história do movimento que colocou o direito ao transporte na ordem do dia. “Sabe as grandes pautas nacionais? Educação, saúde, segurança e saneamento? Então, desde 2013 o transporte [e pautas adjacentes como o acesso à cidade] está na ordem do dia. Antes isso era impensável”, concordam os três entrevistados.
São eles: Victor “Khaled” Calejon, que foi metroviário em São Paulo, onde começou a militar no MPL ainda em 2005, logo após sua fundação, mudando-se para Florianópolis em 2007, onde militou pelo MPL-Floripa até sua extinção, em 2016, e formou-se mestre em geografia pela UFSC com a tese “Do Passe Livre Estudantil à Tarifa Zero”; Pedro Brandão é sociólogo, atualmente milita no MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), esteve na reunião em que o MPL foi fundado (no Fórum Social Mundial de 2005 em Porto Alegre) e saiu do movimento após 2013; e André Ciola, que não era exatamente do suposto “núcleo duro”, mas participou de grupos que orbitavam o MPL, além de ser, até hoje, uma importante figura da bateria do movimento.

Influências
Pedro explica que a principal inspiração para os fundadores do MPL foram os chamados “movimentos antiglobalização” do final dos anos 1990. À época, vivia-se uma campanha de mobilizações globais contra diversos aspectos do neoliberalismo. No Brasil, a pauta era defensiva em relação ao então governo FHC, contrária a privatizações, e, mais adiante, já com Lula no poder, o objetivo era barrar a entrada do Brasil na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Havia duas organizações de maior expressão em São Paulo que estavam antenadas nos processos globais e ajudando a organizar mobilizações por aqui: a Ação Global dos Povos (AGP) e o Centro de Mídia Independente (CMI). “As pessoas que participaram da AGP nos formaram politicamente”, conta.
Khaled explica a importância do CMI para esse processo. O grupo, composto por coletivos espalhados pelo país, oferecia um site dividido em três colunas: a da esquerda trazia links dos CMIs (Indymedia) de todo o planeta; a do meio, os textos editoriais produzidos pelos coletivos brasileiros que cobriam as lutas sociais do período; e a da direita oferecia um espaço de publicação aberta para qualquer usuário que produzisse qualquer conteúdo crítico ou informativo. Em 2000 isso era algo realmente revolucionário, afinal de contas a internet mal chegava aos jornalões e a televisão dominava o imaginário popular. Além disso, o CMI cumpriu um importante papel de articulação política, ainda que indireta ou involuntariamente, entre diversos movimentos sociais e coletivos temáticos que surgiam por fora do escopo da esquerda tradicional.

“O MPL e esses coletivos atraíram uma juventude que já participava ou se inspirava nesses movimentos chamados de antiglobalização. Havia naquele momento, sobretudo após a posse do Lula, uma percepção de que a Carta aos Brasileiros tinha um efeito apaziguador nos movimentos sociais tradicionais, justamente como um ajuste à permissão para que um operário ocupasse o Palácio do Planalto. Mas ainda havia lutas a serem feitas à revelia da institucionalidade, entre elas a do transporte”, explica Khaled.
Nesse contexto, em 2003 as passagens de ônibus aumentaram em Salvador em 50 centavos. Estudantes então se organizaram, produzindo uma revolta que parou a capital baiana em agosto daquele ano. O documentário A Revolta do Buzu, dirigido pelo cineasta argentino Carlos Pronzato, conta a história em detalhes. A passagem não voltou ao 1 real inicial, mas os estudantes conquistaram uma série de direitos, como o de pagar meia passagem durante o ano inteiro, antes suspenso nos meses de férias escolares.
Em 2004, diversas revoltas contra o aumento das passagens tomaram várias capitais brasileiras e, dessa vez, em Florianópolis houve ampla adesão popular e estudantil, especialmente dos secundaristas. A passagem baixou e o passe livre estudantil foi conquistado. “O Brasil é um país tão complicado que foi preciso fazer uma revolta sem precedentes em Florianópolis, um princípio de insurreição praticamente, para que o governo topasse discutir a redução da tarifa do transporte”, avalia Khaled.
No mesmo ano, em São Paulo, foi criado o Comitê de Luta Contra o Aumento, que empregou uma campanha contra um aumento de passagens anunciado para o ano seguinte. “A primeira invasão do Terminal Bandeira, no final de 2004, nos dá sensação de que conseguíamos fazer mobilização e disputar o movimento pra valer com organizações tradicionais como a UNE. Então, em 2004, temos o Comitê de Luta Contra o Aumento, o CMI e uma série de coletivos oriundos da AGP e outros movimentos sociais, que se reúnem no Fórum Social Mundial, em 2005, e, [a partir das] discussões sobre as recentes mobilizações por transporte, fundam o Movimento Passe Livre nacional”, relembra Pedro.
Primeiros anos (2005-2010)
O recém-fundado MPL tinha alguns critérios de adesão que qualquer um que aceitasse poderia montar um coletivo no próprio bairro ou cidade. A formação dessas células se concretizava, para além da adesão aos princípios – horizontalidade, apartidarismo e outros –, com a visita de um coletivo já consolidado, de um bairro ou cidade próxima, que validava a nova organização e a incluía em uma lista de e-mail nacional – o canal pelo qual os coletivos de diferentes localidades se comunicavam no dia a dia e onde era debatido o calendário nacional de lutas, entre outros assuntos.
“A primeira manifestação que nos fez sentir o nosso tamanho foi em 2006, porque em 2005 o movimento havia acabado de começar e só conseguimos fazer um protesto para demarcar a insatisfação sobre o aumento daquele ano. Juntamos uma centena de pessoas. Mas entre 2005 e 2006 fizemos bastante trabalho de base nas escolas. Nossa pauta ainda era o passe livre estudantil; pouco tempo depois adotaríamos a tarifa zero como reivindicação principal. Tínhamos decretado o 26 de outubro como o Dia de Luta pelo Passe Livre Estudantil e realizamos três dias de luta em torno dessa data. Então, do início em 2005 para as jornadas de 2006, o MPL já havia ganhado corpo”, explica André Ciola.
Houve manifestações em 2005, quando o ônibus saiu de R$ 1,70 para R$ 2,00; em 2006, quando foi a R$ 2,30; e novamente em 2010, quando a tarifa subiu na capital paulista para R$ 2,70.

“Nesses intervalos de tempo, por mais que houvesse um refluxo dentro do próprio coletivo do MPL, foi feito um amplo trabalho de base nas escolas de São Paulo. Isso formou muita molecada que começava a aderir e mobilizava os seus colegas de escola. Só que isso tem validade, porque logo essa pessoa vai sair da escola, ir para o mercado de trabalho e tende a largar a mobilização. Foi um trabalho constante”, recorda Pedro.
André Ciola concorda: “Nos dividíamos em comissões, e cada comissão visitava algumas escolas. Muitas vezes os professores abriam cinco ou dez minutos da aula para falarmos com os alunos, em outras ocasiões marcávamos uma conversa coletiva após a aula. Basicamente falávamos da importância de o transporte ser gratuito para que o estudante pudesse não apenas estudar, mas dar conta de todos os aspectos da sua vida, e que isso era uma obrigação do poder público. Também conversávamos sobre como era participar de um movimento social. Esse era o nosso trabalho de base naquela época, ou melhor, de agitação”.
Ciola, Pedro e Khaled explicam que, em 2006, quando a tarifa aumentou, o MPL formou a Frente de Luta Contra o Aumento, que era basicamente uma rede de reuniões presenciais e listas de e-mails que facilitavam a articulação do MPL com associações estudantis, sindicatos e movimentos sociais “adultos”. Ou seja, uma “agitação” diversa daquela feita nas escolas.
Nessa época, o engenheiro e ex-secretário de transportes de São Paulo Lúcio Gregori se aproximou do movimento. Convidado em 2006 a dar uma aula pública sobre transporte público no 3º Encontro Nacional do MPL (os primeiros haviam ocorrido em 2005), o formulador da pauta da tarifa zero fez duras críticas à reivindicação principal do movimento, que ainda era o passe livre estudantil.
“Eu disse que o movimento deles era reacionário porque, quando se pede a gratuidade para estudantes, na prática é aumentada a tarifa do usuário comum para bancar a gratuidade. Então expliquei para eles a tarifa zero, eles a adotaram como pauta reivindicatória, e o assunto, que estava esquecido desde os anos 1990, renasceu. Hoje temos mais de 70 cidades brasileiras que já têm a tarifa zero, e em todos os casos a demanda de passageiros duplica ou triplica”, disse Lúcio Gregori à Fórum. A proposta voltou a ser pautada no Congresso Nacional no último mês pela deputada Luiza Erundina (PSOL-SP), por meio da PEC 25/23.
“Amanhã vai ser maior” (2010-2012)
A adoção da tarifa zero como a principal pauta reivindicatória e horizonte do MPL o alçou a um novo patamar. Já em 2010 a campanha pareceu mais encorpada. Fundiu-se com outros movimentos que também tomavam as ruas, como as reivindicações ambientais contrárias à usina de Belo Monte, movimentos contra a violência policial e o encarceramento em massa, como o Tribunal Popular, e a própria Marcha da Maconha – que saía da defesa liberal da legalização de uma droga específica para uma crítica que vincula o genocídio das juventudes periféricas à política de drogas tutelada pela chamada bancada da bala. Era um momento em que tais pautas fervilhavam na maior cidade do país. E eram disputadas por diversos grupos políticos e ideológicos.

No ano seguinte, em 2011, após novo aumento, é consenso entre os entrevistados que o movimento obteve a sua primeira grande vitória, ainda que simbólica. Mesmo sem ter conseguido barrar o aumento que elevou as tarifas para R$ 3,00, o MPL foi capaz de se mobilizar em conjunto com uma ampla gama de outros movimentos e grupos, que iam de secundaristas a partidos, como PSOL e PSTU, passando por uma série de pequenos coletivos de mídia, movimentos de bairro e sociais. Também havia adesão de sindicatos ou dissidências sindicais, como no caso de professores e metroviários mais adiante. Foi em 2011 que a campanha pela tarifa zero foi lançada com as presenças de Luiza Erundina e Lúcio Gregori, entre outros.
“Em 2011, o MPL tinha mais controle e habilidade política para articular essa rede de lutas que se formou. Fizemos das vidas do Kassab e do Serra um inferno, e fomos ferozmente reprimidos pela PM. Mas a articulação era fluída. Eu mesmo me aproximei da Marcha da Maconha porque era maconheiro e valorizava o trabalho deles. Então chego lá com a experiência de mobilização e debate do MPL, recebo a deles também, e assim vai se dando a interação entre os movimentos”, explica Pedro.
Durante vários meses de 2011, gente ligada ao MPL esteve presente no “Acampa Sampa”, correlato paulistano do Occupy Wall Street. Embora a movimentação não tenha obtido vitórias práticas contra o sistema financeiro global, ao menos foi um espaço bastante útil para a formação política e o fortalecimento das articulações entre os mais diversos movimentos e correntes.
Ciola, sempre presente na bateria do MPL, reforça a importância da banda musical na articulação política do movimento. “Sempre íamos tocar nos protestos de outros movimentos, chamados por eles. O MPL demorou para se associar à Marcha da Maconha por receio de ‘pegar mal’ na opinião pública, mas, mesmo antes dessa parceria, já tocávamos em atos de movimentos de moradia, por exemplo. E nessas ocasiões pedíamos para as pessoas virem também nos nossos atos.”

Entre 2010 e 2011, a Marcha da Maconha havia sido proibida pelo Judiciário e brutalmente reprimida pela PM. Foi graças à articulação entre esses movimentos paulistanos que a Marcha da Liberdade, criada para que a Macha da Maconha fosse descriminalizada pelo poder público, obteve sua vitória no primeiro semestre de 2011 para, em seguida, uma enorme Marcha da Maconha tomar a Avenida Paulista no segundo semestre.
Em 2012, de acordo com dados do Dieese, o Brasil registrou o maior número de greves da sua história até então: 873. O número catalogado pelo instituto desde 1997 já confirmava uma tendência do aumento de greves a partir de 2008. No mesmo ano, coletivos que orbitavam o MPL, entre eles o próprio CMI, estiveram se movimentando contra, por exemplo, a sanguinária reintegração de posse do bairro Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, entre outras mobilizações. Foi com esse contexto e acúmulo que o MPL chegou a 2013.
“Pra mim estava claro que, a hora que aumentasse a tarifa, a luta ia ser gigante. Qualquer pessoa que tinha participação orgânica dentro do Passe Livre estava com isso evidente. A gente sabia que seria uma luta muito grande contra o aumento. O que a gente não sabia é que seria tão grande, ou melhor, não sabíamos o que era ‘ser grande’ na prática. Nos anos anteriores, em toda mobilização, o MPL estava presente e, de quebra, ainda mandava a bateria do movimento para agitar as demais mobilizações. Era o MPL que já tinha experiência e conhecimento sobre mobilização de rua e ele levava isso para os demais movimentos, criando uma rede de fortalecimento. Sabíamos que essa interrelação teria efeito, assim como o trabalho de base nas escolas, e que o fluxo de lutas estava numa crescente. Eu tinha certeza que, se aumentasse a tarifa, nós conseguiríamos derrubá-la”, resume Pedro.
As Jornadas de Junho
Ainda em janeiro de 2013, os entrevistados lembram que cidades da Grande São Paulo como Taboão da Serra, São Caetano e Osasco já haviam se rebelado contra os aumentos no transporte intermunicipal em manifestações consideradas grandes. Em abril, Porto Alegre barrou um aumento de tarifa e outras capitais ainda tiveram suas jornadas contra tarifaços antes de São Paulo. Mas foi na capital paulista que a coisa tomou proporções sem precedentes.
Anunciado em 2 de junho, o aumento da tarifa para R$ 3,20 rapidamente mobilizou o Movimento Passe Livre local, que já havia feito jornadas semelhantes em 2005, 2006, 2010 e 2011. No dia 6 de junho ocorreu a primeira manifestação do grupo, em uma tarde fria de quinta-feira, no Teatro Municipal, no centro da cidade. O PSOL, o MTST e os metroviários tinham declarado apoio à jornada e, já no primeiro ato, 11 pessoas foram detidas pela repressão policial em reação à tomada da Avenida 23 de Maio, uma das principais vias da cidade.

No dia seguinte, em mais uma tarde fria daquele junho de 2013, uma nova manifestação se formava no Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ainda tímida, contava com pouco mais de 4 mil pessoas. Quando tentou tomar a pista local da Marginal Pinheiros, uma nova repressão policial se abateu sobre o movimento. Foi a primeira vez que manifestantes se organizaram às pressas em torno da tática black bloc – herdada dos antigos movimentos antiglobalização – para resistir à repressão. Após o ato, um promotor público fez uma infeliz postagem chamando os manifestantes de “bugios” e pedindo a morte deles. Ele havia ficado preso no trânsito.
Nos dias subsequentes, o discurso dos meios de comunicação apontava para a criminalização das Jornadas de Junho. A narrativa falava de um movimento composto exclusivamente por vândalos “que queriam destruir a cidade”. Em 10 de junho, o prefeito Haddad (PT) e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) viajaram juntos a Paris para oficializar a candidatura da cidade ao Expo 2020, enquanto o promotor do dia 7 era alvo de um inquérito pelas suas declarações.
No dia seguinte, 11 de junho, um terceiro ato se formou, muito maior do que os anteriores, como se os acontecimentos dos últimos dias tivessem trazido mais combustível. Nesse dia, a Juventude do PT aderiu ao movimento e um tarifaço foi revogado em Goiânia, dando mais fôlego ao MPL de São Paulo. A repressão policial foi bruta, sobretudo quando os mais de 15 mil manifestantes entraram, sem permissão, no Terminal Parque Dom Pedro II. Dezenas deles foram detidos e liberados nos dias subsequentes. No dia 12, as redes sociais foram completamente povoadas por relatos de violência policial, enquanto os jornais estampavam imagens de policiais feridos por pedradas.
Nesse contexto, na manhã de 13 de junho (quinta-feira), os jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo chegaram às bancas com editoriais chamando os manifestantes de vândalos e cobrando providências do governador e da Polícia Militar. O resultado é que nessa noite, no quarto ato contra o aumento das tarifas, na região da Avenida Paulista e Rua da Consolação, houve uma repressão policial muito mais bruta que a anterior. Essa é a noite em que o fotógrafo Sérgio Silva perdeu um olho ao ser atingido por bala de borracha. Também é a noite em que imagens divulgadas nas redes sociais mostraram policiais militares direcionando balas e bombas a grupos de jornalistas identificados. E o que já havia crescido e contava com cerca de 20 mil a 30 mil pessoas nas ruas cresceu ainda mais nos dias subsequentes em resposta à repressão policial.
Também naquela noite de 13 de junho ocorreu a icônica enquete do apresentador José Luiz Datena. Ao questionar seus telespectadores se eram a favor de protestos violentos, surpreendeu-se com um sonoro “sim”. Refez a pergunta e, novamente, percebeu que a audiência estava a favor dos manifestantes.
A repercussão em organismos internacionais de direitos humanos daquilo que foi definido como “estratégia de guerra da PM” por Pablo Ortellado, Elena Judensnaider, Luciana Lima e Marcelo Pomar (no livro “Vinte Centavos – A Luta Contra o Aumento”) somada à publicação de pesquisas que mostravam o apoio da população ao movimento e a completa hegemonia dos protestos nas redes sociais fizeram com que a imprensa mudasse a sua cobertura. Nesse meio tempo, novos atos eram organizados pelo MPL, quase que diários e com cada vez mais participantes.
“Apanhamos muito e, se em outros anos isso teria desmobilizado, nesse ano mobilizou ainda mais as pessoas. Os PMs agrediram uma jornalista da Folha, que apareceu dando entrevista com a cara toda destruída e causou uma enorme comoção na mídia. Agora, penso que a mídia aproveitou o momento para desgastar o governo Dilma”, lembra Ciola.
Na segunda-feira (17), o governador Alckmin determina o fim da repressão e, junto com Haddad, passa a se reunir com o MPL para combinar regras e trajetos. Nesse dia, o quinto grande ato ultrapassa as 100 mil pessoas e começam a pipocar grandes atos em todo o Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, colocava outras 8 mil pessoas nas ruas nessa data. Paralelamente a isso, a pauta original ia se perdendo no meio do turbilhão de reivindicações que surgiam com os novos contingentes de manifestantes.
Na quarta-feira seguinte (19), as chamadas “pautas difusas”, de acordo com a obra organizada por Pablo Ortellado, já se proliferavam pelo país e ganhavam destaque na imprensa, quando Haddad e Alckmin anunciam a redução das tarifas em São Paulo.
Em meio à festa que o MPL chamou para celebrar a vitória, começaram a aparecer grupos anticorrupção, repaginados em tentativas patéticas de imitar a estética do MPL. Nessa mesma noite, o movimento anuncia que iria parar de organizar grandes manifestações no centro da cidade e retornar ao trabalho de base mirando uma futura luta, não mais contra tarifaços, mas pela tarifa zero.

“[O ano de] 2013 deixa dois legados na minha opinião: um é que a mobilidade urbana virou um tema obrigatório na política brasileira; e, dois, que coloca o problema da escala. Nós mesmos tivemos de lidar com esse problema. Estávamos acostumados a no máximo 5 mil ou 6 mil pessoas nas ruas. Quando tínhamos 50 mil ou 100 mil era realmente um problema do ponto de vista da nossa inexperiência. Além disso, se antes protestos menores com discursos bem argumentados podiam surtir algum efeito, agora só seria possível ver qualquer melhoria levando uma verdadeira massa para as ruas”, avalia Pedro Brandão.
“O MPL se retira das ruas do centro após a vitória em 19 de junho porque a gente entendia que não tinha mais o controle delas. Foi um grande alívio essa saída do centro. Só que no pós-2013 aparece um monte de grupo, um monte de coletivo, um monte de gente querendo se organizar, grupos de amigos querendo se organizar, grupos de afinidade que se juntam por afinidades pessoais etc. E aí, nessa situação, se você não tem um referencial de formação política para essa galera, a coisa fica complicada, entende? Por isso que uma parte desses grupos são capturados pela direita. Aquele papo de ‘o gigante acordou’ era real, mas me parece que o gigante acordou de ressaca, sem entender direito quem ele era, onde estava e o que fazia”, completa Pedro.
Ciola, por outro lado, valoriza a decisão de sair do centro. “Voltamos a fazer trabalho e atos nas periferias e, a partir de agosto, junto com os metroviários, voltamos ao centro para pautar a tarifa zero. Entendo que quem via de fora sentia que estávamos saindo de cena, mas não era assim. E, além disso, a exaustão dessas duas semanas de intensas jornadas também explica a decisão do movimento.”
“Fim de um ciclo de lutas”
“Entendo as Jornadas de Junho de 2013 como o fim de um ciclo de lutas que começou em 2011 e do qual o MPL foi a principal organização. Começa na luta contra o aumento de 2011, que tinha sido a mais potente até então, passa por Pinheirinho, marchas da liberdade, a repressão na marcha da maconha, indo num ciclo que eclode em 2013. Mas, apesar de vitórias pontuais, acredito que saímos derrotados, e não apenas pela repressão, que foi bruta, ou pela manipulação da narrativa que se seguiu, mas por nós mesmos, que entramos em uma espécie de recuo”, avalia Pedro.
Para ele – que hoje atua no MTST e vê nele um movimento híbrido, que mistura táticas e ideias que tiveram sucesso no MPL com o projeto democrático-popular –, quando o Passe Livre ocupou seu lugar no debate público foi o momento em que diversos movimentos ditos “anticorrupção”, com uma pauta de direita, tentaram pegar carona. Os demais entrevistados concordam com a tese.
Ciola relembra o desinteresse da mídia antes e depois de 2013 no movimento. “Antes de 2013, teve jornalista machucado pela PM, por exemplo, e depois também. Mas foi só em 2013 que isso mobilizou a imprensa. Acredito que tinha mais interesses em jogo. Se é para culpar alguém pelo impeachment da Dilma, deveriam olhar para a grande imprensa, entre outros atores, e não para o MPL. Havia esse interesse em desgastar o governo por parte desses setores que não fazem parte do nosso escopo. E, depois de 2013, continuar dando voz a movimentos incontroláveis, como o nosso, não era mais interessante nem para a direita, que já havia conseguido inverter essa narrativa, e nem para a esquerda, na forma do PT, que entrava em um momento de autopreservação dentro da institucionalidade.”
Victor Khaled também acredita que esse contexto, envolvendo interesses da imprensa, tucanos e lavajatistas, por um lado, e de petistas do outro, foi o motor para as disputas de narrativas que fizeram com que diversos setores antes alheios às mobilizações se sentissem na necessidade de disputá-las, ora no debate público, ora nas ruas.
“Se pensarmos pelo âmbito dos governos petistas, o projeto de desenvolvimento e atenção social era frágil e dependia de uma economia forte. Os avanços dos anos anteriores também fizeram a população querer mais direitos, como o direito ao transporte. Só que essas mobilizações estavam hegemonizadas pelo MPL, e as organizações vinculadas ao PT não as controlavam – nem elas e nem a direita. Éramos uma esquerda autônoma, e isso nunca agradou ao PT, que lidava à época com uma insatisfação na sua juventude decorrente da desmobilização das bases após a Carta aos Brasileiros. Em paralelo tinha os interesses dos tucanos e da grande mídia, que queriam emplacar os movimentos anticorrupção, e que depois desdobraram em todo o circo da operação Lava Jato. Esse setor também não estava contente conosco nas ruas, porque queria passar pautas como as reformas trabalhista e da previdência, que nós éramos contrários – nós e também o PT. Nesse sentido, a direita aliou, num momento que trazia uma desmobilização decorrente das intensas lutas, o que seria na visão deles o ‘útil’ – nos tirar das ruas – e o ‘agradável’ – colocar em nosso lugar uma massa que pressionaria o governo do PT em favor dos seus interesses –”, analisa Khaled, que hoje avalia o princípio do “apartidarismo” adotado pelo MPL ao longo dos anos como um erro do movimento, ainda que fizesse sentido quando elaborado no início do século 21.
“O próprio MBL (Movimento Brasil Livre) vem e sequestra a sigla do MPL, de forma deliberada, proposital e com alguma facilidade – e acho que o nosso movimento não deveria ter deixado tal coisa acontecer. Devíamos ter feito algo a respeito disso, e não fizemos. Tem uma efervescência de movimentos a partir de 2011, mesmo ano que o MBL diz ter sido fundado, e que a esquerda trazia muitas mobilizações que viam no Passe Livre uma organização protagonista. Essas lutas abrem uma brecha, ocupam as ruas e o debate público, e, quando são expulsas dos mesmos espaços, pela imprensa tradicional e pela própria polícia, fica o caminho aberto para essa direita que até hoje quer reivindicar para si aquele período. É um erro dar-lhes isso”, conclui Pedro.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.