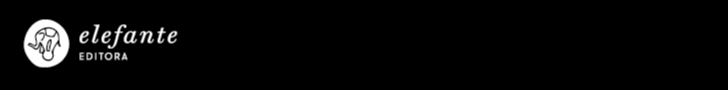Crise financeira global: quem pagará a conta?
Publicado 15/03/2008 às 11:25 - Atualizado 10/12/2018 às 15:48
A perspectiva de uma nova redução da taxa básica de juros norte-americana (talvez de um ponto percentual) está estimulando uma ligeira alta nas bolsas de valores de todo o mundo, nesta terça-feira (18/3). Nada indica, porém, que os graves desequilíbrios que provocaram uma nova onda de tremores, entre o final da semana passada e ontem, tenham sido sanados. Ao contrário: a decisão mais importante da reunião de emergência, realizada no domingo, pelo banco central dos EUA (o FED), foi autorizar empréstimos de socorro também ao chamado “mercado financeiro das sombras” (shadow financial market), que não está submetido a regulamentação ou controle por instituições públicas. Esta medida, mais o crédito de 30 bilhões de dólares oferecido ao banco JPMorgan/Chase, para que comprasse o banco de investimentos Bear Stearns, revela que o FED está apavorado. O temor principal é que mesmo a quebra de uma instituição financeira de médio parte (como o Bear Stearns) desencadeie um dominó de calotes, com desdobramentos imprevisíveis.
A última série de insolvências começou na quinta-feira passada, (13/3), quando o fundo hipotecário Carlyle Capital Corportion (CCC), um dos mais importantes dos Estados Unidos, entrou em colapso. Na sexta (14/3), o Bear Stearns, quinto maior banco de investimentos do país, deu sinais de que não tinha meios de atender nem a seus compromissos financeiros, nem aos investidores que desejavam resgatar suas aplicações.
Os dois casos são emblemáticos. Ligado ao Grupo Carlyle (um gigante das finanças norte-americanas), e tendo em seu conselho personalidades como o ex-presidente George Bush (o pai), o CCC possuía ativos avaliados em 21 bilhões de dólares. Parte deste patrimônio, porém era constituída de títulos hipotecários que perderam valor, com a onda de inadimplências no setor imobiliário. Em conseqüência, o CCC deixou de honrar, nos últimos dias, compromissos de US$ 400 milhões, não conseguiu chegar a acordos com seus credores e tornou-se ele próprio insolvente.
A dúvida: até onde a espiral de calotes continuará se expandindo?
O redemoinho que devorou o Bear Stearns é ainda mais impressionante. Ainda na sexta-feira, depois do anúncio de suas dificuldades e de uma queda de quase 50% na cotação de suas ações, o valor de mercado do banco era de 3,5 bilhões de dólares. Só sua sede magnífica é avaliada em US$ 1 bi. Mas a instituição foi entregue ao JPMorgan/Chase, no domingo, por apenas US$ 236 milhões. Mesmo assim, e apesar da garantia de US$ 30 bi oferecida pelo FED, “é muito cedo para dizer que foi um bom negócio”, advertiu a revista Economist. Não se sabe o volume das perdas do Bear Stearns com títulos baseados em hipotecas imobiliárias. A dúvida é: até onde a espiral de calotes continuará se expandindo?
Há um agravante: a inadimplência está tornando o crédito, nos EUA, mais escasso e mais caro, como mostrou este blog há alguns dias. A dificuldade de levantar dinheiro pode transformar-se numa bola-de-neve, desencadeando novas falências e restringindo ainda mais as operações financeiras, numa sinergia sinistra. Os problemas têm colocado cada vez mais em evidência o analista turco-norte-americano Nouriel Roubini, que considera necessário incluir, entre os desdobramenos possíveis da crise, o “derretimento do sistema financeiro”.
Num comentário postado quarta-feira, em seu blog, o próprio Roubini sugere que “qualquer solução efetiva para o desarranjo dos mercados de crédito vai requerer envolvimento do Estado em escala muito maior”. É uma constatação de enorme importância poítica. Primeiro, porque enterra um dos grandes mitos da era neoliberal: a suposta capacidade dos mercados para regularem a si próprios e à vida social. Segundo, porque coloca em pauta o sentido da ação a ser adotada contra a crise. Se cabe ao Estado evitar o colapso financeiro, se as finanças não são capazes de salvar a si próprias, então, em teoria, a sociedade teria o direito de debater como a intervenção deve ser feita.
Até o momento, todas as iniciativas estatais adotadas significaram vultosas concessões aos próprios mercados. Na terça-feira (11/3), dois dias apenas antes do colapso do CCC, o presidente do FED Ben Bernanke, havia anunciado a abertura de mais uma linha de crédito — agora de 200 bilhões de dólares — em favor das instituições financeiras. Numa atitude raras vezes adotada por um banco cental, o FED aceitará, como garantia para os empréstimos que concederá, até mesmo bônus imobiliários que sabidamente podem não ser resgatáveis. É a terceira medida semelhante desde agosto só nos EUA. Os bancos centrais europeu e japonês também injetaram centenas de bilhões em suas economias, até o momento sem nenhum resultado efetivo.
“A pior crise desde os anos 1930. Um evento político decisivo”
Martin Wolf, um festejado colunista do diário britânico Financial Times alerta, num comentário publicado esta quarta-feira (12/3): “prejuízos de US$ 2 trilhões a US$ 3 trilhões [são os cálculos de Nouriel Roubini sobre os efeitos da crise] descapitalizariam o sistema financeiro. O governo teria de resgatá-lo. O meio mais plausível de fazê-lo seria nacionalizar todos os prejuízos. (…) A decisão teria imensos desdobramentos. Teríamos a pior crise financeira do país desde os anos 1930. Seria um evento político decisivo”.
Você leu corretamente. Nos mercados financeiros globais, já se discute a hipótese de uma mega-operação de salvamento do sistema, algo imensamente superior ao Proer brasileiro, que saneou três bancos com recursos públicos logo após a adoção do Plano Real, em 1994. Por enquanto, porém, o resgate é discutido sem alarde. Não se fala sobre ele nos Parlamentos, nas entrevistas coletivas dos ministros, no horário nobre da TV. Em democracias de baixa intensidade, como as que vivemos, ele seria normalmente apresentado como a única alternativa para evitar o colapso, o remédio amargo que a sociedade será forçada a engolir para evitar um mal pior. Por exemplo uma quebradeira de empresas em larguíssima escala, capaz de paralisar a economia e jogar rapidamente milhões de trabalhadores no desemprego.
O “derretimento” do sistema financeiro teria de fato conseqüências trágicas — mas o socorro aos bancos não é a único remédio contra ele. Tanto nos EUA quanto na Alemanha, a crise dos anos 1930, por exemplo, foi enfrentada principalmente com ações do Estado direcionadas para a geração de emprego e a redistribuição de renda. Em conferência recente, nos EUA (publicada por Le Monde Diplomatique Brasil), a escritora e cientista política Susan George sugeriu, como alternativa para o colapso, um “keynesianismo ambiental”, cujo núcleo seriam obras e iniciativas públicas voltadas para a preservação do planeta (como ferrovias, centrais elétricas eólicas, metrôs, etc). O próprio Martin Wolf lembra, no Financial Times: uma possível saída para a crise atual seria “elevar as rendas nominais” — mesmo se resultasse no “tributo da inflação”, que “em circunstâncias extremas deve ser atraente”.
Uma particularidade no cenário internacional amplia as esperanças de escapar do pensamento único, e imaginar uma solução como a proposta por Susan. Os EUA, epicentro da crise, vivem uma conjuntura quase única: eleições presidenciais coincidem com a sensação de empobrecimento e isolamento internacional. Não seria uma grande oportunidade para questionar a saída ortodoxa de salvar a banca, e propor alternativas capazes de construir outro sistema financeiro?
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.