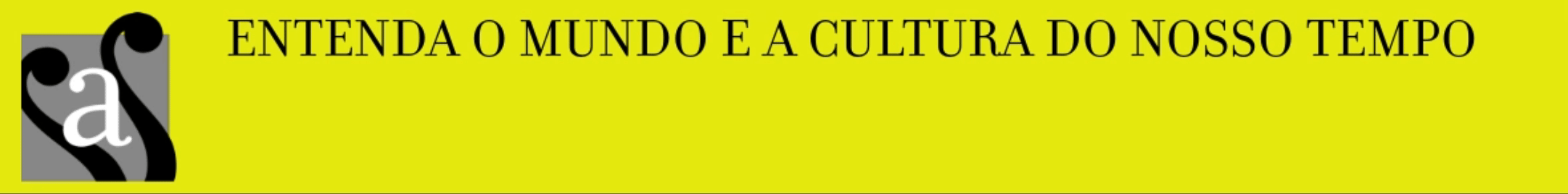As sonoridades das lutas libertárias
Radical Records, que será lançado em breve, é uma enciclopédia sobre selos e gravadoras independentes, entrelaçando revoluções… políticas e musicais. Do rock ao noise, jazz e samba, reflete sobre consumo e cultura, dos vinis aos atuais monopólios de streaming
Publicado 05/11/2024 às 18:42

Rodrigo Corrêa em entrevista a Marco Aurélio, na Revista Opera
Amílcar Cabral, em sua clássica análise sobre o papel da cultura na libertação nacional, afirmou que essas lutas, em geral, são precedidas por uma “intensificação das manifestações culturais, que se concretizam progressivamente por uma tentativa, vitoriosa ou não, da afirmação da personalidade cultural do povo dominado como ato de negação da cultura do opressor”. A afirmação do histórico líder da libertação de Guiné-Bissau e de Cabo Verde demonstra que, em tempos de luta fechada, que precedem a luta em aberto, a cultura tem papel de centralidade nas primeiras manifestações de combate ao invasor colonial. Quando a luta se abre, a cultura continua a desempenhar diversos papéis, tanto no campo da propaganda política quanto na resistência. Se olharmos com atenção, Radical Records, por meio da sua função enquanto coletânea e enciclopédia, demonstra que essas duas formas de reação estão contidas em centenas de lutas ocorridas ao longo do século 20.
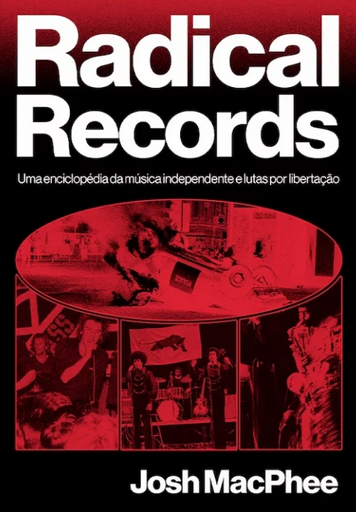
Josh MacPhee, ao longo de quase 300 páginas, repletas de verbetes, logotipos, histórias e sonoridades – do rock ao noise, do jazz ao samba –, conta a história da segunda metade do século 20, o século das revoluções socialistas e de libertação, usando como pano de fundo os selos independentes que se organizaram em torno das batalhas da classe trabalhadora e das identidades oprimidas. Com tradução de Marcelo Viegas e prefácio de André Maleronka, o livro chega pela primeira vez ao Brasil por meio do selo sobinfluencia edições, em uma campanha de financiamento coletivo.
Diante desse grande momento para o círculo editorial da esquerda revolucionária, conversei com Rodrigo Corrêa, graduado em história, podcaster no Balanço e Fúria, e coordenador editorial da sobinfluencia, sobre a importância do lançamento do Radical Records no Brasil, as lutas de libertação abarcadas pelo livro, as visões do autor sobre a música digital e o streaming, as possibilidades e desafios da cultura revolucionária no Brasil frente ao mercado e a expansão do neoliberalismo, e o fim do vinil. A entrevista segue.
Eu quero começar essa entrevista falando sobre o recorte temporal do livro, que vai dos anos 1970 aos anos 1990. Usando a tese das quatro ondas revolucionárias do Eric Hobsbawm, podemos situar essas produções catalogadas entre a terceira e a quarta onda revolucionária. E nessas duas últimas ondas revolucionárias, os protagonistas são os países do então Terceiro Mundo. É notável a análise do autor sobre o engajamento político dos artistas nas lutas revolucionárias, tanto socialistas como de independência nacional, em contrapartida com o que ele vê no punk dos anos 2000 como uma estetização da política. Como você entende o papel das artes na mudança de mentalidade e material no curso das lutas revolucionárias, e o que podemos aprender com o século XX, tanto no âmbito da revolução como no campo das artes revolucionárias, especialmente a música?
Partindo de uma leitura um pouco pessoal, eu tive dois momentos de enxergar a arte e o potencial da arte enquanto um instrumento político. Num primeiro momento, eu me interessava, basicamente, numa arte que se propunha engajada ou militante, na sua forma ou conteúdo. Num segundo momento, eu já achei que era atribuir uma responsabilidade muito grande pra arte exigir que ela seja assim, stricto sensu, e passei a achar que ela tinha que ser como ela deve ser e foda-se. Tanto que eu acho que boa parte do que me interessa, esteticamente, tem uma camada menos visível de crítica ou de política. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que, sei lá, o rap que me interessava, ele também era o Dead Prez, mas, de certa forma, era mais o A Tribe Called Quest, o The Pharcyde… no Brasil, era o Clã Nordestino, o Sarksmo & Choco, mas também era o Contrafluxo. Só que, atualmente, eu tenho achado que o desafio colocado politicamente para as massas é o desafio de querer viver. Assim: quais são as vias que nós temos, que podem fazer com que a gente tenha desejo de vida, desejo de gozo, enfim. A gente vive com uma sombra de fim do mundo, de precarização, de fim de alternativa, e poucas coisas estimulam a nossa comunhão, a nossa congregação. E eu acho que, hoje em dia, a arte e a fé talvez sejam os dois principais campos que mobilizam massas números para se produzir, se criar, se compartilhar. Eu incluo o esporte na arte; o futebol, enfim.
Eu acho que o século passado, esse recorte que o Josh [MacPhee] trabalha, é marcado por uma forma explícita, por uma condição material que não tem como você negar ou fugir. A revolução, os movimentos de libertação, as lutas por independência estavam soprando naquele momento, elas estavam ali acontecendo, a galera tava a milhão, expulsando (o capitalismo) à base da bala. Agora, em 2024, quando a gente olha pro nosso campo, qual é o aspecto material que nos serve de inspiração visual, estética e teórica, de coisas que estão em curso?
Então, eu acho que o papel da arte é dar insumo pra vida, pra que a gente sobreviva, encontre pessoas e consiga escapar do trabalho, da violência neoliberal, fascista e capitalista, e para que, nesse terreno, a gente possa germinar de novo uma potência que avance.
Eu acho que a esquerda está muito retraída enquanto agenda e programa, mas é muito mais sobre estética. A estética da direita é violenta, no sentido em que a nossa estética deveria ser violenta também, e não essa estética domesticada e dócil. Nos anos 1990 a gente tinha uma forma que colocava um grupo muito grande de jovens no campo da oposição ao status quo – que é o rap, é o punk, o reggae, o skate, a torcida organizada – que formavam um caldo de gente que não queria ser burguês. Era sobre não querer ser burguês, e hoje a cultura promovida é sobre querer ser burguês, propõe um estilo de vida burguês. E naquela época não era assim, e acho que nem o mainstream queria ser assim.
Eu também acho que, nos últimos dez anos, a coisa foi indo pra um caminho caricato, de emular o funkeiro e o rapper de esquerda. E naquela época, a cultura só era como era. O Racionais era como era, o Face da Morte, que era um grupo do interior de São Paulo, tinha músicas sobre o MST (Movimento dos Sem Terra) já nos anos 1990. Mas parece que, numa tentativa dos partidos (de esquerda) de incorporarem aquela coisa do “olha só como a gente também tá aliado nessa causa”, acabou surgindo essa caricatura. Pra mim, quando esses partidos se esforçam em elaborar um pouco a estética, eles não acertam ainda, fica meio fora. Assim como o sertanejo, que hoje ele só é de direita; ele não precisa fazer um esforço pra aderir ao programa político da direita, ele só é.
Mas, concluindo minha resposta, eu acho que o papel da arte e o desafio para quem produz arte, é o de promover vida. A gente recuou tanto que hoje vivemos no limiar entre sobreviver e morrer, e a arte é uma dessas coisas, algo que pode produzir vida.
Algumas lacunas do livro se dão, em parte, pela dificuldade de encontrar informações sobre determinados selos, países e movimentos sociais. Ao mesmo tempo, essas lacunas são consequência de certas escolhas do autor, como o foco em selos independentes, no formato vinil, e na opção de não incluir o hip-hop, pelo modelo de produção e distribuição que o gênero adotou, por circunstâncias históricas. Qual a importância de preenchermos essas lacunas, seja por meio de novas edições do livro – o que acredito não ser o objetivo, pela abordagem do autor –, ou de novas pesquisas que abarquem outros gêneros e formatos?
No caso do Josh, eu acho que ele vem fazendo esse esforço (de preencher essas lacunas), mas, talvez, não se reflita em outras edições da enciclopédia. Por exemplo, ele fez uma exposição sobre a história política dos Estados Unidos pautada no lançamento de discos, e aí entra um monte de discos que foram lançados também por grandes empresas da indústria fonográfica. Tem Public Enemy, KRS-One, tem todos os grandes discos de rap político do fim dos anos 1980 até meados dos anos 1990. Então, nessa exposição, ele inclui esse tipo de material que ficou de fora do livro.
Mas sobre o recorte do livro, aí eu acho que é mais uma questão de recorte do livro em si do que da pesquisa dele. O fato dele ter escolhido o formato vinil, e com critérios políticos muito bem definidos, fez com que um monte de coisa ficasse de fora. Mas, se a gente olhar um pouco para como ele desenvolve a pesquisa, ele lançou um zine – que não tem grandes descrições, e não é tão textual –, que é composto apenas por selos de grupos de rap, que não tem tantas coisas (como o Radical Records), mas tem lá esse zine com essas produções.
Agora, sobre a cena brasileira, que também é quase ausente do Radical Records – tem alguns artistas brasileiros, exilados políticos, com músicas lançadas por selos de outros países, mas nenhum selo brasileiro –, eu chamei o André Maleronka pra fazer o prefácio, porque a ideia era que ele incluísse mais o Brasil nessa história. Porque no Brasil, existem poucos selos que a gente pode classificar como selo político. Mas, ao mesmo tempo, tem muito selo que não era exatamente político, mas que publicou uma série de discos políticos, com pessoas politizadas. Nesse aspecto, dá pra pensar na Zimbabwe, Soul Grand Prix, coletâneas do que tocava nos bailes black, Banda Black Rio, o rolê punk, etc. Aí é um desafio nosso, da nossa geração, e eu acho que ele tem que ser amarrado, catalogado. Além disso, acho que existem iniciativas paralelas que caminham nesse sentido, como sua coluna da Revista Opera, o Balanço e Fúria, iniciativas que buscam suprir essas lacunas, e que podem vir a se tornar livro um dia.
Mas sobre o Radical Records, o Josh fez uma série de concessões, incluindo selos que não são tão engajados (politicamente) assim, mas que são americanos, e durante a edição e tradução, a gente sacou que ele fez isso pelos selos serem norte-americanos, que ele se relaciona com aquilo, e quis colocar na enciclopédia. Agora, todos os outros selos internacionais, pelo menos 70% deles, são selos com ligações políticas muito explícitas. Selos de sindicatos, de movimentos de libertação nacional, de partidos, de ocupações, de um monte de coisas muito politicamente densas. E aí, 30% dos selos são puramente musicais. Então ele foi muito criterioso com os selos de outros países, não entrando quase nada que não fosse selo envolvido com a militância.
Tem outro lance que eu conversei com o André Maleronka e o Marcelo Viegas no podcast (Balanço e Fúria), que é a sensação que eu tive, observando a relação do Josh com o vinil, que tem um ar de boomer na enciclopédia, pois, apesar de ser um livro foda, e que trate de coisas que a gente ama – politicamente e esteticamente –, eu fiquei com esse gosto na boca de que tem uma coisa tipo “na minha época era foda”. E não tanto pela elaboração do Josh, mas pelo objeto contido no livro (o vinil), do recorte temporal, e dos possíveis interessados no livro. Porque eu fiquei tentando conectar todos esses elementos – o vinil, as músicas politizadas, as lutas de libertação – com a geração Z, e fiquei meio perdido nisso. Então tem um desafio, uma lacuna e uma questão geracional colocada que é muito grande. Quando a gente volta pro nosso tempo, existe uma subjetividade neoliberal que, às vezes, parece imbatível, e a gente tá meio perdido nisso ainda. Ou seja, como que a gente pode começar a retratar o que está acontecendo agora, sem se remeter sempre a um passado idílico, em que “as coisas aconteciam”?
A estética que funciona na esquerda hoje – e eu penso que ela tá muito atrelada ao influenciador, ao youtuber de esquerda, que tem um discurso radical –, eu acho ela muito inócua, não acho daora o que se propõe culturalmente. E quando a gente olha para as produções estéticas que estão acontecendo na rua, por exemplo, é como se uma coisa estivesse acontecendo dentro de casa e outra na rua.
Eu acho que, quando a gente se desloca pro nosso tempo, as respostas ficam meio … não tem (resposta), né. E, pra mim, isso é algo angustiante.
Numa passagem da introdução, o Josh traz algo muito interessante quando trata do selos, que ele entende como uma palavra que vai englobar, em sua pesquisa, não apenas os selos no formato como entendemos hoje, mas também iniciativas de sindicatos, teatros, igrejas, partidos e estados regidos por um modo de produção pós-capitalista. Fazendo um contraste com nossa era, em que existem cada vez mais artistas independentes, mas que ainda dependem dos monopólios de distribuição de música, e nos debates que se seguem sobre alternativas anticapitalistas de consumo e distribuição de música, que lições podemos tirar dessas formas de criação musical, desde a música em sí, até o vinil?
Eu acho que essa questão, da alternativa para o monopólio do streaming, é algo que já aparece no livro Abalar a Cidade, ou seja, como que a gente pode produzir e consumir as coisas de outra forma. É bizarro pensar como o ambiente virtual, nos anos 2000, começa como um horizonte amplo de possibilidades, e em 2020, esse ambiente termina como o cemitério de qualquer alternativa que prospere fora do monopólio. Mas eu tenho a impressão de que essa porcaria que se tornou a internet faz com que a gente busque outros lugares para usufruir de experiências estéticas, ouvir, produzir e conhecer música, e esse lugar é a rua, né?
Se a gente pensar na viralização do Febre90s, por exemplo, eu não sei se é um fenômeno de TikTok, de Instagram, enfim. Mas é um fenômeno de um boom bap dos anos 1990 – que eu não sei se fora do Brasil tá em alta, por exemplo –, com uma linguagem carioca, e do qual a geração Z se apropriou. É uma molecada muito jovem curtindo uma batida que não é o Trap. O Hardcore Punk, que era uma estética já bem gasta, que envelheceu mal, nos últimos anos tem tido uma adesão de uma molecada mais jovem, e eu soube que tem rolado coisas no TikTok.
Então, eu acho que a grande demonstração do Radical Records é de que as coisas aconteciam fora do espaço privado. O disco era fruto de uma relação que se dava no espaço público, de uma interação e uma iniciativa coletiva, e só fazia sentido com o seu fim, que era coletivo também, ou seja, a distribuição, o consumo, o conteúdo, tudo isso era sobre uma vida compartilhada, voltada para fins coletivos.
O “Abalar a Cidade” pauta isso enquanto consumo, e o Radical Records pauta isso enquanto matéria, ou seja, do disco ser fruto de uma ação coletiva, e a distribuição dele tem a intenção de acessar as massas, é um objeto feito para se articular politicamente com as massas.
Então, eu acho que a lição é essa. O Radical Records pode inspirar muitas pessoas a fazerem coisas direcionadas às massas. Eu não sei quanto, politicamente, a produção artística de hoje está preocupada com as massas. Mas ali, naquele momento, tem disco com discursos para elevar o moral de sindicatos. Tem disco que é Spoken Word do começo ao fim, disco de doutrinação política. Tem disco que é somente violão e voz, e as pessoas cantando os desejos da vida. Acho que essa é a beleza do Radical Records, e talvez seja a coisa da qual a gente pode se apropriar, direcionando isso pro coletivo, pro encontro físico, pro compartilhamento.
Os casos de solidariedade entre os povos das colônias e metrópoles, algo muito caro ao socialismo em quase todas as suas vertentes, é muito bem sinalizado em Radical Records, como, por exemplo, nos casos de Guiné-Bissau, África do Sul e Cabo Verde, países que, sem acesso a uma indústria de produção de discos de vinil, ou sofrendo com uma forte repressão, eram obrigados a enviar suas músicas para alguns países da Europa, onde eram prensadas e devolvidas para esses países, numa circulação que era formada pela aliança e solidariedade de causa entre esses povos. De alguma forma essa circulação de vinis Europa-Terceiro Mundo ocasionou, de forma recíproca, uma circulação de ideias revolucionárias, estilos musicais e incorporação mútua de elementos culturais entre esses dois mundos antagônicos?
Boa parte das produções que o Josh selecionou – ainda que eu não tenha conseguido ouvir todos os discos –, eu tive a impressão de que, a maioria deles, eram discos de cantos revolucionários, feitos para fins de propaganda revolucionária dos movimentos em luta. Então, a minha impressão é que esse intercâmbio está localizado muito mais no discurso político, ou seja, essa solidariedade que se dá no campo do programa político, e nem tanto no campo estético, sonoro e de gêneros musicais. Mas eu penso que, a África do Sul, no Radical Records, tem uma variedade maior de gêneros musicais. Tem selos que são voltados apenas para o rock, tem selos de noise, música experimental, então é louco pensar no contexto da África do Sul também, porque muitos selos que aparecem na enciclopédia se davam de forma clandestina, porque eram um instrumento de discurso anti-Apartheid. E, do que eu percebi, esses selos já estavam com uma estética musical menos voltada ao canto revolucionário, e mais voltados para bandas em geral. Isso não é uma exclusividade da África do Sul, pois é um fenômeno observado, também, na Etiópia, na Namíbia, na Angola, etc., mas eu percebo que os movimentos de solidariedade dos selos europeus para com a luta dos africanos estão muito vinculados por essa questão de libertação das colônias.
Então, eu acho que, talvez, exista uma lacuna que… As pessoas vão ter que ler (e compreender esse processo). Eu tenho uma memória forte de Angola e África do Sul, como esses lugares que, na enciclopédia, aparecem selos com um apelo muito mais musical. Mas, por exemplo, na Namíbia, o selo é da SWAPO (Organização do Povo do Sudoeste Africano – Partido da Namíbia), que é uma entidade partidária mesmo. Na Etiópia, o selo que tá lá é um selo do Ministério do Turismo. Então, são duas experiências de selos estatais, de propaganda da revolução.
Em termos de ritmos musicais, eu não sei, não consigo me lembrar de uma situação em que os selos se contaminam musicalmente (no sentido de trocas culturais entre colônia e metrópole). Acho que essa contaminação se dá muito mais no sentido de solidariedade política mesmo.
Mas eu consigo ver essa cultura transplantada mais agora, nos dias de hoje, fora desse recorte do livro, dos anos 1960 e 1980. Porque nessa época que o Josh faz o recorte temporal, existia uma realidade de gueto nas colônias, e por mais que houvesse essas políticas de solidariedade, elas se davam de forma clandestina. Tinha um procedimento empreendido nessa troca, nessas campanhas (de solidariedade), que se davam abaixo do radar do que era possível. Olhar pra esse recorte de tempo e analisar as formas (de trocas culturais) demandaria a escuta desses discos, e a relação que eu tive com o Radical Records até agora foi essa, a de escuta. E, nesse sentido, existe um selo indigena australiano, que o som é um rock, mas cantado no idioma indígena local. Então, eu acho que quando você começa a pesquisar os verbetes no Radical Records, jogando na internet e ouvindo algumas coisas dos selos presentes no livro, você percebe como uma estética, que pode ser considerada folk (tradicional), regional, enfim, ela já está bastante aculturada nesse momento. Tem uma outra banda também, tailandesa, que o som é uma mistura maluca de música psicodélica, folk, rock, umas capas com estética anti-americana. Então, nos selos voltados mais a produção musical mesmo, você vê que rola uma mistura. Eu acho que é um reflexo dos movimentos anti-guerra dos anos 1960, rock, hippie. Você vai ver também a presença de muitos selos árabes voltados para o rock, assim como na África, enfim.
Mas, no fim, sobre essa questão da influência e troca cultural entre colônias e metrópoles, vale esse exercício da busca, de encontrar essas comparações e semelhanças dessa fruição que o livro demanda. O Radical Records deixa esse campo aberto pra gente.
A quantidade de selos alinhados ao anarquismo é gigante, e durante boa parte dos anos 1990, após o colapso das experiências socialistas, foi essa corrente política que esteve mais ligada diretamente à chamada contracultura, principalmente por meio do hardcore e do punk rock. Por ter uma linha política diferente do comunismo e sua forma de partido, é possível falar de uma maior liberdade criativa e musical dentro desses selos?
Pra mim, uma coisa que permeia a formação histórica do anarquismo é que as experiências e a teoria vão se dando à margem das instituições, seja o Estado, as universidades, etc. Obviamente que, com o passar do tempo, as instituições, como a universidade, foram abrindo espaço para que esse tipo de teoria política fosse desenvolvida. Mas, diferente do marxismo, que se institucionalizou enquanto um cânone, uma doutrina, e com campos de estudo nas universidades que têm esse horizonte como uma forma de fundamentar as ciências sociais, o anarquista está à margem. Se pensar no maior teórico do anarquismo, Mikhail Bakunin, ele não vai aparecer em nenhuma ementa de curso. Agora, o Manifesto Comunista, O Capital, enfim, eles vão aparecer. Então existe um pouco desse lugar de produção teórica, cultural, e de experiência do anarquismo, que se dá à margem, de forma menos centralizada. Mas essa descentralização é uma característica que faz com que a forma seja mais diversa, pro bem e pro mal.
Eu não acho que essa forma seja algo que só traga ganhos ao anarquismo. Mas, quando a gente pensa na cultura, talvez esse seja um fator que contribua para como ela se difunde, como ela se dá. Uma coisa que eu acho que fica um pouco clara no Radical Records é que os selos anarquistas estão voltados a produções estéticas mais diversas, como o punk, a música experimental, questões várias, do que no caso dos selos marxistas-leninistas. Temos um caso ou outro, como um sindicato da CNT (Confederação Nacional do Trabalho), anarquista, mas, via de regra, são selos mais voltados quase que para uma forma estética do que para um programa político, enquanto, no caso dos selos comunistas, ocorre o contrário: são selos mais voltados para um programa político do que para uma forma puramente estética. No caso dos selos anarquistas, são ações que não têm uma mediação colocada, ou seja, são pessoas que vão lá e criam um grupo de quatro, cinco pessoas, enfim; é uma outra dinâmica que está colocada ali.
Tem muitas outras questões, mas, assim como o marxismo é muito diverso nas suas segmentações, o anarquismo também o é. Mas o fato mais estruturante da coisa, que é o anarquismo ser uma doutrina descentralizada, eu acho que faz essas diferenças se multiplicarem ainda mais.
Falando um pouco sobre os selos voltados para a causa do feminismo, da população LGBTQIAPN+, do nacionalismo negro, dos povos originários., etc, hoje existe, em maior quantidade, um legítimo debate sobre a inserção dessas minorias no mercado musical, longe dos estereótipos típicos, e fica evidente a luta das identidades dentro de um contexto maior da luta de classes aliada à cultura. A questão do identitarismo tem sido um espantalho tanto da direita quanto da esquerda, então eu queria saber como você enxerga a existência desses agrupamentos, e como outras identidades podem se unir a essa causa, tornando ela algo maior, mais abrangente, mas unidos numa luta maior, que é a superação do capital, e consequentemente, dos preconceitos de gênero?
Nós devemos ter a compreensão de que o capitalismo precisa dessa sequência de opressões para sobreviver. Não tem como trazer uma crítica ou combater o preconceito contra essas identidades sem partir do pressuposto de que o primeiro instrumento que o capital usa para se reproduzir e se propagar é o extermínio dessas identidades, a expropriação dessas pessoas. Agora, como [possa existir a união dessas identidade numa luta contra o capitalismo], eu não sei. Talvez a cultura seja esse lugar de se exercitar a associação entre uma coisa e outra.
No Radical Records, o Josh não se preocupou muito em ponderar isso. Tem o selo do Elijah Muhammad (histórico líder da Nação do Islã. uma organização nacionalista negra), tem selo garveysta, tem selo de todo tipo de orientação política voltada para a libertação dos povos oprimidos. E, no caso do livro, ele foi um ato de honestidade, de reconhecer que todos esses selos tiveram um papel importante na disseminação da cultura, mesmo que, às vezes, alguns desses selos não incorporassem a crítica ao capitalismo – ainda assim, existiam nesses solos críticas a algum tipo de opressão, mesmo que essa crítica fosse direcionada única e exclusivamente à opressão de raça, ou de gênero, de sexualidade, enfim.
Então, o Josh prezou por isso no livro. Ele vem da tradição do socialismo libertário, mas, na hora de transformar a sua pesquisa em enciclopédia, ele teve essa atitude de apresentar tradições que, muito provavelmente, não sejam representadas em outros espaços. Eu penso que dificilmente a gente vá ver alguma outra iniciativa que agrupe formas políticas tão distintas como no Radical Records. Você vai encontrar na enciclopédia selos marxistas-leninistas, anarquistas, pan-africanistas, selos de judeus não-sionistas, têm selos da Alemanha ocidental e oriental, enfim, tem uma série de iniciativas que são contraditórias entre si.
Agora, trazendo isso para o nosso campo, estamos procurando ainda os meios para que haja uma posição coesa – política e esteticamente falando – e que não caia em essencialismos, porque tem sido uma armadilha fodida isso. Porque, por exemplo, aparece aí o Pablo Marçal cantando Racionais, ou uma pessoa de um grupo oprimido, mas que defende uma posição econômica e política de direita, e a gente começa a ficar meio desarmado, sem saber muito o que fazer. Então, eu acho que iniciativas como essa [o Radical Records], é pra tentar amarrar um pouco mais essa história.
Num dado momento da introdução do livro, o Josh MacPhee fala sobre esses discos como um fator de educação política para as massas, e, usando o exemplo do Caribe – onde o acesso ao vinil era dificultado pela pobreza da maioria da população, sendo solucionado pelo uso de carros de som –, como um ato coletivo de consumir música. Ele deixa claro, também, sua aversão à música digital em detrimento do vinil. Isso me fez pensar sobre as formações dos sovietes, e de outro agrupamentos políticos, onde, pela falta de acesso à literatura revolucionária – de certa forma impossibilitada pela repressão em geral –, o estudo era coletivo. Outro exemplo é a formação política dos Vietcongs, que também se dava de forma coletiva. Você enxerga algum paralelo entre essas duas formas de politização? E quais são as consequências políticas e culturais do consumo individual de música, principalmente de teor revolucionário?
Tem um lance que é a ascensão da distribuição dos discos de vinil. O Josh fala que essa ascensão do vinil como forma de consumir música estava associada com a modificação de leitura do que seria fazer política e do que era política. Podemos pegar 1968 como um marco dessa diversificação de prática política, de teoria, de organização, de coletividade. E nos Estados Unidos, pelo menos, a Marcha do Movimento dos Direitos Civis foi o principal movimento a usar o vinil como elemento para popularizar a sua prática, e também pedagogizar as pessoas, por exemplo, a partir dos discursos do Martin Luther King, que foi muito prensado em vinil. Então, essa prática tinha um caráter absolutamente pedagógico. E acho que quando você tem um objeto, como o vinil, que sintetiza uma ideia, uma expressão, você começa a aproximar as pessoas no entorno daquela ideia, a criar uma cena, uma cultura.
Agora, sobre o impacto, a atomização desse processo de consumo de cultura, e como que isso aflige a gente: eu tenho percebido uma modificação disso no pós-pandemia, e tenho a impressão de que houve uma derrocada das experiências coletivas, e da produção de coisas coletivas, mas que, após a pandemia, aos poucos, essas experiências foram voltando, e com uma renovação. Eu sinto que essa experiência só é total quando é dada nessa experiência vivida, ou seja, quando você vive ela. Sobre esse lance do que é feito na rua, no campo da música, existe uma diferença brutal do que é tocado na rua. É uma outra faixa, um outro ecossistema de som, uma outra música. No baile de rua, a música tem um outro grave, porque tudo isso tem a ver com uma outra experiência.
No que se refere à formação política, se pensarmos sobre os youtubers que propõem certos espaços de formação online, e que isso tem uma adesão, eu acho que isso só vai parecer efetivo quando encontrar uma reverberação na rua também. Eu acho que ainda existe um buraco que distancia um pouco essa satisfação da ação pela representação. Se a gente olhar pra história do rap, de certa forma, o Racionais teve uma formação política muito específica nos anos 1990. É uma coisa em si, uma formação no Geledés e tudo mais. Eu não sei o quanto outros grupos de rap e indivíduos foram engajados numa certa formação ali, no Geledés, mas, se pegar o Milton Salles, por exemplo, ele foi um mentor político dos Racionais também, que disse aos quatro [membros do grupo] que eles tinham uma responsabilidade política, e eu não sei quanto aos demais rappers se eles também tiveram isso. Então isso é uma coisa que, pra mim, não parece ter sido à toa, foi uma formação mesmo, e, com isso, os Racionais conseguiram corresponder algumas expectativas do campo em que atuavam politicamente.
E tem uma coisa que, às vezes, a gente acaba esbarrando e não percebe, que é pensar qual o principal produto cultural do nosso tempo, quando a gente tenta analisar o papel da cultura na formação, no engajamento político, enfim. E pode ser que a música – e isso é meio triste – talvez não seja esse principal produto. Ou seja, as questões dadas são: talvez não seja a música esse produto principal, outra é que a linguagem que a gente tá acostumado soe pra nova geração como algo cringe. Pensando no Sobrevivendo no Inferno, por mais absoluta que essa obra seja, imagina ela surgindo hoje, aonde ela se encaixaria? Como ela seria? Eu acho que tem uma coisa que escapa muito da gente, que é o fato da nossa geração ser não só um produto, mas estar muito atada ao século 20. No sentido de gosto, de repertório, das coisas que consumimos, ou seja, o livro, o vinil, a conversa. Enquanto isso, o que pauta a molecada hoje da geração Z, de forma geral, são outras coisas.
Então tem esse léxico que escapa pelos nossos dedos. E, no fim, tudo o que a gente acaba elaborando, está num certo lugar de exercício dos nossos gostos pessoais, e numa tentativa de esgotar as coisas que a gente já conhece muito, pra extrair alguma coisa que a gente talvez ainda não saiba. A gente precisa conversar mais com os jovens para saber qual que é, porque o parâmetro deles é outro, o paradigma cultural é outro. Claro que a música ainda é consumida pra caralho, as pessoas saem de casa para encontrar outras pessoas para ouvir música, mas isso ainda é uma parada do século 20. Agora, a massa que tá no século 21, tá consumindo outra forma de cultura, e a gente pode pensar nos videogames, nas séries, no TikTok como formador de gostos musicais, entre outras coisas.
Ainda sobre o rap, e pensando no status a que o gênero chegou, de música globalizada e altamente lucrativa, e com uma cultura capitalista enraizada nas suas relações de produção e comercialização, surgiu, nos anos 2000, uma antítese desse momento do rap, liderada por Mos Def, Talib Kweli, El-P, Aesop Rock, e com forte apoio da Fat Beats, conhecido como “rap underground”, que buscou não apenas uma forma independente de criação, mas repolitizar de forma mais radical o gênero. Como você vê o cenário atual do rap, sua relação com o sistema capitalista, a criação de música “anti-sistema” – um termo vago para designar algo que esteja contra a condição de existência das coisas –, e o cenário mais underground, com artistas como Noname, Earl Sweatshirt, JPEGMafia, Don L, entre outros?
Cara, é doido pensar que houve um momento da história em que a indústria, de certa forma, estimulou esse tipo de coisa, como, por exemplo, o Rage Against the Machine nos anos 1990, que tinha música pro Sendero Luminoso e seu líder, Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo) – tudo isso passando na MTV. Hoje você não vai ver isso acontecer. A indústria mudou, né, não vai rolar um clipe da noname ou do Aesop Rock na MTV, impedindo que eles pautem um gosto das massas. Mas tem uma coisa que eu dou valor – e eu não sei se o Earl [Sweatshirt], o JPEGMafia, se essa galera tem alguma iniciativa política para além da música –, mas, no caso da noname, ela tem um clube de livros, que eu achei uma iniciativa interessante.
Mas tem uma certa disputa em relação a conteúdo. E a direita escolheu dois caminhos que refletem na estética que ela produz, que são a do arrebatamento – isso no caso de uma direita mais evangélica, que, para eles, o mundo já acabou, e têm que salvar os cristãos –, e uma direita mais aceleracionista, que também entende que tudo já se esgotou, e agora tem que apertar o acelerador rumo a algo. E eu não sei o quanto o nosso campo tem produzido um imaginário que vá de encontro com algo que está nesse mesmo lugar, equivalente ao arrebatamento ou à aceleração, rumo a algo que a nossa angústia de estar vivo não dá conta. E nosso campo acaba encontrando respiro e resposta, muitas vezes, na cultura.
Mas aí a gente volta naquele mesmo papo, e eu acho que essa cultura ainda tem algo de século 20. Eu dei o exemplo do Rage Against The Machine, que é o fenômeno total da indústria musical, mas a coisa mudou totalmente. O que é que faz as coisas funcionarem? O que dá dinheiro não é mais o clipe da MTV, mas é a especulação, é algoritmo, é uma doideira isso.
Então, respondendo à pergunta, eu acho que sempre tem um campo para essa iniciativa da esquerda crescer dentro do rap. Eu confesso que, quando saiu o último disco do Don L (Roteiro Pra Aïnouz, Vol. 2), eu achei que, a partir disso, ia ser criada uma tendência de rap nesse espectro político, mas me parece que não aconteceu. Ainda assim, é importante que tenha algo, mesmo que esse algo não seja o suficiente, porque, no fim das contas, esse algo vai estar se alimentando de coisas do nosso tempo.
Se pensarmos certas experiências socialistas, como a cubana e soviética, houve um certo desconforto com a “ocidentalização” desses países, por meio da importação de música norte-americana e europeia. Por um lado, essa análise parte de uma premissa muito simplista, que se baseia no confronto entre cultura capitalista x cultura socialista, ignorando as formações históricas e culturais dessas músicas, como o jazz, por exemplo. Mas, se pensarmos na influência da Fundação Ford, por meio da cultura, no desmantelamento do bloco socialista, é de se entender essa barreira criada entre o mundo socialista e a cultura do mundo capitalista. O próprio Walter Rodney, em Como a Europa subdesenvolveu a África vai dizer isso, da instrumentalização da música negra e popular para fins coloniais e capitalistas. Como você enxerga essa contradição, e o que pensa sobre possíveis soluções para esse impasse no século 21?
Eu acho que, por exemplo, o Trap – em certa forma e conteúdo –, seria uma produção clandestina dentro do socialismo. E no programa revolucionário, tem que constar lá: jazz pode (risos). Mas assim, tem um lance, por exemplo, sobre a China. Como é lá? Como é na Coreia do Norte? Tem que ter uma versão aí, de um Trap, por exemplo, mais engajado politicamente. Eu acho que é esse tipo de recurso que esses países acabam adotando para suprir a demanda de algum tipo específico de música.
Mas tem algo nesse lance do rap, mas que também acontece com o punk hoje, que é a expressão genérica, os jargões e tudo mais. E isso é terrível, mano. Esse papo de votar nulo – ainda que a crítica à democracia burguesa, sem ingenuidade; isso é uma coisa –, mas esse apelo a partir do lance de “anti-sistema” genérico é muito ruim. E eu não sei se tem muita solução. Tem rappers até hoje aí, que são muito verborrágicos, mas não falam, não pontuam o que é [o que eles estão criticando]. E nessas, como a gente tava falando, antes da entrevista, você pode ser anti-sistema sendo de direita, por exemplo. Você pode ser anti-fascista, anti-capitalista, qualquer coisa desses anti, e ser de direita.
Mas sobre o cerne da pergunta, e falando de mim, atualmente não tenho buscado a satisfação política na música. Eu tenho ouvido bastante reggae, dub – e, obviamente, todas essas expressões são políticas –, mas a experiência ali está sendo pautada por outras coisas. No rap eu tenho ouvido muito Gang Starr, Pete Rock, é aquela coisa, não tem muita militância nessa cena, e tá tudo bem. Acho que é justamente a linha fina que permeia a parada que me importa.
Para finalizar, eu quero trazer uma análise do Josh sobre o retorno do vinil, que, indiretamente, reflete muito sobre o momento da música popular. Ele fala que, apesar do retorno dos LPs, em forma de clubes de assinatura, por exemplo, o consumidor não tem controle sobre o produto que irá consumir, e que esse retorno é incompleto, por não ter uma ligação direta e orgânica com sindicatos, grupos comunitários, ou seja, a militância política. Sabemos da problemática quanto ao consumo do vinil em países periféricos – o alto preço, ocasionado pelo formato e pela diminuição das fábricas de disco, além da dominação do streaming sobre outras formas de circulação e consumo de música –, mas, pensando sobre a visão mais geral que Josh tem, de que o vinil não é apenas uma forma de ouvir música, mas também um documento político, unindo arte, ficha técnica, propaganda políticas, etc., você acredita que o vinil é uma possibilidade frente ao streaming, e que, em 2024, ele pode ser, novamente, uma ferramenta de educação revolucionária?
Eu digo, com certeza, que não. E são muitas as razões: equipamento, preço do vinil, etc. É uma relação que você desenvolve com o objeto por você já ter tido essa relação anteriormente, e sem precisar comprar, como quando tínhamos vinis em casa, ou quando, num dado momento, os colecionadores pagavam muito barato pelos vinis, isso antes de todo o hype sobre o formato.
A primeira edição do Radical Records é de 2019, e, nessa época, o vinil estava numa ascensão, começando a ficar muito caro, mas ainda era acessível. Agora, em 2024, o vinil está muito mais caro. Eu lembro que, quando era moleque, e comecei a comprar alguns discos, eu fazia estágio num cartório, e conseguia comprar vinis de várias coisas que eu gostava, pagando 20, 10 reais em cada disco. Hoje em dia, pra eu pagar isso num disco, é impossível, não tem mais nada nesse preço. Pra você ter uma noção, algum amigo importava um disco gringo pra mim, e eu pagava, sei lá, 60 reais. O vinil se transformou em um objeto muito mais atrelado ao fetiche do que à distribuição massiva dele.
A gente pode pensar no CD, pode pensar no formato MP3, como formas dessa disseminação de música revolucionária, mas, por meio do vinil, eu acho muito difícil. Acho que só a revolução mesmo pra mudar esse cenário (risos).
Tem uma coisa que me marcou no Radical Records, que tem menos a ver com os discos de vinil, e mais com a qualidade das organizações políticas. Eu acho que o disco é só um sintoma da coesão dessas organizações. Por exemplo, tinha uma organização, o Sindicato dos Farmacêuticos, que lançou um disco com discursos do Martin Luther King, num evento em que o Martin discursou nesse sindicato. Então, eu acho que mais impressionante e estimulante que o disco, é o fato de como uma organização, como essa dos farmacêuticos, tinha coesão política, essa atividade, ação no dia a dia, e, ainda assim, lançar o disco que condensa essa coesão.
Ou seja, se essas organizações, ou uma organização de estivadores porto-riquenhos da costa dos Estados Unidos, tiveram condições de fazer um disco como esse, é porque a mobilização e a articulação deles estava refinada o suficiente pra isso. Isso vale para todos os demais selos de música que tiveram a possibilidade de fazer discos de solidariedade para diversas causas. Essa foi a lição que o livro deixou pra mim, e me fez ficar encantado.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras