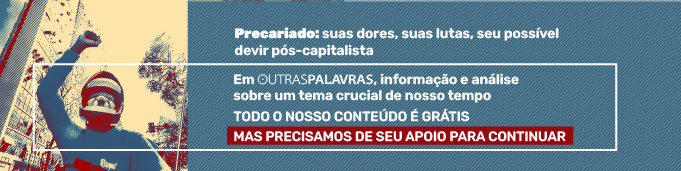A poesia sufocada das mulheres loucas
Quem foi Tituba, a bruxa negra de Salem? Em Silvia Federici, chaves para entender casos emblemáticos que precederam os manicômios. Isolada, Leonora Carrington narrou o trancafiamento. As “inadequadas” foram usadas para justificar a misoginia
Publicado 26/10/2023 às 15:19

Por Gabriela Mayer, na Revista AzMina
Leonora Carrington foi internada em uma instituição psiquiátrica em 1940. Por ordem de sua família, a pintora e escritora foi levada para um sanatório no norte da Espanha franquista, após o companheiro, Max Ernst, ter sido mandado para um campo de concentração nazista. Leonora foi um nome importante do movimento surrealista – mas você provavelmente não ouviu falar dela na aula de história da arte.
Em Lá Embaixo, livro autobiográfico, a autora narra o trancafiamento, e conta ter ido parar na instituição depois de ser presa em um sanatório de freiras que não conseguiam controlá-la. “Era impossível me trancar, chaves e janelas não eram obstáculo para mim; perambulei pelo lugar, à procura do telhado, que acreditei ser o lugar mais apropriado para eu morar.”
Antes da sequência de internações, Leonora fala das repreensões que recebeu por suas ideias políticas e por reações consideradas inadequadas, como o pedido de ajuda por ter sido estuprada por um grupo de homens. A narradora descreve uma solidão ligada ao que vivia, sentia, pensava e ao conhecimento que carregava.
“Lá Embaixo” é o nome de um prédio do sanatório – não aquele em que Leonora estava, mas aquele em que ela almejava chegar, descrito como um lugar melhor. Vislumbrar essa parte desconhecida da clínica – como uma espécie de paraíso – parece ter sido importante para que a escritora suportasse a privação de liberdade, em que foi submetida a práticas médicas tão indignificantes quanto misóginas.
Mulheres abandonadas
Leonora não se submete, ainda que presa. Ela escreve que, no fim das contas, foi essa experiência que a fez verdadeiramente notar “a necessidade de que haja outros comigo para que possamos nos alimentar mutuamente com nosso conhecimento (…)”.
A institucionalização é algo que vai acompanhá-la. Em seu único romance, A Corneta, a protagonista vai parar em um lugar de construções esquisitas onde mulheres velhas são abandonadas.
Estão ali mulheres que não cabiam mais em seus núcleos, de acordo com as outras pessoas ocupantes deles. Por isso, foram entregues ao asilo. Uma das moradoras diz que elas passaram a vida sob arbitrariedades de maridos e terminaram dominadas por filhos que as consideravam um fardo. Marian, a protagonista de mais de 90 anos que tem deficiência auditiva, é internada pelo filho e pela nora, que lamentavam tê-la sob o mesmo teto.
A ida ao asilo, no entanto, é também a entrada em um mundo de enigmas fantásticos, com mistérios a serem investigados. Marian consegue fazer isso graças também ao presente que ganhou da melhor amiga: uma corneta auditiva, que lhe dá autonomia.
O romance de Leonora Carrington também contempla a diversidade das mulheres velhas e a capacidade de romper expectativas sociais. Marian é uma narradora divertida, engraçada, que zomba dos valores burgueses sem nomeá-los. Carmella, a melhor amiga, é uma personagem perspicaz e estrategista, que afronta o mundo com gestos singelos e despretensiosos.
São duas personagens espelhos da autora: agarradas ao direito de não serem vistas fragmentadamente, nem de terem seus espíritos apreendidos por quaisquer que sejam as regras.
Antes das loucas, as bruxas
A guerra contra mulheres que desafiam o patriarcado não começou na década de 1940 com Leonora nas grades manicomiais. A italiana Silvia Federici, no livro Calibã e a Bruxa, retoma os séculos 16 e 17 para explicar como o surgimento do capitalismo coincide com a perseguição e a execução de centenas de milhares de mulheres que não convinham às sociedades do início da Era Moderna.
A lista de sujeitos femininos que precisaram ser destruídos é longa: “(…) a herege, a curandeira, a esposa desobediente, a mulher que ousa viver só, a mulher obeah que envenenava a comida do senhor e incitava os escravos à rebelião.” Queimar mulheres foi uma atividade popular na Europa medieval, mas não só. A condenação foi perpetuada no tempo e no espaço, também aplicada nas colônias americanas.
Parte das bruxas teve suas histórias registradas, outras não ganharam esse direito. Foi o caso de Tituba, que só três séculos depois virou personagem do romance de mesmo nome, escrito pela caribenha Maryse Condé.
Quem foi Tituba?
A história da mulher negra a ser uma das primeiras julgadas nos famosos tribunais de Salem, em Massachusetts, nos anos 1690, foi ficcionalizada por Maryse. A condenação por bruxaria foi só uma das violências na vida de Tituba, que viu a própria mãe ser assassinada por se defender de um estupro.
Em Eu, Tituba, bruxa negra de Salem os conhecimentos sobre a natureza, a cura pelas ervas e os diálogos transcendentais ancestrais são, ao mesmo tempo, parte do crime e do trunfo da mulher, que usa seus saberes acumulados para reverter a condenação.
A literatura recupera o direito de Tituba de ter uma história e lhe entrega a rebeldia emancipadora que garantiu a sobrevivência das ideias de mulheres amarradas de tantas maneiras.
As fogueiras e a forca não continuaram para sempre, mas a perseguição perdura. A batalha contra as mulheres foi ganhando contornos dissimulados e, há séculos, tem encontrado resultados muito frutíferos no diagnóstico da loucura.
A quem serve a loucura delas?
Nem sempre o leito manicomial é necessário para encarcerar quem ganha a etiqueta de “louca”. Há a exclusão, o isolamento, a invisibilidade. Há também a desconsideração corriqueira, que pode vir na forma de falta de escuta, de relativização das queixas, de silenciamento das falas. Essas são formas de dizer que o que a “louca” diz não deve ser considerado, tampouco o que ela sente ou pensa.
A loucura não é só uma forma de destruição das mulheres “inadequadas”, é também uma forma de manutenção dos homens realmente inadequados. A italiana Elena Ferrante narra a história de Melina na série de quatro livros que ficou conhecida como tetralogia napolitana. Personagem secundária, a vizinha das protagonistas Lila e Lenu é uma viúva de saúde mental frágil que “enlouquece de amor”.
Claro que não é o amor que impacta sua sanidade, é a violência do homem por quem ela se apaixona, o galante Donato Sarratore. Representado como poético, eloquente e sedutor, ele é um mulherengo que deixa um rastro de destruição em Nápoles. Sua violência tem máscara de delicadeza, não usa músculos. Melina esfrega sem parar as escadarias do prédio, como se estivesse a limpar as próprias dores.
Sarratore é um sobrenome produtivo na série que começa com A amiga genial, o primeiro livro da tetralogia que virou febre. O filho de Donato, Nino, é o espelho do pai – só não repete o estupro a uma adolescente, mas mimetiza o resto. Em seu caminho também estão mulheres que, mesmo sem o rótulo de “loucas”, protagonizam momentos de loucura e isso entrega a Nino o respaldo social para seguir como está.
As personagens de Elena Ferrante rompem as caixas que lhes foram destinadas e conseguem expressar a raiva, o desejo e o desespero genuínos. E cada vez que uma delas sai da linha, um homem ganha o direito de perpetuar sua prática opressiva de poder – não importa quão violenta seja. A loucura das mulheres interessa a muita gente.