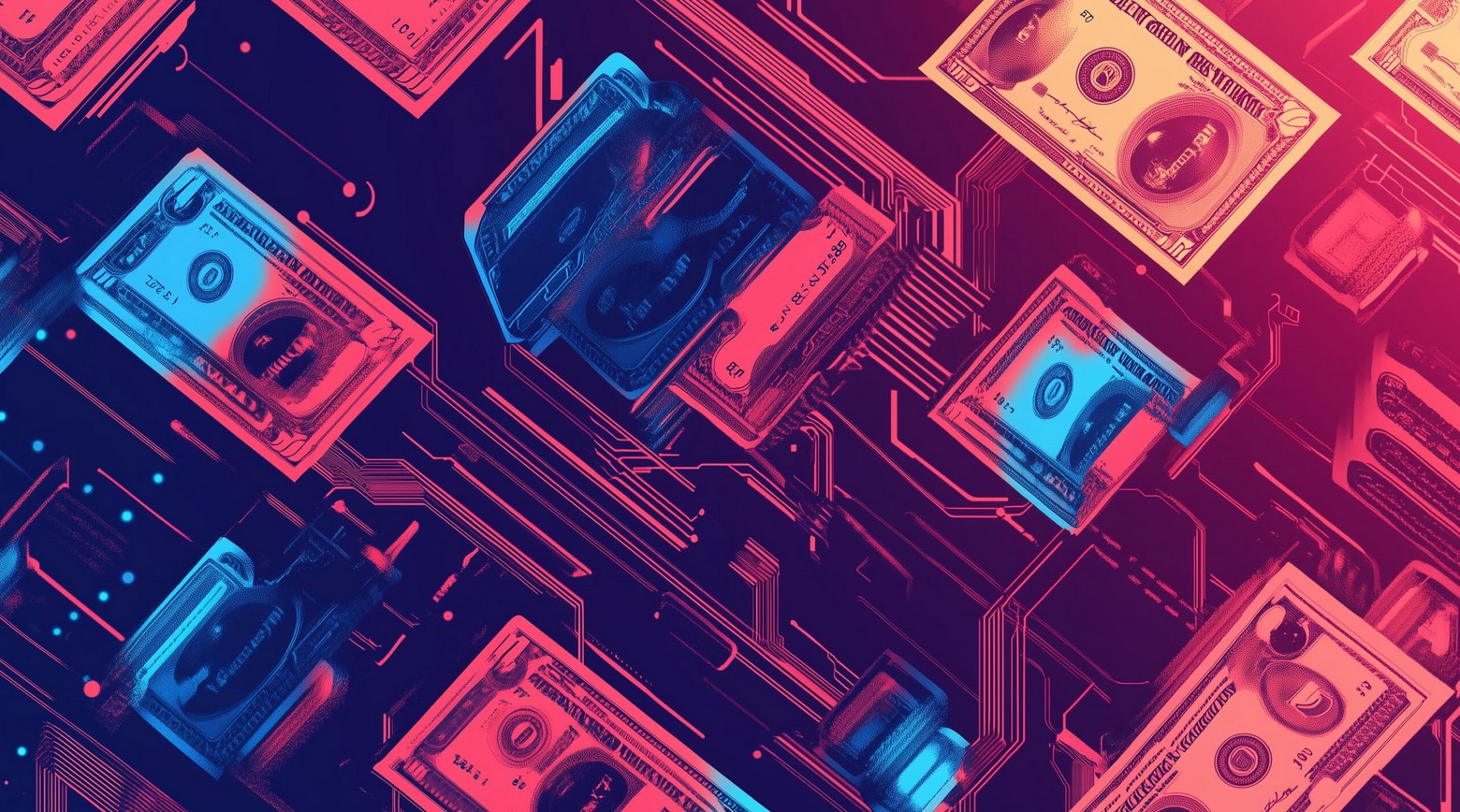A miséria do capitalismo e de seus economistas
Novo livro de Luiz Gonzaga Belluzzo e Gabriel Galípolo zomba da pobreza do debate econômico. Apoiados em Marx mas também em Nietzche, autores buscam saídas para mundo que, financeirizado e desigual, sofre agora o açoite da ultradireita
Publicado 21/11/2019 às 17:17

Por Ilan Lapyda, no A Terra é Redonda
Em tempos de terraplanismo e de hegemonia do pensamento econômico ortodoxo, nunca é demais fazer um “apelo à realidade” e recuperar as contribuições da ciência para a compreensão do mundo em que vivemos, especialmente quando o debate econômico está desfigurado por uma profusão de papers calcados em malabarismos com equações e modelos abstratos.
É justamente esse o propósito de A escassez na abundância capitalista (Contracorrente/Facamp), o mais recente livro de Luiz Gonzaga Belluzzo, um dos maiores expoentes do pensamento econômico heterodoxo, em coautoria com Gabriel Galípolo. Ao apontarem a “captura intelectual” à qual os economistas em geral estão submetidos, explicam que “em economia, conclusões podem vir primeiro, com economistas gravitando na direção de uma tese que se encaixa em sua visão moral do mundo” (p. 9).
Nesse sentido, a “escassez” presente no título da obra refere-se, de um lado, diretamente à dimensão material, brilhantemente entendida por Karl Marx como produto das contradições do próprio sistema capitalista: trata-se da outra face de uma abundância produzida por um enorme desenvolvimento das forças produtivas sob a lógica do capital e da apropriação privada dos frutos do trabalho social.
De outro lado, há a dimensão intelectual, dado o empobrecimento do debate econômico, muitas vezes reduzido à ideologia justificadora e mitificadora da ordem neoliberal – o que também é produto da dinâmica do capitalismo, entendido como um sistema não só econômico, mas político, social e cultural. Este sentido de “escassez” é até mais presente no livro de Belluzzo e Galípolo do que o primeiro (mais aprofundado em obras como O capital no século XXI, de Thomas Piketty, sobre a desigualdade de renda e riqueza, citada pelos próprios autores).
Assim como Marx não se deteve na vulgata do pensamento burguês de sua época, mas realizou uma profunda crítica dialética dos clássicos (como Adam Smith e David Ricardo), os autores não se limitam a apontar a atual escassez intelectual. Fazem a crítica dos pressupostos da própria teoria neoclássica em suas diferentes vertentes, revelando seus fracassos em explicar, e mesmo descrever, a realidade.
Assim, nos dois primeiros capítulos, busca-se “identificar os momentos de ruptura e continuidade que marcaram o desenvolvimento da Economia Política” (p.15), fazendo um passeio por diferentes autores e correntes do pensamento econômico, desde os fisiocratas do século XVIII – passando pelo utilitarismo, pela revolução marginalista e a “rebelião dos historicistas” do final do século XIX e início do XX – até as principais inflexões do século XX (sobretudo o neoliberalismo de Friedrich Hayek e de Ludwig von Mises). Dada a concisão e densidade de uma retomada como essa, o leitor não especializado pode encontrar alguma dificuldade. No entanto, os dois principais objetivos ficam claros: questionar o “quarteto naturalismo, individualismo, racionalismo e equilíbrio, mimetismos científicos da dita corrente principal” (p.15); e mostrar como economia e política são indissociáveis, de modo que esta permeia as produções e embates intelectuais relativos àquela.
O contraponto aparece nos capítulos 3 e 4, respectivamente sobre Nietzsche e Marx, “a dupla de críticos mais radicais dos valores e das pretensões da moderna sociedade burguesa” (p.56). Incomparavelmente mais extenso e aprofundado, o capítulo sobre Marx não só apresenta conceitos fundamentais d’O Capital, como formulações dos Grundrisse (texto menos conhecido do grande público) que se relacionam estreitamente com questões contemporâneas fundamentais, tais como revoluções tecnológicas, globalização, financeirização, monopolização e hiperindustrialização.
Adentrando o diagnóstico do presente, os autores argumentam que, para além dos mecanismos de base, a escassez contemporânea se produz tanto pela criação ilimitada de necessidades (“consumismo”) quanto pelo endividamento das famílias e pela valorização do capital fictício. O rentismo ganha, assim, destaque como meio de apropriação da riqueza alheia e não se mostra passageiro, pois está enraizado na configuração atual do capitalismo financeirizado: “a financeirização não é uma deformação do capitalismo, mas um ‘aperfeiçoamento’ de sua natureza” (p. 91).
Após a discussão conceitual sobre Marx e suas articulações com o presente, o capítulo 5 constitui-se na parte ‘positiva’ do livro, na qual são apresentadas concepções alternativas (baseadas fundamentalmente em Marx, Kalecki e Keynes) para se pensar a macroeconomia. Necessariamente mais técnica, discutem-se aí questões importantes: os determinantes do investimento, o sistema de crédito e os bancos, a moeda e o dinheiro, taxa de câmbio, a natureza das crises (sobretudo financeiras), desregulamentação e inovações financeiras, sempre com vistas a se contrapor, direta ou indiretamente, aos pressupostos neoclássicos (equilíbrio, decisões racionais, simetria de informação, neutralidade da moeda, etc.) e a fazer a crítica do rentismo.
O capítulo termina com breves considerações sobre o caso brasileiro nos anos 1990 – momento da virada neoliberal no país – a respeito de taxa de câmbio, vulnerabilidade e risco sistêmico. A volta dos fluxos de capital estrangeiro no período pressionou a taxa de câmbio em direção à sua valorização, contribuindo “decisivamente”, segundo os autores, para o fim da alta inflação. A contrapartida, no entanto, foi a ampliação do déficit comercial e em transações correntes, levando à necessidade de financiamento do balanço de pagamentos. Esta criou, sobretudo após as crises do México, na Ásia e da Rússia, uma situação de vulnerabilidade que culminou na desvalorização do real e na mudança do regime cambial.
Essa discussão é essencial, tanto porque a financeirização de nossa economia continua a provocar vulnerabilidade externa quanto porque a questão de câmbio permanece vital para a industrialização do país (ou para evitar a desindustrialização em curso), como advogam as teses “novo-desenvolvimentistas”( Cf. Luiz Carlos Bresser Pereira, “Teoria novo-desenvolvimentista: uma síntese”. In: Cadernos do Desenvolvimento) – uma contraposição à política econômica neoliberal que tem lutado por seu espaço.
A questão é retomada posteriormente, quando se ressalta o fato de que o fluxo de capitais para os emergentes nas últimas décadas (com exceção da China) não estimulou projetos voltados à exportação, promoveu importações ‘predatórias’ e aumentou a presença estrangeira no capital doméstico. Esse foi particularmente o caso do Brasil. A China, ao contrário, promoveu a combinação entre câmbio real competitivo, dominância dos bancos estatais na oferta de crédito, juros baixos para infraestrutura, absorção de tecnologia com ganhos de escala e de escopo, adensamento das cadeias industriais e crescimento das exportações. Ou seja, afastou-se sensivelmente da cartilha econômica pregada pelo neoliberalismo.
O último capítulo é dedicado ao processo mais recente de globalização, cujo “verdadeiro sentido”, segundo os autores, “é o acirramento da concorrência entre empresas, trabalhadores e nações, inserida em uma estrutura financeira global monetariamente hierarquizada, comandada pelo poder do dólar” (p.193), e a partir do qual as mazelas econômicas comuns na periferia assolam cada vez mais o centro. O paralelo estabelecido entre o ambiente social e econômico contemporâneo e o período dos anos 1920 e 1930 do século passado – demonstração da potência criativa e destrutiva do capitalismo, monopolização do capital e prática de protecionismo, instabilidade das moedas e desemprego – é a chave para a compreensão dos fatores que compõem o contexto político-econômico no qual se dá a atual ascensão da extrema-direita em diversos países.
Em síntese, esses fatores representam a “fratura do arranjo geoeconômico erigido nos últimos 40 anos” (p.196). Tal arranjo foi o resultado da derrocada do fordismo, do Estado de Bem-Estar e dos Acordos de Bretton Woods nos países centrais, e da implementação do Consenso de Washington e arrefecimento das iniciativas desenvolvimentistas na maior parte dos ‘emergentes’.
O capitalismo qualificado como “social” e “internacional” saído do pós-guerra transformou-se no capitalismo “global”, “financeirizado” e “desigual”, no qual “convencidos de sua liberdade, os indivíduos livres entregam seu destino aos grilhões da concorrência e às ilusões da meritocracia. Transtornados por suas culpas, os perdedores acomodam-se aos suplícios da exclusão e da desigualdade” (p.194). Desde a crise de 2008, assiste-se ao que pode se configurar como uma nova fase dos desdobramentos das contradições do capitalismo mundial. O livro de Belluzzo e Galípolo traz contribuições teóricas e analíticas para decifrá-la.
Trecho do livro A escassez na abundância capitalista
Metamorfoses da riqueza capitalista e o avanço do rentismo
A crise financeira deflagrada em 2008 não pode ser atribuída a um incidente de má gestão dos protagonistas relevantes do jogo do mercado – grandes instituições financeiras e corporações internacionalizadas. Os economistas da corrente principal se valem dos conceitos de falhas de mercado determinadas por assimetria de informação, moral hazard etc.. para explicar a crise. Como assinala o economista italiano Giancarlo Bertocco, a crise nasce das transformações endógenas promovidas pela dinâmica capitalista que levou à exasperação os desequilíbrios financeiros, produtivos e na distribuição de renda e riqueza entre países, empresas e famílias.
O livro Thomas Piketty, O capital no século XX, vai ser tomado como referência para analisar as metamorfoses da riqueza e seus efeitos distributivos. Piketty, sabe-se, palmilha os caminhos das relações entre riqueza e renda desde a predominância da riqueza fundiária – cujo declínio foi imposto pelas forças das políticas mercantilistas de incentivo à manufatura – até os arranjos contemporâneos apoderados pelo patrimonialismo financeiro e pela concentração do capital nos grandes oligopólios que dominam todos os setores da indústria e dos serviços na arena global. As transformações ocorridas no sistema financeiro desataram a livre e brutal concorrência no capitalismo da grande empresa e das grandes instituições financeiras.
Aqui nos ocuparemos das transformações ocorridas entre os anos 70 do século XX e a crise financeira em 2008.
Em sua peregrinação, Piketty apresenta um conceito de capital que aparentemente desconsidera as formulações teóricas de Marx a respeito das relações de produção capitalistas e de suas conexões com a natureza das forças produtivas adequadas ao desenvolvimento desse regime de produção.
No entanto, ao agregar as várias modalidades de ativos e discutir as mudanças de sua composição, Piketty reconstitui a trajetória de Marx em O Capital : reafirma a “natureza” do regime do capital como modalidade histórica cujo propósito é a acumulação de riqueza monetária, abstrata; assim abre espaço para a compreensão da predominância do capital a juros e do capital fictício, como formas de riqueza e de enriquecimento derivadas da propriedade do capital e não da atividade inovadora e faustica do empreendedor capitalista. Essedesdobramento necessário da riqueza capitalista em suas modalidades mais “avançadas”, confirma as investigações de Marx, Schumpeter, Keynes e Minsky a respeito das leis de movimento que regem a relação entre riqueza e criação de valor ( renda).
No capitalismo carregado de todas as suas determinações, riqueza agregada é o estoque de ativos reprodutivos, direitos de propriedade sobre esses ativos e seus rendimentos (ações) e títulos de dívida gerados ao longo de vários ciclos de criação de valor. Os ativos financeiros –ações e títulos de dívida – são avaliados diariamente em mercados especializados.
No Livro III de O capital, Marx estabelece a conexão entre a expansão do crédito e a valorização dos ativos financeiros: “Ao desenvolver-se o capital-dinheiro disponível também se desenvolve a massa de valores rentáveis, títulos do Estado, ações, etc. Mas aumenta ao mesmo tempo a demanda de capital dinheiro disponível posto que os que especulam com títulos e valores desempenham um papel fundamental no mercado de dinheiro… Se todas as compras e vendas desses títulos não fossem mais do que a expressão dos investimentos reais de capital, seria acertado dizer que não influem na demanda de capital de empréstimo” (O capital, Livro III, p. 479).
Como regra geral, a distribuição da riqueza é muito mais concentrada do que a distribuição da renda. Sendo assim, a maior “propensão a poupar” dos que estão nas camadas superiores da distribuição da renda contribui para deprimir a “propensão a gastar” do setor privado.
A frugalidade dos ricos amplia o papel da herança na reprodução e acumulação da riqueza, o que desmente o caráter meritocrático e “competitivo” do enriquecimento alegado pelos liberais. Ao desdobrar a riqueza nas formas em que se transmutam ao longo dos três séculos de história, Piketty faz reaparecer no proscênio da vida econômica a tendência “natural” do capitalismo à preeminência do capital-propriedade e da valorização de ativos já existentes sobre as aventuras do investimento produtivo.
Quando o empresário tende inevitavelmente a se tornar um “rentier”, dominante sobre os que apenas possuem próprio trabalho, o capital se reproduz mais velozmente que o aumento da produção e o passado devora o futuro..No artigo “ O capital está de volta”, Thomas Piketty e Gabriel Zucman revelam a evolução da relação entre riqueza e renda desde o século XVIII. Analisando as oito maiores economias desenvolvidas do mundo, a participação da riqueza agregada sobe de aproximadamente 200% a 300% em 1970 para 400% a 600% atualmente.
A curva que expressa a evolução dessa relação apresenta o formato de “U”, com queda acentuada na participação da riqueza agregada sobre a renda no período que compreende as duas grandes guerras mundiais e a Grande Depressão. A tendência se inverte de forma mais acentuada a partir dos anos 70 do século XX. Segundo os autores “as guerras mundiais e as políticas anti-capital destruíram uma grande fração do estoque de capital mundial e reduziram o valor de mercado da riqueza privada, o que é improvável ocorrer novamente na era dos mercados desregulados. Em contraposição, se há redução no crescimento da renda nas décadas à frente, então as relações riqueza-renda podem se tornar altas praticamente no mundo todo”.
Nesse parágrafo, Piketty trata da “desvalorização da riqueza” como um fenômeno que acompanhou os ciclos de acumulação da indústria e da finança do capitalismo no século XIX e na primeira metade do século XX. A desvalorização da riqueza é constitutiva do movimento sempre revolucionário de expansão do capitalismo, descrito por Schumpeter como “destruição criadora”. Marx tratou as crises como episódios de desvalorização do capital existente, fenômeno que nasce das entranhas da acumulação, necessário para expurgar o peso da riqueza velha e impulsionar um novo ciclo de expansão,
No pós-guerra, as políticas econômicas foram forjadas sob o receio de reedição do desastre social e econômico ocorrido na Grande Depressão, almejando estabilizar uma economia com fortes inclinações à instabilidade.As políticas anticíclicas da era keynesiana cumpriram o que prometiam ao sustar a recorrência de crises de “desvalorização de ativos”. Mas, ao garantir o valor dos estoques de riqueza já existente, as ações de estabilização ampliaram o papel dos critérios de avaliação dos Mercados da Riqueza nas decisões de empresas, consumidores e governos.
As intervenções de última instância dos bancos centrais e dos Tesouros Nacionais, concebidas para evitar a deflação de ativos, incitaram a conservação e valorização da riqueza na sua forma mais estéril, abstrata, que, em contraposição à aquisição de máquinas e equipamentos, não carrega qualquer expectativa de geração de novo valor, de emprego de trabalho vivo. O que era uma forma de evitar a destruição da riqueza abstrata está a provocar a necrose do tecido econômico.
A história do capitalismo está infestada de episódios de crises de liquidez, sempre deflagradas depois de uma expansão do crédito criado ex-nihilo pelo sistema bancário. Quando a euforia se converte no medo e na incerteza, os agentes racionais se transformam num tropel de búfalos enfurecidos na busca da “liquidez”, ou seja, na captura do dinheiro em sua determinação essencial de forma geral do valor e da riqueza.
Esses episódios cada vez mais frequentes, estariam na cauda da distribuição de probabilidades. Os chamados “eventos de cauda” – como por exemplo, a valorização (e o colapso) dos preços dos ativos lastreados em hipotecas (“asset backed securities”) – não podem ser considerados versões ampliadas das pequenas flutuações. Isto porque os episódios de euforia contagiosa e de busca desesperada da liquidez deformam a própria distribuição de probabilidades.
Atormentadas pelos mistérios e contradições da finança, almas aflitas, como Olivier Blanchard (ex-economista-chefe do FMI) e Lawrence Summers (ex-Secretário do Tesouro do Governo Bill Clinton), confessaram: na euforia das autocongratulações, os corifeus dos modelos Dinâmicos Estocásticos de Equilíbrio Geral esqueceram de incluir em seus modelos os bancos, o crédito e os volúveis humores dos mercados que negociam títulos de dívida e ações.
Os dois reconhecem, em seu texto “Rethinking Stabilization Policy: Back to the Future” (outubro de 2017): “Ao longo de décadas, Hyman Minsky advertiu para as consequências da construção de riscos financeiros… Vamos dar dois exemplos de questões fulcrais para as políticas econômicas que permanecem não-resolvidas: primeiro, assegurado que as bolhas de ativos eclodem e que sua interação com a alavancagem excessiva é crucial para a compreensão das crises financeiras, qual a importância relativa dos diferentes mecanismos? Um mecanismo é a perda de capital dos intermediários financeiros que respondem contraindo o crédito e derrubando a atividade econômica”
Concluem os arrependidos: “os eventos dos últimos dez anos colocaram em dúvida a presunção de que as economias são capazes de se auto estabilizarem, levantaram novamente a questão se choques temporários produzem efeitos permanentes, e demonstrou a importância das não linearidades”.
É oportuno relembrar que nos modelos de equilíbrio geral, a racionalidade dos agentes se exerce em um espaço de preços relativos “reais” que garantem ex-ante o equilíbrio das transações em todas as datas e contingências.
Já nas hipóteses da escola austríaca de von Mises a Hayek o “processo de mercado” não se apoia no formalismo do equilíbrio geral, mas decorre da fluência e disponibilidade das informações para todos os indivíduos-protagonistas. A dinâmica do sistema está submetida à decisão crucial e intertemporal que define a preferência dos agentes individuais entre consumo presente e consumo futuro.
A divisão da renda pelo público entre consumo e poupança depende da taxa natural de juro. A taxa natural reflete a “produtividade do capital” no sentido de Wicksell, Böhm-Bawerk e demais economistas da Escola Austríaca. Trata-se da taxa que exprime a relação entre consumo presente e consumo futuro, ou seja, entre a utilização dos recursos reais no presente (consumo) ou no futuro (poupança/investimento). O investimento é um processo longo e indireto de acesso ao consumo (roundaboutness), o consumo diferido.
A teoria dos fundos emprestáveis (poupança acumulada nos depósitos bancários) está fundada na suposição que atribui aos bancos a condição de meros intermediários entre poupadores e “gastadores”. As operações de crédito, mediadas pela taxa natural de juro, apenas redistribuem as posições entre credores e devedores, refletido distintas preferências entre consumo presente e consumo futuro (investimento) sem qualquer efeito sobre a estabilidade macroeconômica. Trata-se simplesmente de uma redistribuição de riqueza. A dívida de A é o crédito de B: os balanços se transformam simetricamente e, assim, não haveria a possibilidade de uma “crise de crédito” provocada por uma alavancagem excessiva.
Claudio Borio adverte que “poupança e financiamento não são equivalentes (…). Eles são equivalentes no modelo, mas não em geral e, mais ao ponto, no mundo real (…) tais interpretações das finanças são em grande medida baseadas em livros texto sobre fundos prestáveis (…) esta é uma visão das finanças excessivamente estreita e restrita, pois ignora o papel do crédito monetário (…) poupança e financiamento não são equivalentes em geral. Em uma economia monetária, o constrangimento de recursos (real) e o constrangimento do fluxo de caixa (monetário) diferem, porque bens não são trocados por bens, mas por dinheiro ou demanda por ele (crédito). Então crédito e dívida não são realizados pela troca de recursos reais, mas por direitos financeiros sobre esses recursos”.
Os estudos de Piketty sobre o papel da dívida pública na composição da riqueza privada nos primórdios do capitalismo mostram a importância do ativo-passivo emitido pelos governos na transição dos patrimônios imobilizados na terra para a riqueza móvel e líquida. Assim, o Banco da Inglaterra mediou as trepidações e expropriações da acumulação primitiva.
No capitalismo “financeirizado” do século XXI, a apropriação de renda “rentista” está intimamente associada ao inchaço das dívidas públicas nacionais. Para a compreensão da “nova dinâmica” do enriquecimento e da desigualdade é necessário avaliar, na esteira de Piketty, o papel do endividamento público na valorização do capital fictício e na transmissão da riqueza entre as gerações.
Os títulos dos governos se constituem no “lastro de última instância” dos mercados financeiros globais “securitizados”. No que respeita à segurança e à liquidez, há uma hierarquia entre os papéis soberanos emitidos pelos distintos países, supostamente construída a partir dos fundamentos fiscais “nacionais”. Mas essa escala hierárquica reflete, sobretudo, a hierarquia das moedas nacionais, expressa nos prêmios de risco e de liquidez acrescidos às taxas básicas de juros dos países de moeda não conversível.
O diferencial de juros entre aqueles vigentes na “periferia” e os que prevalecem nos países “desenvolvidos” está determinado pelo “grau de confiança” que os mercados globais estão dispostos a conferir às políticas nacionais dos clientes que administram moedas destituídas de reputação internacional.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras