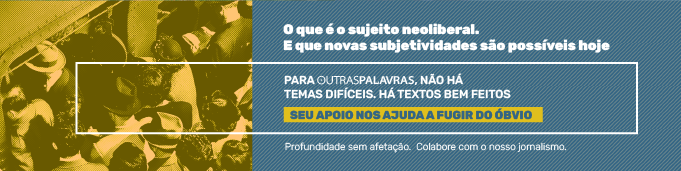A injustiça covarde das “prisões por reconhecimento”
Caso do violoncelista Luiz Carlos Justino expõe nova forma de racismo policial. Centenas de pessoas são presas ilegalmente — sem condenação e apenas por terem sido “reconhecidas” em aplicativos. Das vítimas, 70% são negros
Publicado 18/09/2020 às 11:25 - Atualizado 18/09/2020 às 13:30

Por Caê Vasconcelos, na Ponte Jornalismo
Em 2017, um reconhecimento feito por foto, de maneira irregular, mudou a vida de Barbara Querino, 22 anos. A modelo e dançarina, conhecida como Babiy, foi fotografa por policiais militares no dia em que seu irmão e seu primo foram presos, apesar de a jovem não ter qualquer participação com o crime.
Essa imagem circulou em grupos de WhatsApp e páginas do Facebook, em mensagens que a apresentavam falsamente como membro de uma quadrilha de assaltantes de carros que atuava na zona sul da cidade de São Paulo. Babiy foi presa em janeiro de 2018 acusada de participar de dois roubos em setembro de 2017. Permaneceu presa 1 ano e 8 meses, mesmo apresentando provas de que não cometeu os crimes. Em 2020, a dançarina foi absolvida definitivamente das acusações.
No mesmo ano que Babiy foi presa, imagens de fotos de suspeitos circularam em WhatsApp do programa ‘Vigilância Solidária’, criado pela PM. Nas fotos, supostos suspeitos apareciam segurando cartazes com seus dados pessoais, a data em que foram detidos e artigo do Código Penal em que foram enquadrados.
Quase três anos depois, em setembro de 2020, o violoncelista Luiz Carlos Justino, 23 anos, foi preso em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, acusado de um roubo acontecido em novembro de 2017. O músico também foi reconhecido por uma fotografia que estava no sistema da Polícia Civil do RJ. Ele não tinha passagem pela polícia, assim como Barbara.
Luiz ficou quatro dias preso, apesar de ter um vídeo que mostrava que, no momento do roubo, ele realizava uma apresentação musical pela Orquestra de Cordas da Grota, grupo do qual faz parte desde os 6 anos. A polícia informou que abordou Luiz em 2 de setembro de 2020, quando ele estava em um bar após uma apresentação musical nas barcas, por “desconfiança”. O jovem foi preso segurando o seu violoncelo.
Barbara e Luiz Carlos tem muitas semelhanças entre si: jovens, negros e periféricos acusados de crimes que tinham provas concretas de que não cometeram, mas foram reconhecidos por fotos. Eles não são os únicos. Nos últimos anos só a Ponte cobriu mais de 30 casos como esses, que chamamos de presos sem provas.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro localizou 58 casos de reconhecimento fotográfico, que resultaram em acusações injustas e prisões de pessoas inocentes. O relatório foi feito com defensores públicos de 19 varas criminais do estado, entre 1º de junho de 2019 a 10 de março de 2020, e reforça o impacto do racismo estrutural: 70% dos acusados injustamente, ou 40 deles, eram negros.
Todos os casos, segundo a Defensoria, passavam pela mesma experiência: reconhecimentos pessoais em sede policial, normalmente, delegacias, feitos por fotografia; reconhecimentos não foram confirmados posteriormente em juízo; e foram absolvidos.
Para entender as motivações dessas prisões, ouvimos especialistas para explicar porque tantos jovens negros e periféricos são o alvo principal dessas prisões.
O estereótipo de bandido
Um dos principais fatores para que pessoas negras sejam presas injustamente é o estereótipo de bandido. Para a advogada criminalista Dina Alves, coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCRIM (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais), isso ocorre por conta de um “traço profundo do racismo e do autoritarismo”.
“Este grupo social aparece sempre como bandidos, traficantes de drogas, natos à criminalidades e inaptos à cidadania. Isso é reflexo dos estereótipos das suas imagens, utilizadas nestes álbuns de fotografias para reconhecimento de suspeito padrão”.
Colocar pessoas negras na posição de criminosos, continua Alves, tanto pelos agentes do Estado como pela sociedade, constrói uma nova forma de legitimar preconceitos e segregações, uma vez que “a partir do momento em que o negro é visto como suspeito, se torna aceitável o racismo institucional, legitimado pela sociedade”.
“Negros e negras são capturados por um tipo de teia ficcional em que a liberdade na escolha da decisão da polícia, que é responsável por procedimentos mais violentos em certas áreas, baseados em estereótipos racistas, é confirmada também pelas decisões do poder Judiciário”.
O advogado criminalista Flávio Campos, que atuou na defesa de Barbara Querino, complementa: “Isso é resultado de decisões políticas e da história do nosso país e do mundo ocidental, o mundo branco. A polícia vem carregada de uma ideologia patrimonialista. Dentro de um sistema criado para proteger o patrimônio, aqueles que são enquadrados como estereótipo de risco são objeto de preocupação constante da polícia”.
Com isso, continua Campos, e para “manter a ordem”, as polícias, principalmente a Polícia Militar, “recebe o estereótipo do bandido e estabelece em cima disso a sua base de trabalho”. Isso fragiliza a investigação policial, já que “é só olhar a cor da pele, o jeito de andar, de se vestir, de falar, e basta. É um exercício simples do poder e cai como uma luva na mão da sociedade racista. É muito cômodo em uma sociedade de raças, onde os brancos têm superioridade política, econômica, bélica”.
André Luiz Nicolitt, juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) e da UniFG (Faculdade de Guanambi), lembra que esse estereótipo, do negro violento e estuprador, foi construído ainda no fim dos períodos escravocratas ao redor do mundo.
O mais contraditório, aponta, é que “as vidas mais vulneráveis, mais matáveis, são as vidas negras, são os corpos negros”. “Os negros que morrem mais de forma violenta, são os negros que mais são presos. Era o negro eu deveria ter esse medo porque somos nós que morremos mais e somos vítima dessa violência toda”.
O papel das polícias e a fragilidade dos reconhecimentos
Para os especialistas ouvidos pela Ponte, as polícias têm um papel fundamental nas prisões baseadas em reconhecimentos, uma vez que é nas delegacias que o primeiro reconhecimento acontece.
Para Flávio Campos, o papel das polícias “demonstra uma insuficiência da investigação”. Ele cita outro caso de reconhecimento irregular em que atua como advogado de defesa, a prisão do auxiliar administrativo Ailton Vieira da Silva, 23 anos, que foi preso no Capão Redondo, zona sul da cidade de SP, em 25 de maio deste ano.
“Você sofre um assalto em determinada rua do Capão Redondo, você não viu a cor, não viu nada, só viu a moto chegando, viu que era um veículo escuro, vê uma pessoa com um revolver usando uma roupa clara e outra pessoa usando uma roupa escura, mas você não vê o rosto, você entregou o celular, os caras subiram na moto e saíram andando”, exemplifica uma cena que parece fictícia, mas foi o que aconteceu com Ailton.
“A polícia passou, te colocou dentro da viatura, voltou, pegou dois moleques no caminho. Te mostrou, perguntou se é, você falou que não, mas os moleques têm passagem e a polícia te chama de canto e fala isso, aí você olha, quer tirar isso da sua vida, e fala que eram eles”, narra Campos.
Em junho deste ano a Ponte contou a história do professor de futebol Wilton Oliveira da Costa, preso em maio por um crime ocorrido em janeiro de 2018, no Rio de Janeiro, após ser reconhecido por foto. O caso de Wilton ganhou muita repercussão nas redes sociais com a campanha #SinhaLivre.
Três meses depois, em agosto, foi a vez dos irmãos Jonathan Santana Macedo e Jefferson Santana Macedo serem presos por um roubo na região do Grajaú, na periferia da zona sul da cidade de São Paulo, de janeiro de 2020, também após serem reconhecidos por fotografias.
Para Janaina Matida, professora de Direito da Universidade Alberto Hurtado no Chile, doutora pela Universitat de Girona, na Espanha, e consultora do projeto Prova sob Suspeita do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), o reconhecimento de pessoas é falho por depender da memória humana.
“Os avanços da psicologia mostram que temos boas razões para repensar essa premissa da memória humana”, por isso “o reconhecimento deve ser olhado de forma muito crítica e desconfiada porque ele é uma porta escancarada para erros judiciários, para falsos reconhecimentos, reconhecimentos de pessoas inocentes”.
Matida aponta que a fragilidade da memória, ou as falsas memórias, podem acontecer com qualquer pessoa com memória funcionando regularmente. “No momento que o fato está acontecendo é possível que aquela pessoa que esteja vivenciando ou testemunhado o fato tenha uma dificuldade de registro, que tenham fatores ali que contaminem um registro adequado”.
No momento do reconhecimento, seja por foto ou pessoalmente, argumenta a professora, o fator de racial é determinante. “Se a vítima é uma pessoa asiática ou branca e pessoa acusada é negra, determinadas características ou singularidades, detalhes do rosto daquela pessoa, podem passar desapercebidos a outra pessoa que está fazendo o reconhecimento”.
É importante apontar que esse viés não passa só pelas vítimas – no Brasil, 77% dos membros do Ministério Público são brancos, enquanto a proporção de brancos entre os juízes brasileiros é ainda maior: 80%. Em 2017 a população brasileira era formada por 54,9% de negros.
Somado a isso, outros fatores devem ser observados: se o crime foi cometido por mais de uma pessoa, se as pessoas estavam armadas, se o crime aconteceu em um lugar com pouca iluminação e quanto tempo o reconhecimento acontece após o crime.
“A memória humana é fadada ao esquecimento. A gente esquece coisas para lembrar de outras, a gente esquece fatos passados porque continuamos vivendo. Se o reconhecimento demorar para acontecer, também é um fator de contaminação do armazenamento”.
A forma que o reconhecimento é feito também é crucial para evitar falhas. “Às vezes o reconhecimento acontece na rua, com a pessoa algemada, dentro do camburão, em uma aparência de já ter sofrido uma violência policial”, explica Matida.
Para Hugo Leonardo, presidente do IDDD, outra falha grave dos reconhecimentos vem da forma que eles são feitos: não seguem o artigo 226 do Código de Processo Penal, que prevê uma série de etapas para o reconhecimento, como a necessidade de a vítima descrever o suspeito antes de mais nada e enfileirar pessoas com características semelhantes, tudo para evitar que a pessoa seja induzida a reconhecer alguém inocente.
“O Brasil tem o artigo 226, mas que tem muitas lacunas, não trata como esse reconhecimento deveria ser feito. A nossa memória tem uma forma muito precária para identificar o suspeito de uma cena criminosa. Uma vez que a pessoa tenha contato com esse suspeito na delegacia, e não na cena que a ocorrência se deu, a pessoa nunca mais vai saber dizer quem ela está reconhecendo”, explica.

Com isso, continua Hugo, a vítima do crime não vai saber se reconheceu aquela pessoa porque ela participou da ocorrência ou se foi a pessoa que ela viu na delegacia e os policiais indicaram como sendo o autor do crime. “Para além da necessidade de praticarmos o ato de reconhecimento de uma forma segura, o que deveria ser observado é que a Justiça jamais poderia cravar uma condenação única e exclusivamente em reconhecimento e no depoimento dessa vítima”.
O advogado criminalista Marcelo Feller, que atua desde 2007 na Justiça criminal e pesquisa os reconhecimentos, aponta que o reconhecimento por foto é mais eficaz do que o reconhecimento pessoal, mas para isso funcionar, regras têm que ser estabelecidas.
O juiz André Luiz Nicollit argumenta que, além de antiga, a legislação “não dá uma boa base para que a gente faça um reconhecimento”. “Não temos no Brasil nenhuma regência sobre reconhecimento por foto. O 226 não fala de reconhecimento por foto, fala de reconhecimento de pessoas”.
Por isso, vê problemas nos reconhecimentos fotográficos. “Se tem que colocar mais pessoas, como esse álbum começa, como esse álbum é formado, se as pessoas que vão reconhecer fazem pessoalmente. Nada disso está delineado na lei. Então temos um problema gigantesco, mas as pessoas não têm a dimensão”.
Uma das regras que deveriam existir, aponta Feller, é que os agentes do sistema de Justiça avisem as vítimas de que a pessoa a ser reconhecida pode não estar na fileira, quando o reconhecimento segue, minimamente, o artigo 226 do CCP, ou nas fotografias apontadas nas delegacias. Isso porque “as falhas não se dão porque a vítima está mentindo, a vítima acredita que ela está falando a verdade. Não é sobre quem está mentindo ou falando a verdade”.
Para Feller, um reconhecimento mal feito pelas polícias prejudica “para sempre” o reconhecimento feito em juízo. “Imagina que o João é reconhecido na polícia, mas é inocente. A Maria já viu a cara do João na delegacia, a imagem do João cometendo aquele crime, na cabeça da Maria, vai se solidificando. Quando ela ver o João de novo na audiência ela tem mais certeza ainda que é aquele cara. O primeiro reconhecimento cria uma memória, cria um rosto que antes não existia”.
Seletivismo penal da Justiça
Para os especialistas, nenhuma pessoa deveria ser julgada unicamente pelo reconhecimento ou testemunho, seja da vítima ou dos policiais que efetuaram a prisão, já que ambos são da mesma fonte: a memória humana. O criminalista Marcelo Feller explica que esse é um problema estrutural do sistema de justiça brasileiro.
“O reconhecimento pode, e até deve, pautar uma investigação. Se uma pessoa é vítima de um roubo ou uma mulher é vítima de estupro isso pode, e deve, orientar a polícia a investigar esse alguém, saber se ela tem álibi, se tem outras provas contra ela”, explica. “Mas o que vemos é essa única prova sendo suficiente para condenar uma pessoa. A vítima reconheceu, a defesa não comprovou que a vítima tinha algum motivo para mentir e a Justiça acredita”.
É por isso, argumenta Janaina Matida, que as investigações devem continuar mesmo após o reconhecimento. “É preciso que haja um esforço institucional daqueles que cuidam das investigações de corroborar o relato das vítimas e das testemunhas com outros elementos probatórios, como vídeos de lugares próximos aos fatos, testemunhos de outras pessoas, folhas de ponto em determinados delitos”.
Para Hugo Leonardo, é nesse momento que o seletivismo penal acontece. “O que é trágico é o seletivismo desavergonhado que todas as nossas agências penais, desde a Polícia Militar, passando pela Polícia Civil, passando pela Justiça em primeira instância e até o Supremo Tribunal Federal, têm em relação aos negros, que são jovens e pobres e são levados para as delegacias”.
Para combater isso, o IDDD tem um projeto chamado “Prova sob Suspeita”, que busca atacar “o reconhecimento, a ausência de parâmetros para um reconhecimento eficaz do ponto de vista de prova e para que os juízes se sensibilizem para não mais aceitar esse tipo de ato informativo como único elemento para uma condenação”.
“A nossa ideia é que o sistema tenha melhores elementos para conseguir viabilizar um reconhecimento que esteja isento às falsas memórias. Esse tem sido o nosso papel para minorar o impacto desse erro judiciário e principalmente em relação a pessoas vulneráveis da Justiça criminal”, explica Hugo.
Janaina Matida, que é consultora do projeto do IDDD, também chama atenção para o fato de que existe uma grande pressão social para uma resposta à criminalidade. Mas, pontua, isso não deve ser usado como desculpa: “É preciso que haja qualidade das provas produzidas, porque é essa qualidade que mostra que os fatos ocorreram. O juiz não pode se dizer convencido porque escutou o policial”.
Para Matida, a palavra do policial não deve ser eliminada, mas as “falsas alegações” devem ser levadas em conta. “A afirmação não é que o policial mente, mas, quando estamos falando de alegações que podem ser falsas, a gente tá falando não apenas da mentira. A mentira, certamente, é uma fonte de falsidade, mas a falsa memória é outra fonte”.
A pesquisadora explica que o poder Judiciário acredita que a “falsa memória é um artifício da defesa”. “Pessoas bem-intencionadas podem descrever os fatos de forma falsa, ainda que elas estivessem cheias de vontade de contribuir com uma narrativa verdadeira elas podem se equivocar”.
O problema do sistema de justiça, explica Matida, antecede a fase do processo penal propriamente dito: “Os policiais precisam receber capacitação. A gente está falando de gente, de ser humano, não tem só uma parte no processo, não tem só a acusação. A defesa, a parte ré, é um ser humano que não pode ser esquecido nessa condição. Em via de regra, as famílias trazem provas de inocência, de fatos que são incompatíveis com a hipótese acusatória”.
A explicação para isso está no que se chama de fenômeno de injustiça epistêmica, “que acontece quando não se reconhece a determinadas pessoas a sua capacidade de conhecer adequadamente os fatos, logo não pode testemunhar sobre eles”, aponta Matida.
“É quando a família dos investigados e acusados chega a trazer elementos que refutam a hipótese acusatória, rapidamente a palavra desses familiares é desprezada, é descartada porque se entende que eles estão mentindo, estão querendo livrar a pessoa da punição que ela ‘merece’”.
Como o reconhecimento deveria acontecer?
Para Janaina Matida, para se ter um reconhecimento menos falho, é preciso fazer o enfileiramento justo, com pessoas semelhantes ao suspeito, com pelo menos quatro pessoas.
“Outra coisa importante é não dar retornos positivos para as vítimas. ‘Ah, ele mesmo que a gente achou que você ia reconhecer’. Quando a gente recebe um retorno positivo, a gente tem um grau de certeza maior, isso estimula, causa um efeito de grau de certeza”.
Com isso, a pessoa chega no tribunal, diante do juiz, “dizendo que tem muita certeza de que era essa pessoa e mesmo assim pode não ser. Esse grau de certeza para ele pode ter sido gerado nesse retorno que ele recebeu de alguém que trabalha no sistema de Justiça”.
Os responsáveis pelo reconhecimento de pessoas dentro do sistema de Justiça, como os policiais, acabam tornando os reconhecimentos menos confiáveis quando “enviam as fotos pelo WhatsApp. Isso não pode, não obedece a mínima padronização”.
“O reconhecimento por fotografia não é em si ruim, porque com ele é possível que a gente junte fotografias de pessoas que apresentem semelhanças com o acusado. Podemos ter um banco de dados com essas semelhanças e torna esse enfileiramento mais justo”.
Porém esse sistema de reconhecimento por fotografias “não pode ser confundido com o álbum de fotografias que está presente nas delegacias, não pode ser confundido com o baralho do crime que está presente nas delegacias do interior do Brasil, não tem nada a ver com o álbum de fotografia que o policial mostra e fala ‘esse daqui comete esse delito bem nessa área que você falou’”.
Para a psicologia, explica Matida, o policial responsável pelo reconhecimento não pode saber da presença do suspeito na fila do procedimento. “Os avisos são muito importantes, dizer que, mesmo que a vítima não reconheça ninguém, as investigações vão continuar. A vítima tem a ideia de que, se ela não reconhecer, está tudo acabado ali”.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras