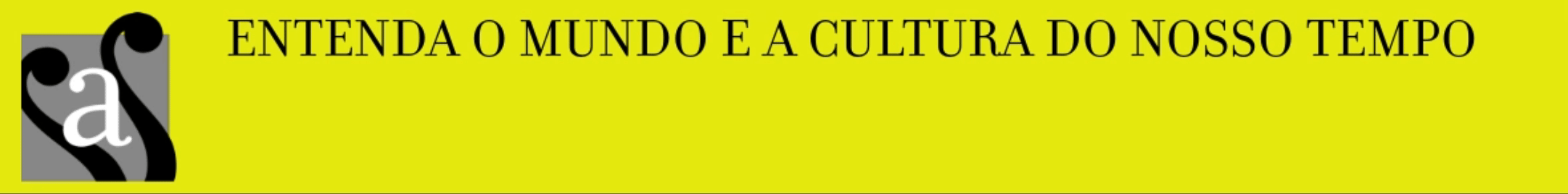Como será o amanhã
O que o plano de governo e o discurso de Bolsonaro apontam para o futuro do SUS
Publicado 07/12/2018 às 13:59 - Atualizado 10/04/2019 às 09:25

Por Bruno Dominguez, na Radis
A partir de 1º de janeiro, o SUS estará sob nova direção, com a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A pergunta que profissionais e usuários se fazem é: em qual direção irá o SUS? “Depois de uma campanha em que a saúde não foi discutida com prioridade pelos candidatos, tendo se resumido a promessas vagas de expansão sem fontes de financiamento apontadas, o primeiro desafio é retomar o tema como nuclear do próximo governo”, avalia à Radis o professor do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) Mário Scheffer, um dos autores do estudo “A saúde nos programas dos candidatos à Presidência em 2018”.
No texto, escrito com a professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Iesc/UFRJ) Ligia Bahia e a professora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) Ialê Falleiros Braga, um alerta baseado em experiências passadas já chamava a atenção: “Parte das proposições dos programas eleitorais consiste na mera reapresentação de intenções não efetivadas. Possivelmente, a concordância, no processo eleitoral, relativamente fácil de obter, em torno da expansão do SUS, tem sido submetida posteriormente a escrutínios de agentes políticos movidos por interesses que terminam por restringir as políticas universais”.
Financiamento congelado
O plano de governo de Bolsonaro protocolado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no que trata da saúde, parte do diagnóstico de que o financiamento do setor é adequado mas há problemas de gestão: “Abandonando qualquer questão ideológica, chega-se facilmente à conclusão que a população brasileira deveria ter um atendimento melhor, tendo em vista o montante de recursos destinados à Saúde. Quando analisamos os números em termos relativos, o Brasil apresenta gastos compatíveis com a média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo composto pelos países mais desenvolvidos. Mesmo quando observamos apenas os gastos do setor público, os números ainda seriam compatíveis com um nível de bem-estar muito superior ao que vemos na rede pública. É possível fazer muito mais com os atuais recursos! Esse é o nosso compromisso”.
O dado divulgado de que o Brasil dedicou 9,5% do PIB à saúde, mais que o Reino Unido (9,1%), é real mas omite que a maior parte desses recursos (57%) são privados — gasto das famílias com planos e medicamentos. Comparado aos outros países com sistemas universais, o Brasil aparece com a menor participação do Estado nas contas: 42,8% do total. Somando União, estados e municípios, o investimento na área é de US$ 334 por habitante por ano, dez vezes menos do aplicado pelo Reino Unido (US$ 3.500 por habitante/ano), segundo o relatório de Estatísticas Sanitárias 2018 da Organização Mundial da Saúde, com informações de 2015.
“O financiamento atual é insuficiente para dar sustentabilidade ao SUS como está organizado e mais ainda para implementar as demais propostas de Bolsonaro para a área, que demandam grande aporte”, avalia Scheffer. A prometida criação de um prontuário eletrônico nacional, para compartilhar informações do paciente e impedir tratamentos desnecessários, custaria entre R$ 10 bilhões e R$ 17 bilhões, segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo a partir de um projeto do Ministério da Saúde barrado em agosto pelo Tribunal de Contas da União.
O professor também observa que não há, até agora, apontamentos de como o presidente eleito conseguiria melhorar a gestão dos recursos disponíveis — onde estão as falhas e em que seria aplicado o dinheiro economizado. Scheffer, no entanto, tem uma proposta: deslocar verbas do setor privado que não atende o SUS para o setor público. “Em um cenário de escassez, uma revisão a ser feita é nas desonerações de diversas ordens — isenções fiscais e tributárias, crédito — que beneficiam os planos de saúde”.
O indicado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, o deputado federal e ex-secretário de Saúde de Campo Grande Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), parece discordar da avaliação de suficiência do orçamento da pasta. O médico foi apoiador do movimento Saúde+10, que em 2014 defendia a destinação de 10% da Receita Corrente Bruta (RCB) da União para o setor — o percentual aumentaria gradualmente. Também foi contrário à entrada do capital estrangeiro na assistência.
Mandetta é autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 786/17, que busca sustar a portaria que alterou a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), se colocando contra a retirada da obrigatoriedade da presença dos agentes comunitários de saúde nas equipes de atenção básica, por exemplo. Por outro lado, foi conselheiro fiscal (em 1998), presidente do conselho fiscal (1999-2001) e presidente da Unimed Campo Grande (2001-2004) e recebeu contribuição de campanha da Amil na última eleição em que concorreu. Ainda votou pela aprovação da Emenda Constitucional 95, que impõe limite ao gasto público.
Carreira para médicos
Além do prontuário eletrônico, outras quatro propostas para o setor foram elencadas no plano de governo: credenciamento universal de médicos (todos poderiam atender no SUS e nos planos); instituição de uma carreira de Estado para médicos; inclusão de profissionais de Educação Física na Estratégia Saúde da Família; e reforço no atendimento neonatal e de saúde bucal para gestantes.
O credenciamento universal de médicos se traduziria em uma espécie de “voucher saúde”, vale que poderia ser usado para atendimento em clínicas privadas. “É uma proposta extemporânea, sem sentido, que já foi experimentada sem sucesso na década de 70”, avalia Scheffer. A inviabilidade é de ordem prática, segundo o professor. Como seria possível fazer um credenciamento universal de 500 mil médicos espalhados pelo território? Como controlar o uso do voucher? Que apoio a proposta teria do setor privado, quando este busca alternativas ao pagamento por produção de serviços?
A instituição de uma carreira de Estado para médicos também é considerada por ele como uma “abstração”: “O SUS é um sistema heterogêneo e fragmentado, com multiplicidade de empregadores, o que torna muito difícil pensar em uma carreira única”. O que seria possível, ressalva, é a criação de uma carreira federal direcionada para um nível específico de atenção, a atenção primária, em um grupo específico de municípios, os mais desassistidos pela categoria.
Em artigo assinado na Folha, em 21 de novembro, o ex-ministro da Saúde José Gomes Temporão e o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais Francisco Campos sugeriram a criação de uma carreira de Estado para médicos, enfermeiros e odontólogos para suprir as regiões mais pobres e desassistidas e de mais baixo índice de desenvolvimento humano.
Mais Médicos sem Cuba
Uma carreira capaz de atrair e fixar profissionais passou a ser especialmente importante depois que Cuba encerrou sua participação no programa Mais Médicos, em 14 de novembro, deixando 8.517 das 18.240 vagas abertas em quase 3 mil municípios e 34 distritos indígenas. O fim do contrato, apesar de se dar ainda no governo Temer, foi consequência direta dos questionamentos de Bolsonaro sobre a qualificação dos médicos cubanos e das condições que pretendia impor — exigir a revalidação do diploma e contratar individualmente os profissionais — para dar continuidade ao convênio com a Organização Pan-americana da Saúde (Opas), renovado em março por mais cinco anos. Em novembro de 2017, ao julgar ações que questionavam pontos do programa, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu pela constitucionalidade do Mais Médicos e autorizou a dispensa da validação de diploma de estrangeiros.
A população mais afetada deve ser a indígena, que perdeu 301 dos seus 372 médicos — 81% do total. Os postos ficaram vazios, sem que houvesse um período de transição. O Ministério da Saúde convocou um edital para brasileiros que, até 26 de novembro, teve 97,2% das vagas preenchidas. Desde que foi o programa foi criado, em 2013, nenhum edital deu conta de ocupar todas as vagas somente com profissionais do país. Mesmo quando tomam posse, 30% desistem do posto em até um ano.
Discurso polêmico
Ainda que pouco possa se prever do futuro do SUS, as falas do presidente eleito dão indícios. Declarações sobre mulheres e populações negra, indígena e LGBTQI foram consideradas por defensores dos direitos humanos e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como discurso de ódio — aquele que busca promover o ódio e incita discriminação, hostilidade e violência contra uma pessoa ou grupo em virtude de raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou outra característica.
Em abril, a PGR ofereceu ao Supremo Tribunal Federal denúncia de racismo e discriminação contra Bolsonaro, devido a um discurso proferido no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 2017. Na ocasião, ele descreveu quilombolas como “afrodescendentes de sete arrobas” que “nem para procriador servem mais” e disse também que “o povo, a sociedade brasileira, não gostamos de homossexuais”. Para a PGR, as frases do então deputado transcenderam a ofensa a determinados grupos e incitaram discriminação.
Em setembro, a Primeira Turma do STF decidiu, por 3 votos a 2, rejeitar a denúncia. Os ministros Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes e Luiz Fux avaliaram que as falas se inseriram no contexto da liberdade de expressão e de imunidade parlamentar; os ministros Luís Roberto Barroso e Rosa Weber votaram pelo recebimento de parte da denúncia, pelos crimes de discriminação e incitação ao crime.
Um dos movimentos que mais fortemente reagiu às declarações foi o de HIV/aids, que divulgou diversas cartas abertas criticando o posicionamento de Bolsonaro de não reconhecer que o cuidado com soropositivos é uma questão de saúde pública. “Muito antes de ser eleito, Bolsonaro tem sido identificado com uma série de pautas discriminatórias relacionadas a várias das populações ligadas à epidemia e também fez comentários sobre as pessoas vivendo com HIV/aids que indicaram que eventualmente não acreditava na responsabilidade do Estado com a atenção. Durante a campanha e após a eleição, nada foi falado ou feito sugerindo uma mudança de opinião”, comenta à Radis o diretor da Abia, Richard Parker.
As preocupações não são apenas com o avanço da resposta do país (por exemplo, com a inclusão de novas gerações de medicamentos que tenham menos efeitos colaterais), mas também com sua manutenção. “O acesso aos medicamentos é lei, mas leis podem ser ignoradas, dependendo do compromisso dos gestores”, alerta, destacando que o congelamento de recursos pode ser pretexto para cortar direitos. “Onde se investem recursos é uma escolha política”.
Desde 2013, quando os antirretrovirais passaram a ser distribuídos a todos os pacientes soropositivos independentemente da carga viral, até setembro deste ano, 585 mil pessoas com HIV estavam em tratamento no Brasil, informou boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado em 27 de novembro — a maioria (87%) fazendo uso do medicamento dolutegravir, que aumenta em 42% a chance de supressão viral (diminuição da carga de HIV no sangue) em relação ao tratamento anterior.
Outro fator que pode ser comprometido é a prevenção, que segundo Parker já vem sendo dificultada no Brasil por pressões de grupos associados com as bases de Bolsonaro, mais notadamente os evangélicos: “Houve censura de vários programas e campanhas de prevenção e luta contra ações que de alguma forma combatam preconceito, discriminação e homofobia”.
Também muito associadas à figura do presidente eleito estão pautas como armamento e o estímulo à política de encarceramento, ambas com alto impacto na saúde, como ressalta o assessor do programa de Desenvolvimento e Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos Jefferson Nascimento: “Há uma probabilidade de que, revogando o Estatuto do Desarmamento e facilitando o acesso da população às armas, aconteça um incremento nos registros de lesão por arma de fogo e de homicídios. Isso impacta sobremaneira o sistema de saúde, no atendimento dessas vítimas e mesmo na saúde mental — pela sensação de insegurança e imprevisibilidade que pode gerar ansiedade, depressão e outros transtornos”.
No caso das políticas de encarceramento, indica que hoje são mais de 720 mil pessoas vivendo em condições insalubres e sem atendimento médico adequado, na maior parte dos casos: “São comuns os relatos de contágio coletivo de escabiose, sarna, doenças de pele e respiratórias entre as pessoas privadas de liberdade. Além disso, a questão da saúde mental também é muito presente (a média de suicídios entre a população carcerária, por exemplo, é superior à média nacional), sem falar nas marcas psíquicas que os privados de liberdade e egressos carregam consigo ao longo da vida”.
Resistência coagida
No dia seguinte à eleição, a pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos (CEE-Fiocruz) Sonia Fleury tentou apontar razões sociológicas para a vitória de Bolsonaro, no Seminário Internacional 30 anos do SUS, promovido pela EPSJV no Rio de Janeiro. Elas giram em torno da crise do sistema de democracia representativa, um fenômeno global do qual o Brasil não escapou. “Os eleitores se sentem traídos por regimes democráticos cada vez mais a serviço das grandes corporações, vendo suas expectativas serem frustradas pelos Estados para atender interesses financeiros em vez de suas demandas como cidadãos”, resumiu.
O professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP) Áquilas Mendes reforçou que os ataques aos direitos sociais estão intrinsicamente ligados à dominância contemporânea da lógica do capital financeiro. “Hoje, saúde é mercadoria, por mais que gritemos o contrário. Construir um sistema de saúde universal em um contexto de avanço do capital é remar contra a maré”.
“Resistir é uma exigência”, conclamou na ocasião a presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) Lúcia Souto, para quem radicalização, violência, truculência e barbárie devem ser respondidos com saúde, educação, paz, solidariedade e acolhimento.
Mesmo para resistir, os tempos prometem ser difíceis. Logo após a divulgação dos resultados do primeiro turno, em 7 de outubro, o então candidato Bolsonaro afirmou, em vídeo, que sua eleição botaria “um ponto final em todos os ativismos no Brasil”. “A fala de Bolsonaro afronta a Constituição Federal, que assegura os direitos de associação e de assembleia. A defesa de direitos é um pressuposto da democracia”, contrapõe Nascimento, da Conectas.
“A contradição é que Bolsonaro diz que vai respeitar a democracia ao mesmo tempo em que promete acabar com o ativismo”, analisa Richard Parker. O diretor da Abia ressalva que o presidente eleito parece só pretender acabar com uma parte dos ativistas, aqueles que são contrários aos seus pensamentos: “O ativismo que defende a Escola Sem Partido, por exemplo, não parece ser um problema”.
Cerca de 3 mil organizações não-governamentais, coletivos e movimentos sociais nacionais e internacionais — entre elas, Conectas, Justiça Global, Greenpeace Brasil, Mídia Ninja, União Nacional dos Estudantes, Abrasco e Cebes — repudiaram a frase do presidente eleito, em nota conjunta. “A declaração reforça uma postura de excluir a sociedade civil organizada dos debates públicos. Não será apenas a vida de milhões de cidadãos e cidadãs ativistas e o trabalho das organizações que serão afetados. Será a própria democracia brasileira”, dizia o texto. As entidades afirmaram que o Brasil precisa de um governo aberto ao diálogo, que se proponha a conduzir a nação junto dos mais diferentes setores, respeitando a diversidade de opiniões e ideias.
Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) indica que atuam no país mais de 820 mil ONGs, voltadas a temas como educação, saúde, liberdades individuais e igualdade no acesso a direitos, acesso à informação e a liberdade de expressão, dignidade no trabalho, direito das crianças e adolescentes, meio ambiente, entre outros. Também é reconhecido como ativismo o trabalho de voluntariado.
Do ponto de vista de Nascimento, as perspectivas são bastante preocupantes. Uma ameaça citada por ele é o Projeto de Lei do Senado 272/2016, cujo substitutivo atualmente em debate amplia largamente a margem para criminalização de movimentos sociais, limitando os direitos de protesto e participação social na esfera pública. Outra são as indicações de esvaziamento dos conselhos e conferências nacionais, colocando em risco o processo de transparência e participação social na construção de políticas no plano federal.
“Separar o que é pura retórica — cortina de fumaça que por vezes desvia os esforços na defesa de direitos — das reais ameaças é um trabalho essencial nesse momento, possibilitando o engajamento de organizações e movimentos sociais no debate crítico dessas propostas no âmbito do Congresso Nacional”, aponta ele como um norte. Outro, é usar a Constituição como principal instrumento de defesa contra medidas e políticas antidireitos, recorrendo também a instituições como o Legislativo, Judiciário e governos estaduais e municipais para evitar abusos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras