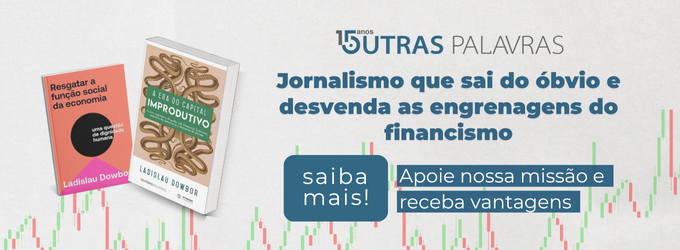A retórica da conciliação e o silêncio do poder
A “neutralidade” tornou-se ferramenta de dominação, e funciona como um lubrificante da agenda neoliberal. Mudar o país requer repolitizar o sofrimento, a fome e o desemprego. Reivindicar o conflito e escolher um lado – o que acredita que o mundo pode ser diferente
Publicado 21/10/2025 às 17:31

O discurso contra a polarização tornou-se uma das armas mais refinadas do poder contemporâneo. Longe de ser um apelo à paz, funciona como um método de desativação política. Seu propósito é nítido: enfraquecer qualquer tentativa de ruptura e preservar a ordem estabelecida, travestindo a apatia de virtude cívica. Sob o disfarce da moderação, esconde-se a manutenção de um pacto das classes dominantes — que teme mais a rebelião dos setores populares do que a violência exercida por seus próprios privilégios. Trata-se, afinal, de uma estratégia para evitar a pergunta que define toda crise: de que lado se está quando o país se desfaz?
Existe um método quase ritual na função que a extrema direita desempenha no palco político: ela encarna o horror necessário para manter a ordem. É o espantalho de luxo de uma classe dirigente que precisa do medo para justificar o centro. Sua brutalidade sustenta o discurso da “razão”; seu delírio concede legitimidade à tecnocracia. Assim, o campo progressista acaba sendo empurrado para defender aquilo que antes contestava — as instituições, a normalidade e um Estado que se moderniza às custas da vida de quem o mantém de pé.
O impeachment de 2016 inaugurou essa nova liturgia. Sob o verniz da conciliação, consumou-se uma ruptura de classe. O golpe foi apresentado como pacificação, e o retrocesso, vendido como reconciliação. A palavra de ordem era “reduzir os extremos”, mas o que se reduzia, na prática, era o espaço do povo na política. As classes dominantes perceberam que poderiam desmobilizar a sociedade usando o vocabulário da serenidade. Já não era necessário recorrer a tanques — bastava rotular o conflito social como ameaça à estabilidade.
A partir desse momento, o país passou a confundir conciliação com mérito. Esse enredo encontrou ressonância imediata em uma população exaurida pela crise, disposta a trocar qualquer horizonte de mudança pela promessa de estabilidade. O discurso antipolarização ofereceu, então, uma justificativa elegante para o esgotamento político, convertendo a desistência em sinal de prudência. A imprensa, erigida como guardiã moral do consenso, passou a retratar o colapso democrático como uma simples disputa entre “dois lados”. A falsa equivalência virou gramática, e o golpe já não precisou de força — bastou-lhe a cortesia das palavras. “Polarização” entrou em cena como a nova doutrina civil: um código que desautoriza a raiva e transforma a desigualdade em mero desentendimento.
A Operação Lava Jato foi o ponto culminante dessa liturgia moral. Sob o pretexto de purificar a vida pública, promoveu um massacre econômico e político sem precedentes. Sérgio Moro, travestido de juiz imparcial, atuou como operador de um projeto de poder que destruiu empresas, empregos e reputações, corroendo a economia e o próprio princípio da Justiça. Sua conduta — seletiva, espetacular e profundamente política — transformou o combate à corrupção em instrumento de perseguição e manipulação eleitoral. Ao criminalizar a política e glorificar a delação como redenção, a Lava Jato consolidou o moralismo antipolítico que abriria caminho para o autoritarismo. Sob a toga, escondia-se a velha promessa de salvação pela punição — um messianismo judicial que, em nome da pureza, devastou o país.
Essa engenharia do consenso midiático opera com instrumentos precisos. Constrói-se um espetáculo de “extremos” em que a voz de quem resiste ao extermínio é equiparada à de quem o pratica. Convocam-se os “especialistas da moderação” para comentar a política como se comenta o clima, medindo as “temperaturas” do debate, mas nunca suas causas. Qualquer proposta de transformação estrutural é isolada num cordão sanitário, rotulada como inviável ou radical, enquanto a defesa do status quo é apresentada como o único território da razão. A extrema direita, nesse cenário, não é um acidente da história, mas uma ferramenta recorrente do capital — o braço que opera o medo e a desordem sempre que a ordem do lucro se vê ameaçada. A mídia não apenas narra a polarização; ela a encena como farsa, ocultando o verdadeiro conflito que estrutura o país.
Quando o bolsonarismo ascendeu ao poder, o espantalho agigantou-se. O medo do abismo consagrou a santidade das instituições. O liberalismo vestiu-se de antifascismo, e a esquerda, atônita, foi convocada a defendê-lo. O chamado funcionou porque a própria esquerda já enfrentava uma crise de imaginação: sem um horizonte capaz de mobilizar o desejo coletivo, a defesa do “mal menor” institucional tornou-se não apenas uma tática, mas o próprio limite do possível. Sob a bandeira da “democracia”, ergueu-se um pacto silencioso — resistir passou a significar não romper. O resultado foi uma frente ampla de autodefesa que preservou a normalidade das finanças em meio à anormalidade da vida, mantendo intacta a lógica do capital que sustentava o abismo.
O que os setores hegemônicos chamam de “polarização” é, em parte, o ruído vital da democracia real — a irrupção de novas vozes que o velho pacto oligárquico já não consegue conter: os movimentos negros, feministas, indígenas e ambientalistas que recusam a conciliação com seus algozes; a juventude precarizada que rejeita um futuro de subemprego. Essa polarização é legítima, porque devolve à política o conflito que a ordem tentou silenciar. Mas há também a polarização fabricada — aquela que é provocada, manipulada e contaminada pela máquina de desinformação e pelos interesses do capital, que transformam o ressentimento em combustível e o ódio em mercado. A polarização, assim, é campo em disputa: nela convivem a esperança de um mundo novo e a captura desse desejo por forças que lucram com a divisão. É o som contraditório da política quando ela volta a respirar.
A função política do terror foi, então, refinada. O autoritarismo concreto garantiu a autoridade simbólica do centro. A barbárie passou a justificar o mercado, e o medo tornou-se sua pedagogia. A promessa de moderação converteu-se na retórica que blinda o capital contra qualquer ameaça coletiva. Nesse cenário, a esquerda — confinada ao papel de fiadora da estabilidade — trocou o gesto da insurgência pelo ritual da contenção, aceitando a tarefa de administrar o possível enquanto o impossível seguia interditado. O terror, antes explícito, tornou-se método: um medo difuso que disciplina, um silêncio que legitima.
Não é por acaso que o apelo à “responsabilidade” seja sempre fiscal — e quase nunca social. Termos como “teto de gastos” ou “arcabouço fiscal” tornaram-se nomes de contenção: contenção para os pobres, não para os privilégios. Sob o pretexto de equilíbrio, bloqueia-se o investimento em vida, enquanto os excessos dos poderosos seguem liberados — à revelia da lei e sob o silêncio cúmplice das instituições. O discurso antipolarização, nesse contexto, funciona como o lubrificante da agenda neoliberal: suaviza a dominação enquanto naturaliza a desigualdade. Sempre que se fala em taxar fortunas, auditar a dívida ou fortalecer os serviços públicos, a resposta é a mesma — “não podemos criar mais divisão”. A “estabilidade” exigida é a do mercado; a “confiança” a ser restaurada é a do investidor. O centro político, portanto, não é o espaço do equilíbrio, mas o nome educado do poder financeiro que teme a democracia quando ela ameaça tocar no dinheiro.
Em seu nível mais profundo, essa doutrina atua como uma guerra psicológica de baixa intensidade. Ensina-nos a sentir vergonha da própria convicção, a confundir prudência com resignação. O cinismo passa a ser tratado como sinal de inteligência, e a apatia, como forma de autoproteção. O cidadão é treinado a desconfiar de toda paixão política — inclusive da sua — e a enxergar a indignação coletiva como uma ameaça à ordem. O efeito é devastador: a política é internalizada como culpa, e o sofrimento, privatizado. Assim, cada um é isolado em sua angústia, convencido de que a dor que sente é fracasso pessoal, e não o resultado de um projeto político que transforma a injustiça em normalidade.
A primeira tarefa é, portanto, uma batalha de linguagem — e de classe. É preciso desmontar o dicionário do poder e recusar os termos com que ele nomeia o mundo. Repolitizar o sofrimento significa revelar que a fome, o desemprego e a violência não são fatalidades, mas instrumentos de uma guerra social travada de cima para baixo. Reivindicar o conflito é reconhecer que toda sociedade se organiza em torno de interesses antagônicos: de um lado, os que acumulam; de outro, os que sustentam. É preciso, então, ter a coragem de construir uma polarização popular, uma luta de classes consciente e solidária — não alimentada pelo ódio fabricado nas redes, mas pelo vínculo entre os que vivem do trabalho. Só quando esse antagonismo for nomeado sem medo é que a política voltará a ter corpo, voz e direção.
Nos anos seguintes, o vocabulário da polarização consolidou-se como moral pública. Expressões como “desarmar os espíritos” e “construir pontes” tornaram-se mantras da conciliação nacional. Mas o que se desarmava, de fato, era a crítica; e as pontes erguidas ligavam apenas os diferentes andares da mesma casa-grande. A moderação foi convertida em valor absoluto — um código de etiqueta política que protege o conforto das elites enquanto silencia o grito popular. Nesse novo catecismo civil, a raiva virou falta de educação, a luta virou grosseria, e a denúncia, extremismo. Assim, o consenso passou a operar como disciplina moral: quem se indigna, erra o tom; quem resiste, é acusado de dividir.
O discurso contra a polarização não é um chamado à paz; é o monólogo do poder, fantasiado de diálogo. Sob a aparência de equilíbrio, ele organiza o silêncio. Cada apelo à serenidade serve para restaurar a hierarquia entre os que mandam e os que obedecem. A paz pregada pelos donos do poder não é ausência de conflito, mas ausência de contestação. É uma paz de cemitério social, sustentada pela contenção e pela culpa. Ao tratar o confronto de classes como histeria e a obediência como virtude, esse discurso perpetua o medo como método de governo e a neutralidade como ferramenta de dominação.
Recusar esse consenso não é um ato de extremismo, mas de lucidez. É compreender que só nomeando o conflito é possível transformá-lo. A polarização popular — enraizada na solidariedade de classe e na indignação justa — é o contrário do ódio que o poder fabrica: é o retorno da política como disputa viva. Diante do abismo, a neutralidade é apenas outro nome da cumplicidade. Romper o silêncio é o primeiro gesto de reconstrução. Porque um país não se regenera pela conciliação de seus algozes com suas vítimas, mas pela coragem de escolher um lado — o lado de quem sustenta o mundo e ainda acredita que ele pode ser diferente.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras