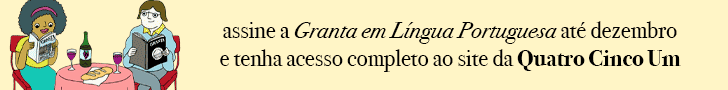Caso Borba Gato e a descolonização do olhar
Um indígena provoca: e a violência autoritária duma cidade que homenageia genocidas em ruas e espaço públicos? E se olhássemos as riquíssimas memórias indígena, negra e nordestina que, sem monumentos, habita o cotidiano e afetos?
Publicado 27/07/2021 às 15:58 - Atualizado 27/07/2021 às 16:46

Muitos falaram da brutalidade que foi colocar fogo na estátua de Borba Gato (24/07), localizada em Santo Amaro, zona sul da cidade de São Paulo. Entretanto, poucos dizem da bestialidade de construir e erguer uma estátua para um dos genocidas/etnocidas dos povos originários e que escravizou indígenas, negros/negras, violentou kuña, kuñatã, kurumin e awá gwarïnï (mulheres, meninas, meninos, guerreias e guerreiros) de diferentes etnias, bem como fez parte do início da destruição da Natureza Encantada.
Muitos parecem ignorar a estupidez autoritária que é manter estátuas e espaços (ruas, praças, viadutos, cidades, bairros, escolas, universidades) com nomes de genocidas/etnocidas e ações feitas através da primeira forma que esse país conheceu da cruel regra hoje denominada como “excludente de ilicitude”: as chamadas “Guerras Justas”, decretadas pelos invasores europeus em nome da Coroa portuguesa e do Deus deles contra os povos indígenas e negros das Terras Brasilis – para muitos de nós, Pindorama (Terra das Palmeiras; Terra sem Males).
Não foram “guerras” tampouco “justas” a barbárie imposto pelos invasores. O que ocorreram foram alguns dos maiores massacres da história humana. Claro que protagonizamos nossa resistência: Confederação Tamuya (1554-1567), Cerco de Piratininga (09/07/1562), Levantes dos Goitacá (séc. XVI), Confederação dos Kariri (entre 1683 e 1713), Revolta de Mandu Ladino (1712 a 1719), Guerra dos Sete Povos (1753-1756), Revolta de Marcelino em Olivença (Ilhéus/BA, na década de 1930), entre tantas revoltas e algumas delas ainda desconhecidas.
Certamente, como hoje, nossos ancestrais foram descritos como violentos, canibais, selvagens. Assim são denominados os que se revoltam contra a barbárie dos invasores, destruidores da Natureza, genocidas, etnocidas. Por isto digo: a rebeldia é justa contra os opressores e seus símbolos.
Como dizia o grande Cacique Xicão Xukuru: “massacrados sim, exterminados não” (perdoem se não são exatamente essas as palavras desse grande Cacique). Os invasores e representantes como Borba Gato não fizeram “guerras justas” e, sim, massacres genocidas, escravidão, estupros e iniciaram a destruição da Natureza. Guerras fizeram nossos ancestrais e ainda fazemos nós, indígenas, há 500 anos: guerreamos pelas resistências e (re)existências para não sermos massacrados, escravizados, violentados e extintos. Batalhas que não desejávamos, mas necessárias para termos nossos direitos originários de volta, incluindo a Terra/Natureza Sagrada.
Se denominam Borba Gato e outros como “bandeirantes” (nominação inventada para amenizar a violência que faziam) quero também chamá-los de bestiais milicianos genocidas, estupradores e escravagistas.
Sim,
não temos rancor,
possuímos Memória.
Em nome dessa memória é brutal nos forçar a conviver como estátuas aos genocidas, estupradores, caçadores de indígenas e população negra para escravidão, invasores de nossas terras e destruidores da natureza. Se querem falar de brutalidade falem o quanto é brutal ouvir nomes como Borba Gato, Fernão Dias, Amador Bueno, Mem de Sá, entre outros. Este último assassino, Mem de Sá, chegou mesmo a narrar numa carta ao rei de Portugal a ação genocida que cometeu em 1559 aqui em Olivença (Terra Indígena Tupinambá – Ilhéus/BA) onde moro.
Brutal é saber o que representam nomes como: Vitória do Espírito Santo, Vitória da Conquista, Santa Cruz, Santa Cruz de Cabrália, Monte Pascoal, Porto Seguro. Nomes que consagram as ações dos invasores, genocidas e etnocidas.
Na sequência, segue a íntegra de uma entrevista minha, Casé Angatu, feita pela ótima jornalista Brenda Zacharias via skype – e os links das matérias que foram publicadas em 23/06/2020 pelo Estadão. Entrevista que agora foi em parte reproduzida por outros veículos a propósito do fogo colocado na estátua de Borba Gato, conforme segue no final deste texto.
Como as perguntas para entrevista foram enviadas com antecedência, escrevi a base do que falei que apresento abaixo na íntegra e com acréscimos. Vale destacar que nas matérias foram ouvidos outros acadêmicos, indígenas e representantes do movimento negro.
As entrevistas resultaram em duas excelentes matérias, cujos links seguem no final deste texto. No final indico também dois vídeos em que falo da atuação dos bandeirantes na cidade de São Paulo e no Massacre do Rio Cururupe. Meus agradecimentos à Brenda Zacharias por seu qualificado trabalho.
Observação: não irei aqui falar sobre as pessoas que colocaram fogo na estátua de Borba Gato porque não as conheço. A intenção é apresentar o ponto de vista de um indígena historiador e que escreve sobre o tema e a cidade de São Paulo, apesar de nossas leituras terem poucos espaços.
Qual é o significado ou o peso dessas homenagens a bandeirantes serem prestadas em ambientes públicos? Faz sentido que estes símbolos estejam presentes na vida urbana na forma de esculturas e nomes de espaços públicos?
São as chamadas disputas pelos lugares de memória, espaços identitários e territoriedades. Neste caso essas “homenagens aos bandeirantes” na capital paulista é uma tentativa de demonstrar que a cidade supostamente tem donos. Além do poder político, econômico e policial é necessário impor que as pessoas façam reverências aos hipotéticos donos da cidade.
São as redes de poder que buscam incutir a dominação. Então essas “homenagens” não são somente simbólicas. Elas ocupam espaços físicos com propósitos políticos reais de tentar impor o poder de certos grupos.
Por exemplo: é comum ler em algumas abordagens que em 1872 ocorreu uma suposta “segunda fundação de São Paulo”, tentando-se apagar a cidade indígena, caipira, cabocla, negra durante a chamada belle époque paulistana na virada do século XIX para o XX. Buscava-se então seguir padrões europeus de civilização.
Em meu livro Nem Tudo Era italiano – São Paulo e Pobreza (1890-1915) analiso como os donos do poder político e econômico, tendo à frente Antônio da Silva Prado, procuravam europeizar arquitetônica e urbanisticamente a cidade. Ao mesmo tempo, realizavam uma limpeza sociocultural na cidade objetivando apagar todos os traços indígenas, negros, caipiras, caboclos então predominantes até na língua – por isso, muitos nomes de lugares de São Paulo são originários.
Escrevo o seguinte em meu livro:
“Havia um projeto de europeização arquitetônica, urbanística e populacional. Buscava-se a apagar qualquer traço indígena, caipira, caboclo e negro da cidade. O objetivo era uma ‘limpeza sociocultural’ visando o branqueamento da população, perseguindo práticas e espaços de vivencias das camadas populacionais nacionais nas áreas mais centrais e suas adjacências. Procurava-se a formação de um mercado de trabalho supostamente controlado e disciplinado” (ANGATU, Casé – SANTOS, Carlos. José F. Nem Tudo Era italiano – São Paulo e Pobreza – 1890-1915. São Paulo: Annablume/Fapesp, 4ª. Edição, 2018).
Em meu outro livro, Identidade Urbana e Globalização: a Formação dos Múltiplos Territórios em Guarulhos, digo que a mesma coisa ocorreu naquele município que possuiu dois aldeamentos indígenas em suas espacialidades (ANGATU, Casé – SANTOS, Carlos. José F. Identidade Urbana e Globalização: a Formação dos Múltiplos Territórios em Guarulhos, São Paulo: Annablume/Sinpro-Gru, 2012).
Em 1954 a cidade de São Paulo passou novamente pela tentativa da elite paulistana de recriar o passado. Naquele período procurava-se destacar as “origens briosas das famílias quatrocentonas”. Destacava-se o passado “desbravador e heroico dos bandeirantes”. Valoriza-se a “Revolução Constitucionalista no 09 de julho de 1932”. Homenageava-se as ações jesuíticas que “catequizaram os selvagens e fundaram São Paulo”. Foi nesta época que fortaleceu-se a construção de muitos dos monumentos e batizou-se ruas, praças, viadutos, avenidas e edificações sobre este passado idealizado pelas elites paulistanas. Quando se fala de indígena, fala-se de Tibiriçá e Bartira como exemplos dos “selvagens que aceitaram a fé católica e contribuíram para o desenvolvimento da cidade”.
Interessante que aquela também era época quando a cidade passava de 1.326.261 habitantes em 1940 para 3.781.446 moradores em 1960. Um crescimento decorrente das migrações interioranas e, especialmente, nordestina/indígena. Ou seja, a “cidade bandeirante” que nunca deixou de ser indígena, negra e cabocla agora também era nordestina.
A questão do bandeirantismo está muito ligada à construção de São Paulo. Qual é o impacto da construção desse ideário na sociedade paulistana de hoje? Como é possível superar essa herança, minimizar os danos dela?
Podemos pensar que a presença do bandeirantismo está representada na exploração da natureza de forma devastadora e do trabalho humano, particularmente através da escravidão indígena, negra, estupro e genocídio.
O que está mais ligado à construção de São Paulo em sua diversidade sociocultural é a forte presença indígena, caipira, cabocla, negra, imigrante, migrante e nordestina. Presenças presentes, resistentes e (re)existentes em territórios pela cidade, nomes dos lugares, nas culturas e na vida cotidiana.
Só que os grupos no poder tentam historicamente silenciar e invisibilizar estas presenças. Buscam destacar personagens como: Fernão Dias Pais; Manuel Borba Gato; Domingo Jorge Velho; Antônio Raposo Tavares; Bartolomeu Bueno da Veiga, entre outros.
Suas formas mais atuais na cidade são:
– Ostentação e arrogância da elite paulistana do tipo: “você sabe com que está falando”;
– incomodo que sentimos ao andarmos em certos lugares da cidade e a forma como a polícia trata as pessoas nos bairros periféricos, quebradas e a população de rua: é comum as abordagens policiais violentas;
– monopólio de algumas destas famílias em algumas instituições privadas e públicas: repare os sobrenomes de alguns que ocupam elevados cargos, incluindo nas universidades públicas;
– ideário desenvolvimentista do tipo: “a cidade que não pode parar”;
– preconceito aos que estão fora deste padrão de comportamento;
– forma de atuar dos ruralistas não só de São Paulo: “os ruralistas de hoje são os bandeirantes de ontem”
Como é possível superar essa herança, minimizar os danos dela?
Valorizando outras histórias, memórias e identidades. Esta é uma das minhas militâncias indígenas. Quero dizer: é decolonizando olhares, saberes e espíritos. Mostrando o quanto as presenças indígenas, negras, caboclas, nordestinas e imigrante são fundamentais na construção da cidade.
Por exemplo: antes da pandemia faríamos em 2020 um evento no entorno da Capela dos Índios – Capela de São Miguel Paulista, na Praça do Forró. Uma atividade denominada: “Por um outro 09 de Julho – Cerco de Piratininga em 09 de Julho de 1562”.
A atividade seria para relembrar quando naquela data (1562) os índios de São Miguel e outros indígenas cercaram o Pátio do Colégio, rejeitando a catequese e a colonização portuguesa, liderados por Pikyroby e Jaguanharan. Um dos momentos que demonstra as várias resistências indígenas em São Paulo e no Brasil.
Agora pergunto: quantos sabem desta história e de seus personagens? Muitos dizem: “não vejo a presença indígena na história do Brasil e muito menos na cidade de São Paulo”. Não enxergam está presença porque tenta-se propositalmente apagá-la.
Pois bem, São Paulo é uma das maiores cidades indígenas do Brasil – depois procurem os dados no IBGE. São Paulo é uma cidade indígena. Lembro que quando falei isto uma vez numa entrevista a uma rádio paulistana o entrevistador discordou.
Mais onde encontramos esta presença indígena: em histórias ocultadas como narrei acima. Atualmente está presente entre os parentes Guaranis no Jaraguá e em Parelheiros. Mas não só nestes territórios. Esta presença se faz sentir de forma espalhada pela cidade. Muitos dos migrantes, especialmente nordestinos, que chegaram na capital paulista e em outras grandes cidades, são indígenas. Os indígenas estão nos bairros, quebradas, conjuntos habitacionais e nas ruas.
As pessoas do povo não constroem monumentos de concreto igual aos de Brecheret. Elas fazem arte sem sabe o que é arte e seus monumentos são as vivências cotidianas. São as formas socioculturais de resistência e (re)existência.
A cidade está cheia de vestígios, territórios, memórias na forma de falar, andar, nomes de lugares indígenas. Porém, para percebê-los é necessário decolonizar os olhares e espíritos.
Com a retomada dessa discussão, tendo os exemplos que vimos em manifestações de outros países, você acredita que o debate pode pressionar ainda mais a sociedade e o poder público por mudanças (como a retirada dessas figuras)?
Acredito sempre que a mudança advém das forças coletivas. Precisam de demandas daqueles que se sentem incomodados. Quero dizer: o poder público tirar o monumento tem tanta legitimidade quanto a de quando ele mandou colocá-los.
A força que advém da demanda coletiva é o caminho. Lembrando de Paulo Freire em sua Pedagogia do Oprimido:
“Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida.”
Alguns entrevistados chamaram a atenção para o risco de negacionismo; de que apenas eliminando esses símbolos do espaço público estaríamos correndo o risco de apagar a história sem debatê-la ou refletir sobre ela. O que você pensa sobre essa questão?
Negacionismo é o que os donos do poder fazem por mais de 500 anos. Eu chamaria de reconstrução decolonial das narrativas históricas.
O negacionismo destes donos do poder não envolve só o passado como também o presente e o futuro. Eles continuam nos negando direitos. Vale lembrar que os que lutam contra os povos indígenas tirando nossos direitos estão vivos e à frente do poder econômico, político e cultural. Os massacres não estão no passado, mas ainda estão presentes.
O atual governo federal, que classifico como fascista e miliciano, é imbuído do espírito bandeirantes. A PL 490 que busca colocar nas mãos do Congresso Nacional a demarcação de terra é negação de direitos. A intenção de impor um marco temporal (1988) para demarcação territorial é negação de direitos.
Os ruralistas e seus aliados atuam como os velhos/novos bandeirantes retirando direitos originários, parando as demarcações das Terras Indígenas, ameaçando as terras demarcadas, devastando a Natureza. O desmatamento da floresta amazônica aumentou 171% em abril de 2020 em relação ao mesmo período de 2019, conforme os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).
O atual governo cria nos diferentes territórios indígenas situações de conflito. Os números do Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil – dados de 2019 do Conselho Indigenista Missionário são expressivos nessa direção. De acordo com o CIMI, em 2019, primeiro ano do mandato do presidente Bolsonaro,
(…) abuso de poder (13); ameaça de morte (33); ameaças várias (34); assassinatos (113); homicídio culposo (20); lesões corporais dolosas (13); racismo e discriminação étnico-cultural (16); tentativa de assassinato (25); e violência sexual (10); totalizando o registro de 277 casos de violência praticados contra a pessoa indígena em 2019. Este total de registros é maior que o dobro do total registrado em 2018, que foi de 110. O total de 113 registros de indígenas assassinados em 2019, de acordo com dados oficiais da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), é um pouco menor do que o total sistematizado em 2018, que foi de 135 (CIMI. Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil – dados de 2019. 2020).
A covid-19, mas a atuação assassina do governo, tem aumentado em muito o número de indígena mortos. A covid-19 virou uma arma para o genocídio dos povos originários, negros e pobres.
Assim, quanto a derrubar os monumentos: parto do princípio espiritual da sabedoria indígena na qual fui formado – não é bom mexer com a ancestralidade sem um bom motivo, mesmo dos que foram inimigos do meu povo.
Entretanto, costumo dizer: “não temos rancor. Mas, possuímos Memória”.
Não tem como esquecer mais de 500 anos de invasões, massacres, genocídios, etnocídios, estupros e ecocídios cometidos por muitos destes que viraram monumentos, recebem homenagens e são considerados heróis nacionais.
Assim, quando as energias coletivas daqueles que são herdeiros desta história de imposições caminharem para a derrubada dos monumentos, penso que devemos derrubá-los. Derrubar as imagens daqueles que a mais de 500 anos tentam derrubar nossas histórias, memórias e identidades.
Caso os monumentos se mantenham faremos como já fazemos: releituras decoloniais críticas acerca das histórias e memórias entorno deles. Demonstrando que estes monumentos comprovam os massacres, mas não a derrota porque estamos aqui como herdeiros dos que foram massacrados. Como dizia o grande Cacique Xicão Xukuru: “massacrados sim, exterminados não”.
Insisto: derrubar os monumentos não é negacionismo e sim decolonialidade. Bem como, caso os mesmos fiquem, a história não deixará de ser debatida ou refletida, até porque existem outras fontes para isto, como as memórias e espiritualidades de nossos ancestrais.
Poderiam me perguntar: mas se derrubar ou “danificar” não perderemos a chance de demonstrar como eles desejaram impor a história deles? Ao que responderia com outra pergunta: como nós, povos originários, conseguimos narrar a história de nossa resistência e (re)existência e das violências que sofremos sem precisarmos de monumentos?
Existem outras formas de se buscar a memória que é uma das bases para se escrever a história que vão para além da materialidade dos monumentos. Os povos indígenas têmm muito a ensinar sobre isto. Assim, na minha leitura não estaríamos correndo o risco “de apagar a história sem debatê-la ou refletir sobre ela”. Aliás, qual história estaríamos apagando, debatendo e refletindo? Como escreveu Ailton Krenak no texto Antes, o Mundo não Existia: “entre a história e a memória, eu quero ficar com a memória”. Nós indígenas não precisamos de monumentos para preservar nossa memória. Quem precisa de monumentos são os invasores e os donos do poder para impor a memórias genocida e etnocida deles.
Como poderia acontecer o trabalho para que uma parcela mais ampla da sociedade possa aprender a história dos povos originários e incluí-la nas práticas do cotidiano?
Um dos caminhos é a educação decolonial e paulofreriana no sentido que assinala Catherine Walsh ao somar a obra de Paulo Freire e Frantz Fanon:
“[…] como metodologias produzidas em contextos de luta, marginalização, resistência e que Adolfo Albán tem chamado ‘re-existência’; pedagogias como práticas insurgentes que fraturam a modernidade/colonialidade e tornam possível outras maneiras de ser, estar, pensar, saber, sentir, existir e viver-com” (WALSH, C, Pedagogias Decoloniales: Prácticas Insurgentes de Resisitir, (Re)existir y (Re)vivir”- Tomo I. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2013, p. 19).
Para isto precisaríamos fazer valer a Lei 11.645/2008. Ao mesmo tempo, aprofundar a formação das educadoras e educadores para atuarem neste sentido.
Já tem ocorrido várias iniciativas em São Paulo e em outros lugares. Diferentes parentes estão atuando nestas iniciativas. Eu mesmo ofereço cursos de formação nesta direção (“Histórias, Culturas Indígenas e a Cidade de São Paulo”; “Indígenas Identidades Paulistanas”). Algumas universidades têm operado nesta formação. Conforme disse, existem aliados atuando em diferentes espaços de formação abrindo esses lugares, como por exemplo a exposição que ocorreu entre 2018-2019 no Museu da Resistência (prédio do antigo DOPS) intitulada: “Ser Essa Terra: São Paulo Cidade Indígena”.
São espaços como esses de diálogo uma outra forma importante para divulgar nossas falas e produções. Podemos falar hoje de literatura, arte, música, cinema e produção acadêmica indígena que são fundamentais.
No entanto, acima de tudo uma coisa é fundamental: apoiar a luta dos povos originários e de todas as pessoas por seus direitos contra os novos/velhos bandeirantes no poder. Para isto entendo que é necessário lutar contra os que estão no poder, como o atual presidente fascista e miliciano.
Por isto a história é uma construção seletiva das memórias que possuímos sobre o passado. Os monumentos são construções seletivas feitas pelos donos do poder. Neste sentido precisamos construir nossas histórias a partir de nossas memórias mesmo que para isto seja necessário derrubar monumentos supremacistas aos velhos e novos bandeirantes.
Deste modo, também precisamos construirmos juntos um mundo que já existe em muitos de nós. Um mundo onde existam vários mundos com igualdade social respeitando as diferenças.
Indicações de leituras e vídeos:
I – A publicação original da entrevista acima feita para o jornal “O Estado de São Paulo” pode ser linda nos links:
– “Entenda quem foram os bandeirantes e por que eles são homenageados em São Paulo” e “Estátuas racistas devem ser derrubadas? Veja o que dizem historiadores”:
– “Estátuas racistas devem ser derrubadas? Veja o que dizem historiadores”:
Link: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/estatuas-racistas-devem-ser-derrubadas-veja-o-que-dizem-historiadores,75394e18101954ae2f8d3cec4180686a799acxa9.html
II – Novas edições da entrevista republicada após o fogo na estátua de Borba Gato encontram-se nos links:
– “Entenda o motivo do incêndio na Estátua de Borba Gato”:
– “Estátua de Borba Gato: entenda porque manifestantes a incendiaram”:
Vídeos sobre massacres cometidos por bandeirantes:
– “Massacre do Cururupe” – parte do filme Îandê Yby: Nós Somos A Terra Tupinambá!”
Link: https://www.facebook.com/103931204760569/videos/149747936845562
– “É ISTO QUE CHAMAMOS DE TERRIÓRIO”. parte do Webdocumentário Mobiliário Urbano: moburb.org.
Link: https://www.facebook.com/682753167/videos/pcb.10157866940153168/10157866939318168
Algumas das publicações sobre o tema do autor deste texto:
1) ANGATU, Casé (SANTOS, Carlos José F. dos). Nem Tudo Era Italiano – São Paulo e Pobreza na virada do século (1870-1915). São Paulo: Annablume/FAPESP, 4a. Edição 2018.
2) ANGATU, Casé (SANTOS, Carlos José F. dos). Identidades Urbanas e Globalização – a formação dos múltiplos territórios em Guarulhos/SP. São Paulo: SINPRO/GRU, 2006
3) ANGATU, Casé (SANTOS, Carlos José F. dos). “Indígenas Identidades Paulistas”. In: Organizadores: COSTA, Paulo de Freitas, COSTA, Ana Cristina Moutela. Cadernos da Casa Museu Ema Klabin; v. 2: identidades paulistanas. São Paulo: Fundação Cultural Ema Klabin, Disponível Online em: https://emaklabin.org.br/…/cadernos-da-casa-museu…/… , 2020
4) ANGATU, Casé (SANTOS, Carlos José F. dos). “Ser Esta Terra: São Paulo Cidade Indígenas”. In: Espaço Ameríndio: Dossiê Agenciamentos Indígenas da Forma Museu. Porto Alegre: UFRGS, Disponível Online em: https://seer.ufrgs.br/EspacoAme…/article/view/102699/58300 , Jan/Jun de 2020.
5)ANGATU, Casé (Carlos José F. Santos) & TUPINAMBÁ, Ayra (Vanessa Rodrigues Santos). “Protagonismos Indígenas: (Re)Existências Indígenas e Indianidades”. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci e ROSSI, Mirian Silva (Orgs.) Índios no Brasil: Vida, Cultura e Morte. São Paulo: IHF; LEER/USP; Intermeios: 2019, p. 23-4.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras