A arrogância ocidental e os tropeços da história
Em livro recém-traduzido, antropólogos reveem a trajetória humana – descartando a noção de evolução. Afinal, o suposto “ápice da civilização” se confunde com a máxima barbárie. Seria um convite a duvidar algumas de nossas certezas políticas?
Publicado 26/08/2022 às 15:11 - Atualizado 26/08/2022 às 15:12

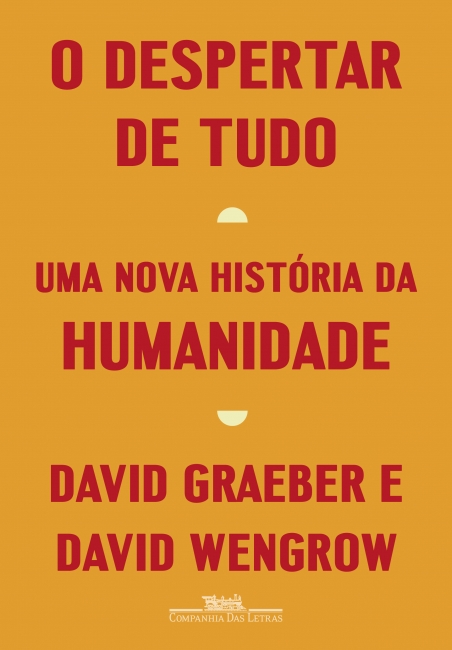
No início deste mês, o público brasileiro foi agraciado com a publicação da obra O despertar de tudo: uma nova história da humanidade (editado pela Companhia das Letras, em tradução do original The Dawn of Everything: A New History of Humanity), redigida pelo arqueólogo britânico David Wengrow em parceria com o antropólogo estadunidense David Graeber. Apesar de Graeber ter falecido em 2020, Wengrow concedeu uma entrevista à Folha para comentar a tradução de sua obra.
Nessa entrevista, Wengrow deixa clara a tese que sustenta O despertar de tudo: a interpretação corrente da história da humanidade está equivocada. Frequentemente, acredita-se que a história é uma sequência de eventos submetida à lógica de uma evolução da humanidade. Gradualmente, as transformações sociais expressariam a passagem de um estrato inferior para um estrato superior de desenvolvimento, convergindo para aquilo que ficou conhecido como civilização ocidental. Assim, a cultura disseminada pelo Ocidente seria o ponto de chegada da evolução de toda e qualquer formação social.
A crítica da noção de evolução ou progresso na história da humanidade não é uma novidade. Dois acontecimentos do século XX sustentam essa crítica. Primeiro, um acontecimento político: o holocausto. Como foi possível que um dos países europeus mais desenvolvidos culturalmente pudesse capotar no abismo da barbárie? Segundo, um acontecimento acadêmico: Lévi-Strauss – poderíamos mencionar outros tantos acontecimentos, como Pierre Clastres (não pretendo ser exaustivo). De acordo com Lévi-Strauss, a noção de evolução social não faria qualquer sentido, pois seria possível reconhecer em todas as formações sociais os mesmos elementos configuradores de suas dinâmicas. Dito de outra maneira: as diferenças entre as sociedades não significariam desigualdades entre essas mesmas sociedades. Vale dizer que a importância de Lévi-Strauss foi mencionada por Wengrow em sua entrevista.
Parece que a ideia de uma evolução da história, entretanto, brinca de esconde-esconde. Se a revelamos em um lugar, ela reaparece em outro. E me parece que o esforço de Wengrow, em certa medida, é justamente não negar essa brincadeira. Apesar de fazermos a crítica da noção de progresso na história, ainda recorremos à história política ateniense para nos apontar o modelo ideal de uma experiência democrática possível. A Atenas da Antiguidade teria finalmente alcançado, após múltiplas e diversas experiências políticas ao redor do mundo, o ápice da democracia. Enquanto outras sociedades permaneceriam organizadas sob regimes despóticos ou desiguais, Atenas teria mostrado ao mundo o caminho para a construção da liberdade. Wengrow nos mostra que essa visão a respeito da democracia ateniense não deixa de ser tributária de uma ideia de evolução da história. Muitas experiências políticas anteriores ao surgimento da pólis ateniense já manifestavam uma dinâmica democrática, às vezes mais desenvolvida que a ateniense.
Em sua entrevista, Wengrow ainda percorre outro caminho para tecer sua crítica: os povos ameríndios. O arqueólogo menciona experiências políticas entre os povos ameríndios que nos remetem a muitos de nossos ideais atuais. Ou seja: antes da conquista da América pelos europeus, alguns povos autóctones haviam alcançado níveis de experiência política surpreendentes até mesmo para os próprios europeus. Isso acaba nos apontando para uma verdade difícil de engolir: a história do Ocidente deu ruim. Não somente não estamos no ápice da cadeia evolutiva, mas também escolhemos uma direção política que está longe, muito longe de ser benéfica a todos os seus cidadãos. De um modo simplista, mas não necessariamente falso, poderíamos dizer que tomamos o caminho errado da história.
Pode parecer que dizer tudo isso seja pregar para convertido quando se tem em mente o compromisso político do Outras Palavras, onde esse texto é publicado. Além disso, outros tantos intelectuais, ativistas e militantes já haviam denunciado não somente os horrores de nossas atuais experiências políticas, mas também os sérios problemas de nossos modos de avaliar e criticar essas mesmas experiências. No entanto, parece que estamos tão impregnados da ideia de evolução que rapidamente nos consideramos a última bolacha do pacote, o último militante radical ou o último intelectual engajado quando se trata de apontar qual deve ser o futuro de nossa experiência política. Tão cheios de si. Evidentemente, a arena política envolve coragem. O dizer político envolve potência. Mas mesmo a esquerda mais radical não está livre de cristalizar uma imagem de si mesma, acreditando finalmente apontar para o fim da história.
Pode parecer que o raciocínio que venho traçando desde o início aponte para uma certa dose de ceticismo, um ceticismo necessário. Sim, pode ser um pouco isso mesmo. Entretanto, uma experiência política radical não deve apontar apenas para a realização coletiva de nossos ideais políticos e para a constituição de cidadãos politicamente engajados, mas também para a desrealização de nossa própria história e para a dissolução de nosso individualismo. Não estou sozinho nessa: uma certa leitura dos estudos decoloniais e de gênero, da filosofia da diferença e pós-estruturalista, da psicanálise; enfim, apontam, de alguma maneira, para a necessidade de uma revisão de nossos cânones. Talvez – e felizmente! –, essa experiência não tenha fim.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.

