Para desvendar a cilada do Realismo Capitalista
Sai no Brasil primeiro livro de Mark Fisher, filósofo maldito que tentou explicar os mecanismos que tornam “mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do sistema”. Leia um capítulo central da obra
Publicado 26/09/2020 às 10:18 - Atualizado 23/12/2020 às 13:42

Por Mark Fisher
MAIS:
O texto a seguir é o capítulo “O Capitalismo e o Real”, de
Realismo Capitalista, de Mark Fischer, publicado pela
Autonomia Literária, parceira editorial de Outras Palavras
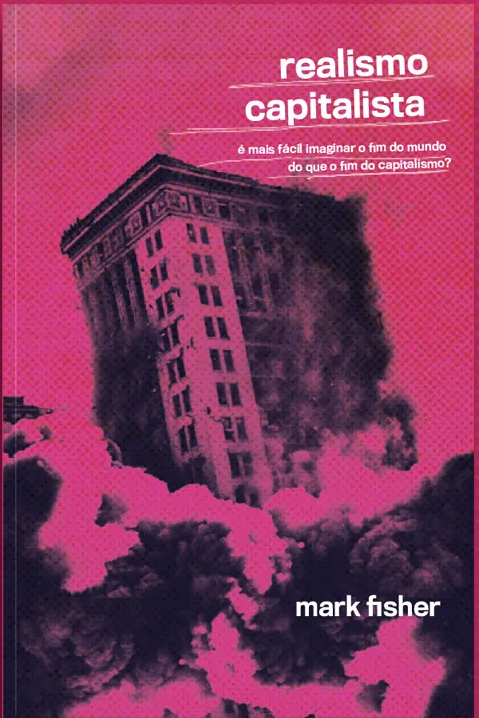
A expressão “realismo capitalista” não é original. Já foi usada, na década de 1960, por um grupo de pop art alemã1 e por Michael Schudson em seu livro de 1984 Advertising: the uneasy persuasion [Propaganda: a persuasão inquieta] – ambos fazendo referência paródica ao realismo socialista. O que é novo no uso que faço do termo é o significado mais expansivo – e até exorbitante – que atribuo a ele. O realismo capitalista, como o entendo, não pode ser confinado à arte ou à maneira quase propagandística pela qual a publicidade funciona. Trata-se mais de uma atmosfera penetrante, que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação – agindo como uma espécie de barreira invisível, limitando o pensamento e a ação.
Se o realismo capitalista é tão fluido, e se as formas atuais de resistência são tão desesperançosas e impotentes, de onde poderia vir um desafio efetivo? Uma crítica moral ao capitalismo, enfatizando as maneiras pelas quais ele gera miséria e dor, apenas reforça o realismo capitalista. Pobreza, fome e guerra podem ser apresentadas como aspectos incontornáveis da realidade, ao passo que a esperança de um dia eliminar tais formas de sofrimento pode ser facilmente representada como mero utopismo ingênuo. O realismo capitalista só pode ser ameaçado se for de alguma forma exposto como inconsistente ou insustentável, ou seja, mostrando que o ostensivo “realismo” do “capitalismo” na verdade não tem nada de realista.
Não é preciso dizer que o que conta como “realista”, o que parece possível em qualquer ponto do campo social, é definido por uma série de determinações políticas. Uma posição ideológica nunca é realmente bem-sucedida até ser naturalizada, e não pode ser naturalizada enquanto ainda for pensada como valor, e não como um fato. Não por acaso, o neoliberalismo tem procurado acabar com a própria categoria de valor em um sentido ético. Ao longo dos últimos trinta anos, o realismo capitalista implantou com sucesso uma “ontologia empresarial”, na qual é simplesmente óbvio que tudo na sociedade, incluindo saúde e educação, deve ser administrado como uma empresa.
Como um grande número de teóricos radicais – de Brecht a Foucault e Badiou – já sustentou, a política emancipatória precisa sempre destruir a aparência de uma “ordem natural”: deve revelar que o que nos é apresentado como necessário e inevitável é, na verdade, mero acaso, e deve fazer com que o que antes parecia impossível seja agora visto como alcançável. Vale a pena recordar que o que é atualmente chamado de realista já foi um dia “impossível”: a onda de privatizações dos anos 1980 seria impensável apenas uma década antes, e o atual panorama político (com sindicatos dormentes, ferrovias desnacionalizadas e serviços públicos terceirizados) mal podia ser imaginado em 1975. Por outro lado, o que um dia já esteve iminentemente próximo, agora é considerando irrealista. “Modernização”, observa amargamente Badiou, “é o nome dado a uma definição estrita e servil do possível. Essas ‘reformas’ invariavelmente visam tornar impossível o que costumava ser praticável (para a maioria), e convertendo em fonte de lucro (para a oligarquia dominante) o que não costumava ser”.2
Neste ponto, talvez valha a pena introduzir uma distinção teórica elementar da psicanálise lacaniana, à qual Žižek se esforçou para conferir um valor atual: a diferença entre real e realidade. Como Alenka Zupančič explica, o postulado psicanalítico de um princípio de realidade nos convida a desconfiar de qualquer realidade que se apresente como natural. “O princípio de realidade”, escreve Zupančič,
não é um tipo de estado natural associado ao modo de ser das coisas… O princípio de realidade é ele mesmo ideologicamente mediado; pode-se até mesmo afirmar que constitui o grau mais elevado de ideologia, a ideologia que se apresenta como fato empírico (ou biológico, econômico), necessidade (e que tendemos a perceber como não ideológica). É precisamente aqui que devemos ficar mais atentos ao funcionamento da ideologia.3
Para Lacan, o Real é o que qualquer “realidade” deve suprimir; aliás, a própria realidade só se constitui por meio dessa repressão. O Real é um x irrepresentável, um vazio traumático que só pode ser vislumbrado nas fraturas e inconsistências no campo da realidade aparente. Portanto, uma estratégia contra o realismo capitalista envolve invocar o Real subjacente à realidade que o capitalismo nos apresenta.
A catástrofe ambiental se enquadra neste conceito. De certa perspectiva, com certeza, pode parecer que os temas ambientais estão longe de ser “vazios irrepresentáveis” para a cultura capitalista, pois a mudança climática e a ameaça de esgotamento dos recursos estão sendo incorporadas à publicidade e à propaganda ao invés de serem reprimidas. Mas o que esse tratamento da catástrofe ambiental ilustra é a estrutura de fantasia da qual o realismo capitalista depende: o pressuposto de que os recursos são infinitos, que o próprio planeta Terra não passa de uma espécie de casco, do qual o capital pode a qualquer momento se livrar, como se abandonando uma carapaça usada, e de que qualquer problema pode ser resolvido pelo mercado. No final de Wall-E é apresentada uma versão dessa fantasia – a ideia de que a expansão infinita do capital é possível, de que o capital pode se reproduzir sem o trabalho (na nave espacial Axiom todo trabalho é realizado por robôs), de que o esgotamento dos recursos terrenos é apenas um probleminha técnico temporário e que depois de um período adequado de recuperação o capital poderá terraformar a própria Terra e recolonizá-la. No entanto, a catástrofe ambiental ainda figura no capitalismo tardio apenas como um tipo de simulacro e suas reais implicações são traumáticas demais para serem assimiladas pelo sistema. A importância da crítica verde é que ela sugere que, longe de ser o único sistema político-econômico viável, o capitalismo está na verdade destinado a destruir as condições ecológicas das quais depende o ser humano. A relação entre capitalismo e o desastre ecológico não é acidental, e nem uma mera coincidência: “a necessidade constante de um mercado em expansão” por parte do capital, seu “fetiche pelo crescimento”, mostra que o capitalismo, por sua própria natureza, se opõe a qualquer noção de sustentabilidade.
Mas os temas ecológicos já estão em pauta, e a luta pela sua politização está sendo travada. Nas próximas páginas, quero chamar atenção para duas outras aporias do realismo capitalista, que ainda não chegaram nem perto de alcançar o mesmo grau de politização. A primeira é a saúde mental. A saúde mental é efetivamente um caso paradigmático de como o capitalismo realista opera. O realismo capitalista insiste em tratar as doenças mentais como se fossem um fato natural, tal como o clima (embora, como acabamos de ver, também o clima já não é um mero fato natural, mas um efeito político-econômico). Nos anos 1960 e 1970, a teoria radical e política (Laing, Foucault, Deleuze e Guattari etc.), convergiu em torno das condições mentais extremas como a esquizofrenia, argumentando, por exemplo, que a loucura não era uma categoria natural, mas política. Mas o que é preciso agora é politizar transtornos muito mais comuns. Na verdade, a questão é justamente que sejam cada vez mais comuns: na Inglaterra, por exemplo, a depressão é a condição mais tratada pelo Sistema Nacional de Saúde, o NHS. Em seu livro, The selfish capitalist [O capitalista egoísta], Oliver James defendeu de maneira convincente a correlação entre o aumento das taxas de distúrbios mentais e o modelo capitalista neoliberal praticado em países como Grã Bretanha, Estados Unidos e Austrália. Na mesma linha de James, quero argumentar que é preciso reformular o problema crescente do estresse e da angústia nas sociedades capitalistas. Em vez de atribuir aos indivíduos a responsabilidade de lidar com seus problemas psicológicos, aceitando a ampla privatização do estresse que aconteceu nos últimos trinta anos, precisamos perguntar: quando se tornou aceitável que uma quantidade tão grande de pessoas, e uma quantidade especialmente grande de jovens, estejam doentes? A “epidemia de doença mental” nas sociedades capitalistas deveria sugerir que, ao invés de ser o único sistema que funciona, o capitalismo é inerentemente disfuncional, e o custo para que ele pareça funcionar é demasiado alto.
O outro fenômeno que quero destacar é a burocracia. Em sua disputa com o socialismo, os ideólogos neoliberais frequentemente denunciaram de modo impiedoso a burocracia verticalizada que, de acordo com eles, conduzia à esclerose institucional e à ineficiência das economias de comando de tipo soviético. Com o triunfo do neoliberalismo, a burocracia havia supostaente ficado obsoleta; uma relíquia de um passado stalinista do qual ninguém sentia saudades. No entanto, isso está em flagrante desacordo com a experiência da maioria das pessoas que trabalham e vivem no capitalismo tardio, para as quais a burocracia continua sendo uma grande parte da vida cotidiana. Em vez de desaparecer, a burocracia mudou sua forma; e essa forma nova e descentralizada permitiu a sua proliferação. A persistência da burocracia no capitalismo tardio não indica, por si só, que o capitalismo não funciona – ela sugere que a maneira pela qual o capitalismo de fato funciona é bem diferente da imagem apresentada pelo realismo capitalista.
Em parte, optei por focar nos problemas da saúde mental e da burocracia porque ambos figuram com força em uma área da cultura que tem sido cada vez mais dominada pelos imperativos do realismo capitalista: a educação. Ao longo da maior parte da primeira década dos anos 2000, trabalhei como professor em um instituto de educação continuada e no que se segue me apoiarei extensivamente nas experiências que vivi por lá. Na Inglaterra, os institutos de educação continuada costumam ser o lugar para os quais os estudantes, em geral oriundos da classe trabalhadora, são atraídos quando procuram uma alternativa às instituições mais formais de ensino superior público. Quando saíram do controle das autoridades locais, no começo dos anos 1990, os institutos de educação continuada se tornaram reféns das pressões do “mercado” e das metas impostas pelo governo. Viraram a vanguarda das mudanças que seriam disseminadas pelo resto do sistema educacional e dos serviços públicos – uma espécie de laboratório no qual as “reformas” neoliberais na educação foram testadas e, por isso, são o lugar perfeito para começar uma análise dos efeitos do realismo capitalista.
1 n. da e.: o grupo era composto principalmente pelos artistas Gerhard Richter (então ainda Gerd Richter), Konrad Lueg, Sigmar Polke e Manfred Kuttner.
2 Badiou, Alain. The meaning of Sarkozy, 2008.
3 Zupančič, Alenka. The shortest shadow: Nietzsche’s philosophy of the two, 2003.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras

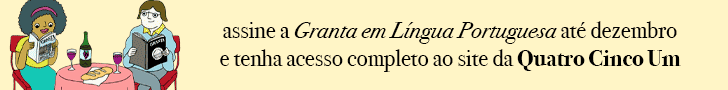
Economistas considerados progressistas têm escrito livros condenando exageros do capitalismo e sugerindo moderação. Outros, de consciência prostituída, têm afirmado ser ideal. Porém, se implica em transformar a natureza em dinheiro, não pode ser ideal. Se é produto da ignorância dos Midas do mundo, não pode haver moderação porque a ignorância não tem limite. Disse Einstein: “Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Mas, no que respeita ao universo, ainda não adquiri certeza absoluta”. Quanto à estupidez, o Grande Mestre do Saber não tinha dúvida. É realmente infinita. Precisa ser completo imbecil para não perceber a burrice que é ajuntar um montanha de riqueza quando se está arrodeado de famintos.