Pax neoliberalia e violência global contra as mulheres
Em lançamento da Sobinfluencia, Jules Falquet expõe como neoliberalismo usa violências contra a mulher – do feminicídio à opressão doméstica – para se reorganizar. Leia a introdução. Quem é Outros Quinhentos concorre a um exemplar
Publicado 15/08/2022 às 17:25 - Atualizado 15/08/2022 às 17:35
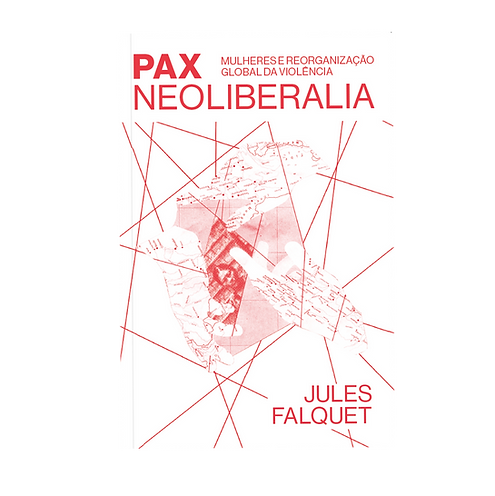
Uma pesquisa recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a violência contra a mulher aumentou vertiginosamente durante a pandemia da COVID-19, com uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos no Brasil dizendo ter sofrido violências ou agressões nesse período.
A pesquisa destaca que 25% dessas mulheres citam a perda de renda ou do emprego como um fator dessa violência. O aumento das agressões na pandemia não é raio em céu azul: a conformação do neoliberalismo enquanto sistema econômico global exige alta na violência de gênero como exige precariedade laboral, piora do nível de vida ou o aumento da violência policial. As violências políticas, econômicas, militares se vinculam para criar as condições para o capitalismo do nosso tempo.
Pax Neoliberalia, novo livro da pesquisadora e professora da Universidade Paris 8 Jules Falquet, estuda o fenômeno da reorganização global da violência, que atinge em especial as mulheres, como condição para a instalação do neoliberalismo. A obra acaba de ser publicada no Brasil por nossos parceiros da Sobinfluencia edições.
Ligada à corrente do feminismo materialista, Falquet apresenta quatro expressões dessa dinâmica em diferentes partes do mundo como janelas para vislumbrar os caminhos que a reconfiguração da violência toma nessa nova ordem global.
Leitores que colaboram com a manutenção do jornalismo independente de Outras Palavras concorrem a um exemplar do livro e garantem 25% de desconto em todo catálogo do site da editora. Publicamos a seguir, com exclusividade, um trecho da introdução da obra, escrita pela própria autora. Boa leitura!
Mulheres e reorganização global da violência, por Jules Falquet
Pensado em perspectiva transnacional e, fundamentalmente, a partir do Sul Global, este livro prolonga meu trabalho sobre a globalização neoliberal (Falquet, 2008). Inicialmente, abordei a fachada “risonha” do neoliberalismo global, sua face de criação de consenso. Trabalhando principalmente sobre o novo papel das instituições internacionais, tinha analisado as estratégias que visavam a fazer participar e a fazer trabalhar as mulheres, ao mesmo tempo que a capturar e domesticar a força propositiva crítica de seus movimentos. Trata-se agora de examinar a face coercitiva da globalização, partindo da violência contra as mulheres.
Este ensaio propõe uma dupla e simultânea reflexão: uma sobre o que se encontra em jogo, materialmente, nas diferentes formas de violência contra as mulheres (insistindo em como essas violências se imbricam com as lógicas de classe e de raça) e simultaneamente, outra acerca da reorganização neoliberal da coerção, dentro da qual desejo mostrar que a violência contra as mulheres desempenha um papel central.
O tema da “violência” é complexo e multiforme: quer se trate da violência contra as mulheres, da violência racista, da luta de classes, da repressão estatal, da guerra internacional, dos conflitos internos; enfim, as possíveis abordagens ao tópico são numerosas e os trabalhos incontáveis. As diferentes perspectivas disciplinares, no entanto, nem sempre dialogam e os trabalhos raramente são entretecidos. As ativistas e as teóricas feministas foram as primeiras a demonstrar a importância de realizar uma análise transversal da violência – física, sexual, emocional, econômica, ideológica – colocando em evidência seu caráter de continuum. Também destacaram o peso de sua dimensão material assim como sua utilização eminentemente instrumental; dito de outro modo, sua importância social, política e econômica.
Trabalhando principalmente sobre a globalização neoliberal e os movimentos sociais que a ela resistem – sem ser propriamente especialista em qualquer um dos ramos específicos do estudo da violência – fui constantemente confrontada com ela: pessoal, profissional e politicamente. Pessoalmente, obviamente, como mulher – o que faz impossível de não deparar-se com ela ao longo da vida. Profissionalmente, me interesso especialmente por países que atravessaram longas guerras e/ou vivem uma violência particularmente brutal (El Salvador, México, Guatemala). Politicamente, enfim, como feminista que tem participado da denúncia de certos “casos” em países reputadamente “seguros” e em paz (o caso Strauss-Kahn, a noite do 31 de dezembro de 2015 em Colônia); e como cidadã de um país que se encontra entre os principais produtores e exportadores de armamentos e doutrinas militares do mundo.
É a partir desta experiência material e multi-situada que proponho abordar o contínuo da violência, considerando contextos geopolíticos e objetos variados. Isso significa não somente a violência doméstica e as violências contra as mulheres, mas a instituição do serviço militar e as violências de guerra e pós-guerra, ou, ainda, a multiplicação contemporânea de atores e lógicas de violência para-estatais ou não estatais e seus laços com a coerção organizada pelo Estado. Estes pontos de entrada, a primeira vista inusuais, díspares, permitirão entrever as ligações entre violências de guerra e violências de paz, assim como sublinhar certas continuidades históricas profundas entre diferentes períodos e regimes de exploração do trabalho, dos corpos e dos recursos.
Outras Palavras e Sobinfluencia Edições sortearão 1 exemplar de Pax Neoliberalia – Mulheres e reorganização global da violência, de Jules Falquet. O formulário para concorrer será enviado por e-mail. As inscrições ficarão abertas até sexta-feira, 19/08, às 14h.
Os textos que apresento são heterogêneos: o primeiro data de quase vinte e cinco anos atrás, enquanto os outros, bem mais recentes, estão inseridos na atualidade mais candente. Todos foram escritos paralelamente ao meu trabalho principal, como reflexões imprevistas que se impuseram a mim como relevantes e,
inclusive, necessárias. Me levaram a revisitar temas que conhecia apenas pela experiência pessoal e não de forma sistemática, o que me obrigou a realizar extensas pesquisas complementares.
O primeiro capítulo do livro tem por base uma parte “censurada” da minha tese de doutorado – que insistia em vir à luz apesar de tudo – como se verá adiante. O trabalho que se refere ao serviço militar na Turquia surgiu logo depois de ter convidado a socióloga turca exilada Pınar Selek, ao nosso seminário do CEDREF. Logo depois, ela me deu a honra de prefaciar a tradução francesa de seu livro, Devenir homme en rampant. O capítulo sobre os feminicídios, por sua vez, de algum modo se “autonomizou” a partir de um projeto de livro sobre os efeitos deletérios do neoliberalismo no México – outrora “melhor aluno” do FMI e signatário do Tratado de Livre Comércio com os EUA e o Canadá, para logo se afogar em uma guerra interna que no 2016 já tinha causado mais de 120.000 mortes e 25.000 desaparecimentos. Enfim, o capítulo sobre a Guatemala se desenvolveu a partir de uma reflexão transversal, ocorrida no meio de um programa de pesquisa coletiva sobre a “globalização do gênero”. Programa no qual abordei, por um caminho transverso, uma luta em realidade muito local, cujas apostas iam além da questão do gênero.
Estas pesquisas, de algum modo “gazetas”, me permitiram uma maior liberdade de tom e de análise, produzindo textos dificilmente classificáveis – ainda que complementares – publicados em suportes um pouco inusitados e bastante variados. O primeiro texto foi inicialmente publicado em uma revista científica (feminista); o segundo, como prefácio de um livro sobre a Turquia; o terceiro apareceu em uma revista exclusivamente digital; e o último deles figura em um livro coletivo.
Por isso, me pareceu útil reunir esses fragmentos de análise, revisitando-os e dando-lhes forma, na esperança de produzir, enfim, um quadro geral desta violência complexa, multiforme e sufocante que, desde muito, me acompanha e toma um lugar cada vez mais central na vida cotidiana de tantas pessoas. Nesta introdução, tentarei retraçar o caminho que me conduziu a estas análises e indicar a ligação – que mesmo sendo óbvia, é porém difícil de descrever com simplicidade – que associa entre si todas essas violências.
ACERCA DA GUERRA DE BAIXA INTENSIDADE CONTRA AS MULHERES
O primeiro capítulo, “‘Guerra de baixa intensidade’ contra as mulheres?”, surgiu de minha tese de doutorado, defendida em 1997. Em efeito, tinha sido absorvida pelo tema da violência contra as mulheres na primavera de 1993, em El Salvador, ao ser encarregada de redigir para Mujeres 94 a primeira parte da Plataforma de Mulheres, primeira parte que tratava da violência. Razão pela qual, depois de um capítulo sobre a construção social dos sexos em El Salvador e de outro sobre a maternidade e o mercado de trabalho, pretendia que minha tese contasse com um capítulo de reflexão acerca da violência enquanto um sistema. Esta vez, meu orientador – geralmente alegre – me recebeu com ar preocupado, deixando entender que eu deveria remover ou revisar completamente este capítulo da tese. O que, com muita relutância, acabei por fazer – antes de retomá-la para publicação, agora na forma de artigo, na única revista que acreditava poder aceitar publicá-lo naquela época: Nouvelles Questions Féministes.
Este primeiro texto compara sistematicamente a tortura considerada política e a violência doméstica, tanto no que concerne a suas condições concretas de exercício quanto a seus efeitos psicodinâmicos individuais e sociais. No que concerna à tortura, me apoiei sobre os trabalhos de duas psicólogas, uma argentina e outra chilena, especialistas na atenção as pessoas sobreviventes de tortura; também busquei apoio em diferentes trabalhos de psicologia social da guerra reunidos pelo sociólogo hispano-salvadorenho Ignacio Martín Baró (1983; 1990). A descoberta, no seu trabalho, das táticas e da doutrina da guerra de baixa intensidade, me atingiu como um raio. Mais ainda, ao descobrir que a prática sistemática da tortura com a finalidade de incutir terror foi inventada primeiro… por militares franceses, sob a égide da OAS. Era preciso encarar de frente essa pesada herança (mesmo que agora essa doutrina tenha se internacionalizado), e fazer algo a respeito. Foi assim que o conceito de guerra de baixa intensidade tornou-se o fil rouge do conjunto da presente obra.
Em “‘Guerra de baixa intensidade’ contra as mulheres?”, expus pela primeira vez a finais dos anos 90, a ideia de que a violência doméstica é, por vezes, tão forte que pode ser considerada de mesma gravidade que a tortura política (ideia esta que é relativamente conhecida e fácil de provar). Sobretudo, esclareci que essa violência pode ser lida como uma prática estrutural – de certa maneira sistemática – que visa a polarização de uma totalidade social, dividindo-a em duas partes inimigas, mutuamente excludentes e assimétricas (aqui, de acordo com o sexo), de modo a produzir a desmoralização e a desorganização durável do grupo alvejado pela violência. Além disso, mostro neste capítulo que, em tempos de paz, existem contra certos grupos sociais (neste caso, as mulheres), uma verdadeira guerra, mesmo que não seja reconhecida como tal.
Esse foi um artigo difícil de escrever, não somente pela dureza dos testemunhos, mas pela dificuldade em vislumbrar todas as consequências daquilo que eu, progressivamente, passava a divisar. A dificuldade era tamanha que, ainda que concordava com publicar o artigo, a diretora da revista pediu que eu retirasse a conclusão – que para dizer verdade ainda não estava totalmente clara. O que me deixou com algumas questões lancinantes em suspenso, por exemplo: qual relação existe entre o exercício coletivo e institucionalizado da violência e a manutenção, o reforço ou mesmo a criação desta por diferentes grupos sociais, ou mesmo por diferentes classes (sexuais, raciais e sociais)? Qual é o estatuto da violência e qual é o seu papel junto às dinâmicas econômicas, que são frequentemente as únicas convocadas para pensar a divisão do trabalho e, portanto, as diferentes classes sociais?
Pensar a violência sobretudo como violência simbólica – tendência que encontramos frequentemente entre os dominantes –, permite evacuar essas questões. Sublinhar sua dimensão material, como brilhantemente fez Nicole-Claude Mathieu (1985), nos permite compreender seu papel de freio em relação ao acesso das pessoas oprimidas à plena consciência de sua situação e das relações sociais que as governam. Tomando o cuidado de separar a obrigação sexual e a violência física, Colette Guillaumin (2014) faz da coerção uma das manifestações das relações de sexagem e um dos meios utilizados para sua perpetuação. Paola Tabet (2018) também enxerga aí uma das três condições do fechamento das mulheres dentro do que ela chama de contínuo da troca econômico-sexual. Ainda assim, nenhuma destas autoras coloca a violência no centro de seus trabalhos, deixando esta questão em aberto.
Seja como for, este texto possivelmente foi prematuro: suscitou poucas reações. O conceito de guerra de baixa intensidade parecia paradoxalmente desconhecido na França – seu berço – ao ponto de ser constantemente compreendido como uma forma de guerra “leve”. A ideia de que a guerra dos homens contra as mulheres não é somente simbólica e, na verdade, encobre uma realidade brutal, talvez não podia ser plenamente ouvida no país de Chanel e da gauloiserie. A enquete sobre a violên cia contra as mulheres “ENVEFF”, que começava nessa época, suscitaria, alguns anos depois, reações ofuscadas. Inclassificável em um mundo em paz (ainda que relativa), quase inaudível, o conceito de “guerra de baixa intensidade contra as mulheres” começou, então, uma longa hibernação. Nesse período eu tinha em foco assuntos mais “sérios” como a desmobilização da guerrilha em El Salvador, o movimento zapatista, o Movimento sem-terra no Brasil e, depois, a globalização.
CHORAR COM OS HOMENS?
Pensado como um prefácio e centrado na pesquisa realizada por Pınar Selek acerca do serviço militar na Turquia, “Além das lágrimas dos homens”, visava inicialmente evitar uma leitura sensacionalista e potencialmente masculinista dessa investigação (quer dizer, para evitar reações como “coitados dos homens, sofrem muito e ficam traumatizados pelo serviço militar! Entendemos que por conta disso, muitos às vezes se tornam, lamentavelmente, violentos”). Ao contrário dessa equivocada leitura, o texto destaca o caráter rotineiro, planificado e eminentemente transitório da violência a que os jovens recrutas são submetidos – particularmente durante os três primeiros meses de serviço militar, tidos como os mais árduos, depois dos quais cada recruta progride automaticamente na hierarquia militar, recebe uma arma, deixa mais ou menos de ser violentado e torna-se aquele que, à sua vez, exerce a violência. É revelada assim uma lógica quase burocrática da administração da violência durante o serviço militar, uma fria racionalidade que permite in fine a concessão de privilégios consideráveis a uma parte da população (a parte masculina que passou pelo serviço militar) – em particular: a possibilidade de casar e ter acesso ao trabalho remunerado. Estes privilégios são tanto mais intrigantes na medida em que o grupo social ao qual são concedidos, ainda que sua passagem pelo serviço militar o tenha homogeneizado e unido, é selecionado inicialmente por meio de critérios totalmente arbitrários (por exemplo: ter um pênis e não uma vulva).
Este segundo capítulo visa, portanto, em primeiro lugar, ultrapassar uma visão do serviço militar moldada pelas evidências do senso comum, mostrando seu caráter não só insuficiente, mas enganador: tal visão esconde, na realidade, um indubitável naturalismo, ou um verdadeiro masculinismo.
A primeira evidência enganadora: o serviço militar seria um simples lugar de inculcação individual da “masculinidade”. Ora, tal crença de aparência banal repousa, em parte, sobre a ideia naturalista de uma masculinidade dada de antemão, com contornos precisos e universais, que bastaria embutir nos corpos e espíritos. O trabalho de Pınar Selek mostra que não é assim: o resultado da passagem pelo serviço militar produz formas de “masculinidades” que pouco se assemelham à ideia dominante de virilidade. Oficiais e recrutas choram lágrimas cálidas, alguns desmaiam e fraquejam, têm medo das armas. Todos aprendem a se calar, obedecer, fazer suas camas de modo impecável e lustrar incansavelmente o interior de seus carros de combate e os canos de seus fuzis.
Ademais, o serviço militar é frequentemente percebido como um tipo de rito de iniciação, o que conduz às vezes a análises sutilmente masculinistas, que insistem nas violências infligidasaos mais jovens e no sofrimento imposto no momento desta iniciação. Encontramos certas interpretações masculinistas do trabalho de Godelier sobre “a construção dos ‘Grandes homens’”, que destacam a violência e a homofobia características de tais rituais organizados em um “entre-si próprio” estritamente masculino.
Ora, ainda que evidentemente estamos em contra a homofobia (e a lesbofobia), se focar nos tormentos vividos pelos homens quando são colocados em uma posição de inferioridade (independentemente de suas práticas sexuais reais), significa seguirconcentrando-se nos homens, em um velho reflexo androcêntrico, que simultaneamente apaga as mulheres e, sobretudo, a dialética das relações sociais de sexo, que são centrais para entender o que realmente esta acontecendo. Colocar em destaque, complacentemente, os sofrimentos (intensos, mas, ao fim, passageiros), de alguns homens, tende a escamotear os privilégios (estendidos por dezenas de anos antes e depois do serviço militar) que todos adquirem em relação às pessoas radicalmente excluídas do serviço militar, neste caso: as mulheres.
Eis o centro da questão, uma vez que o próprio princípio da exclusão é indispensável para a criação de um “nós”, o qual indubitavelmente possui uma hierarquia interna, mas na qual a progressão é prevista e permite escapar tanto da violência quanto do “trabalho sujo”, e no qual mesmo aqueles que menos progridem estão assegurados sempre de obter uma melhor posição do que as pessoas excluídas do serviço militar. Quer dizer: principalmente as mulheres, mesmo que a escolha do grupo designado para ser incluído no serviço militar seja historicamente contingente. O ponto principal é o de que em relação ao Outro excluído,a hierarquia interna do grupo é apenas de importância relativa, ou inclusive é precisamente a exclusão de um Outro, seja qual for, que torna a hierarquia interna suportável. Por isso, focar na distinção entre diferentes formas de masculinidades dissimula o essencial: no caso do exército turco, frente a “feminilidade”, mesmo as masculinidades tidas como “não-hegemônicas”, quando incluídas ao serviço militar, convertem-se claramente em parte da hegemonia. E mais: tais masculinidades participam de um “nós” coerente e muito consciente dos mecanismos que produzem seus privilégios. Em particular, a necessidade de excluírem os Outros (de fato: as Outras).
Assim, este segundo capítulo propõe um afastamento de um olhar duplamente naturalista, tanto sobre a violência quanto sobre os sexos, destacando que o serviço militar é muito mais que um mecanismo de socialização secundária dos homens que reforçaria uma “virilidade violenta” sempre “já existente”: é um dispositivo que consolida a divisão social entre dois grupos radicalmente hierarquizados (no caso, grupos sexuais, mas poderia ser diferente). Servindo-se da violência como instrumento, o Estado produz “homens” (pouco importa que sejam “viris” individualmente, pois estão coletivamente constituídos enquanto classe privilegiada) sobre bases arbitrárias que reforçam, enquanto a modificam, a mirada naturalista que cria a suposta diferença entre os sexos. A violência organizada pelo Estado (e o desejo de se isentar dela), torna a hierarquia desejável para aqueles que dela se beneficiam, mesmo que estejam no antepenúltimo escalão da cadeia.
A MÃO DE OBRA PREFERIDA NO NEOLIBERALISMO
Pouco antes de encontrar Pınar Selek, eu trabalhava para um colóquio sobre a globalização, sobre os paradoxos das políticas do Estado mexicano em relação às mulheres e, mais precisamente, sobre as contradições gritantes entre, de um lado, o discurso benevolente e a adoção de leis notáveis contra as violências cometidas contra as mulheres e, de outro, as práticas brutais do exército e da polícia (notadamente, uma série de estupros) contra as mulheres de setores populares e originários, particularmente as mulheres zapatistas e, de modo geral, contra as mulheres em luta (Falquet, 2010). Em seguida, participei da primeira sessão do Tribunal Popular Permanente, que aconteceu em janeiro de 2012 em Chiapas (Falquet, 2012b). Foi nela que um conjunto de mulheres originárias denunciaram uma variedade de abusos cometidos tanto por soldados como por homens “de boa família”, além de perseguições policiais, recusa à assistência diante de violência doméstica, diferentes casos em que as autoridades comunitárias proibiam as mulheres de escolher seus parceiros de vida, diversos assassinatos e um sem-número de impedimentos perante a justiça. Neste mesmo ano, em Paris, no quadro de uma muito estimulante “AG feminista e lésbica contra a impunidade das violências masculinas exercidas contra mulheres”, nascida por ocasião do “caso DSK”, escrevi um texto re-contextualizando o agressor em seu papel profissional, como economista e diretor do FMI, e a agredida como uma trabalhadora pobre, migrante e racializada (Falquet, 2012a). Também neste texto destaquei tudo aquilo que o exercício da violência deve às dinâmicas neoliberais, tanto quanto à imbricação das dimensões das relações sociais de sexo, de raça e de classe. Sobretudo, sugeri que todas essas violências são conectadas entre si pelo fenômeno central da impunidade.
Tais reflexões constituem o ponto de partida do terceiro capítulo, “Os feminicídios de Ciudad Juárez e a recomposição da violência”, que se debruça sobre as centenas de assassinatos de mulheres, marcados por estupros e outras torturas, cometidos a partir dos anos 1990 na fronteira norte do México, região emblemática e verdadeiro laboratório da globalização. O olhar dominante viu principalmente, nestes assassinatos, o resultado bárbaro e, por assim dizer, inevitável, de uma situação de anomia produzida pela “modernização” frenética desta zona fronteiriça num cenário de desenvolvimento de cartéis de drogas e desintegração do Estado. A maioria das análises feministas colocou em evidência a dimensão profundamente misógina dos assassinatos e da permissividade/impunidade que os circunda ainda hoje. Entretanto, postulo que esta leitura também é incompleta e insatisfatória, vez que oculta a inteligibilidade e “racionalidade” de tais crimes, tão atrozes que parecem incompreensíveis.
Quando nos distanciamos um pouco da explicação apenas pela misoginia, observamos, primeiro, que os alvos de feminicídio não são quaisquer mulheres. Os cadáveres são dessa mão-de-obra muitas vezes migrante, jovem e não-branca, que tenta ganhar a vida nos interstícios abertos pelo desenvolvimento neoliberal da fronteira: as fábricas de montagem (maquiladoras), os bares, as butiques do centro da cidade, a rua. Esta violência exercitada precisamente no ponto de encontro entre as dinâmicas racistas e classistas, ao mesmo tempo em que sexistas, atinge portanto um segmento específico da mão-de-obra: trabalhadoras individualmente empobrecidas, mas que, juntas, produzem grandes dividendos às empresas transnacionais e, entre outras, à indústria do sexo.
Quem assassina as mulheres? Mistério. As raras pesquisas patinam. Sabemos sim, que em Ciudad Juárez cresceram toda classe de organizações armadas (grupos de jovens delinquentes de diferentes bairros, bandos de ex-presidiários, cartéis de narcotraficantes), subterraneamente ligadas à polícia e às Forças Armadas, o que significa que tem laços com o grandes partidos políticos que ocuparam alternativamente o aparato do Estado. Fornecendo inúmeros recrutas aos grupos delinquentes, são as Forças Armadas e a polícia que introduziram um treinamento para a tortura (incluindo a perpetuação coletiva de estupros e outros atos extremos), vindo diretamente da “guerra suja” dos anos 1960. A guerra de baixa intensidade aparece aqui de novo como uma chave de análise particularmente útil. Tendo em vista que, por meio da tortura e de uma violência tornadas terrivelmente públicas, não se trata de designar, aterrorizar e desorganizar opositores políticos, mas se tem como alvo a todo um segmento da mão-de-obra particularmente importante para o bom andamento do sistema. Em base a esta análise, os feminicídios de Ciudad Juárez podem ser lidos como um (novo) conjunto de técnicas cujo objetivo é intensificar a exploração.
Esta análise torna evidente, igualmente, que temos aqui uma mistura inédita de violência “privada” e “pública”. “Privada” no sentido em que 1) parece ser exercida por grupos não estatais ou, pelo menos, não diretamente remunerados pelo Estado para realizar essas ações; 2) os que a exerça são movidos, entre outros, por interesses econômicos imediatos (recebem um “salario”) ou de médio prazo (aterrorizar a mão-de-obra para torná-la dócil, mantendo os salários o mais baixo possível) e; 3) possivelmente se apoia em motivações individuais, como o gozo de algozes “aficionados” no exercício de tortura sexual. Simultaneamente, essa violência é “pública”, porque 1) repousa sobre a exibição duma parte dos corpos com a finalidade de controlar o espaço público; 2) beneficia, mais ou menos diretamente, de treinamentos em métodos institucionalizados – estatais – de tortura e; 3) é protegida, de fato, pelos poderes públicos que, ao invés de justiça e prevenção, garantem a impunidade àqueles que a exercem. Esta fusão crescente entre atores estatais e não-estatais, que se desenvolveu na fronteira do México com os EUA após a entrada em vigor do tratado de livre-comércio, constitui, de certa maneira, os primeiros passos de uma reorganização global da violência de alcance ainda maior.
De fato, os feminicídios de Juárez prepararam a sociedade mexicana para uma situação mais terrível ainda, que desabou sobre o conjunto do país em 2007 com o lançamento oficial da “guerra contra o narcotráfico”. Começa então uma verdadeira guerra interior liberada das regras da guerra clássica, em que o exército desenvolve funções de polícia, as polícias novamente formadas apoiam o exército e proliferam-se grupos armados de toda ordem (narcotraficantes, paramilitares, grupos de autodefesa, polícias comunitárias). A violência generalizada resultante desse giro da política governamental pode ser analisada como o desenvolvimento à escala nacional do novo modelo de coerção neoliberal.
VIOLÊNCIA E (DE)COLONIALIDADE
Enraizado em uma realidade ainda mais recente, o quarto e último capítulo, “Lutas (de)coloniais ao redor do ‘território-corpo’ na Guatemala. Da guerra ao extrativismo neoliberal” volta-se sobre a história das lutas para tornar visíveis as violências sexuais cometidas durante a guerra, em particular no começo dos anos 1980. Levadas adiante no pós-guerra, momento em que se desenvolvem novas formas de violências ligadas ao extrativismo de minérios transnacional – entre elas, muitos feminicídios – estas lutas levaram uma parte das feministas da Guatemala, mestiças, brancas e indígenas, a analisar as continuidades notáveis entre todos estes crimes.
Inicialmente, traçaram duas linhas de continuidade dos anos 1980 até os dias atuais. A primeira vincula os feminicídios, que se multiplicam de forma exponencial após a guerra, à violência genocida perpetrada durante o conflito. A continuidade entre feminicídios e genocídio se explica, em particular, por diferentes mecanismos de aprendizagem e de difusão de práticas de violência extremas por parte de ex-militares e ex-policiais, junto com uma lógica de dessensibilização social e impunidade quase total garantida pelos poderes públicos. A segunda, liga os massacres e estupros de guerra, por um lado, e as exações ligadas ao extrativismo, de outro. Continuidade dos locais – na maior parte dos casos, as principais riquezas energéticas, minerais e hídricas se localizam nas zonas rurais e indígenas. Continuidade de protagonistas – de um lado, em bom acordo, o exército, a polícia e os grupos paramilitares a serviço das empresas transnacionais e, de outro, populações rurais, frequentemente indígenas, no seio das quais as mulheres são alvos “privilegiados” de agressões sexuais e letais. Continuidade no objetivo, enfim, pois hoje, como ontem, trata-se de deslocar, ou de calar pelo terror as pessoas que, vivendo nessas regiões e as tendo preservado, podem legitimamente pretender decidir acerca da utilização dos recursos nelas contidas.
Mobilizando-se contra o extrativismo, as mulheres indígenas desenvolveram uma nova corrente de análise e de ação, o feminismo comunitário, que afirma em alto e bom tom a necessidade imperiosa de vincular a defesa do Território-Terra à defesa do Território-Corpo; particularmente dos corpos das mulheres indígenas que têm se defrontado com a todas as violências ao longo de cinco séculos. Hoje em dia, são as mulheres indígenas que se acham, frequentemente, na linha de frente dos ataques das empresas transnacionais e do governo – além de encabeçar as lutas de resistência. Depois de ter trabalhado muito para “sanar-se” das antigas feridas de guerra, que prolongavam uma extensa história de ataques sexistas e racistas ininterruptos desde a invasão colonial, as mulheres indígenas também produziram uma das análises mais completas da situação. De fato, o feminismo comunitário desvela a existência de um verdadeiro continuo das violências coloniais e recolonizadoras, misturando estreitamente as lógicas de raça e de sexo ao redor do alvo duplo do corpo das mulheres indígenas e dos recursos do território. Como na filosofia das populações Aymará dos Andes (Cusicanqui, 2016), as mulheres focaram seus olhares para o passado da guerra para decifrar o tempo que lhes é próprio – um presente que, trazendo de volta o passado mais antigo da colonização, delineia finalmente a face vindoura da recolonização.
Suas reflexões convergem com outras análises decoloniais do continente, feministas e lésbicas, levadas adiante por afrodescendentes, mestiças, brancas ou indígenas. Todas elas sublinham que diferentes formas de guerra, repressão e militarismo se desenvolvem concomitantemente às violências contra as mulheres – ao redor do extrativismo neoliberal (minerador, energético ou agroindustrial), e do processo complexo de recolonização dos territórios e das populações. A intensificação da exploração dos recursos (corpos – sobretudo femininos, indígenas e empobrecidos – e matérias-primas) exige o desenvolvimento de uma violência considerável e multiforme.
Cada um destes quatro capítulos propõe análises contextualizadas de diferentes expressões da violência a partir de fragmentos de realidades histórico-geográficas heterogéneas. O que as liga é a progressão da globalização neoliberal e o emaranhado de suas lógicas, que seguimos aqui por meio da transformação e interpenetração crescente de diferentes dinâmicas de violência e de guerra. A reorganização da coerção que se desdobra sob nossos olhos nos fala de um futuro inquietante que jaz sob o verniz daquilo que proponho chamar de Pax Neoliberalia: o estado paradoxal e instável em que hoje nos encontramos. Veremos aqui que a violência contra as mulheres está em seu centro.
Não sabe o que é o Outros Quinhentos?
Somos, desde 2013, o primeiro caso brasileiro de site sustentado essencialmente por seus leitores. Por meio do programa Outros Quinhentos, você contribui com nosso jornalismo de profundidade, apoia sua ampliação e participa de nossa rede de parceiros, orientada por lógicas opostas às de mercado.
É um embrião de rede de Economia Solidária. O espaço publicitário do site é oferecido, gratuitamente, a produtores de Cultura e Agroecologia. Eles não pagam em dinheiro, mas com seus produtos e serviços – compartilhados com nossos apoiadores. São gratuidades e descontos expressivos em livros, cursos, assinaturas de revistas, restaurantes, espetáculos, entre outros! Autonomia são outros quinhentos, e por isso convidamos você a fazer parte dessa rede solidária com a gente. Se interessou? Clicaaqui!
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

