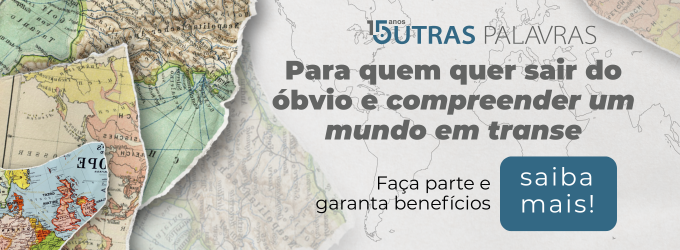Água: o que podemos aprender com Roma
Mais de 2,5 mil fontes de água potável e gratuita estão espalhadas pela capital italiana. Desde o Império, bem é universal, parte da vida coletiva e da paisagem urbana. Que lições isso ensina ao Brasil, onde avançam juntas a privatização (com recursos públicos) e a precariedade dos serviços?
Publicado 22/08/2025 às 16:23 - Atualizado 22/08/2025 às 16:35

O texto a seguir foi produzido pelo ONDAS – Observatório Nacional dos Direitos à Água, e ao Saneamento, parceiro editorial de Outras Palavras.
Caminhar por Roma é encontrar história em cada esquina, mas também água. Não apenas nos monumentais aquedutos imperiais ou nas fontes barrocas das praças centrais, mas em pequenas estruturas de ferro fundido que jorram água potável 24 horas por dia: os nasoni (narigões, em tradução livre). Com mais de 2.500 unidades espalhadas pela cidade, essas fontes oferecem água gratuita a quem passe por ali, de moradores a turistas.
Criados em 1874, os nasoni são apelidados assim pelo bico curvado em forma de nariz. Mas são mais que uma curiosidade local, eles funcionam como infraestrutura inteligente. Além de garantir acesso universal à água, ajudam a regular a pressão da rede urbana, evitando rompimentos e vazamentos. Um exemplo de como soluções técnicas e valores sociais podem coexistir no espaço urbano.

Mas a relação de Roma com a água não começa com essas pequenas fontes. Desde o período imperial, a construção de aquedutos foi central na política urbana romana. Sistemas como Aqua Appia, Aqua Marcia e Aqua Claudia transportavam água de nascentes localizadas a até 90 quilômetros da capital, cruzando vales e colinas para abastecer banhos públicos, latrinas, fontes e residências.
Esses aquedutos eram mais do que obras de engenharia, eram instrumentos de cidadania. No Império Romano, o acesso à água fazia parte da vida coletiva e da organização do espaço urbano. Sua distribuição não obedecia a critérios de lucro, mas expressava uma noção de bem comum e de integração política entre os habitantes da cidade. Essa concepção estava refletida na sigla SPQR — Senatus Populusque Romanus, o Senado e o Povo Romano — uma fórmula que simbolizava o governo compartilhado entre cidadãos e representantes, em contraste com o poder absoluto de um monarca. Levar água às fontes, às termas e aos bairros não era apenas garantir abastecimento, mas afirmar que Roma pertencia ao seu povo.
O referendo italiano de 2011: quando a população disse “não” à privatização
Essa tradição da água como bem comum voltou ao centro do debate político em 2011, quando a Itália realizou um referendo histórico. Em 12 e 13 de junho daquele ano, mais de 27 milhões de italianos foram às urnas e, com mais de 94% dos votos, rejeitaram a legislação que permitiria a privatização dos serviços de água e a garantia de lucro sobre o capital investido pelas empresas gestoras.

Apesar disso, Silvio Berlusconi, líder do governo de direita à época, tentou contornar o resultado ao aprovar um decreto que reintroduzia dispositivos de mercado. A medida foi posteriormente considerada inconstitucional pela Corte Constitucional italiana. Ainda assim, outras normas seguiram permitindo mecanismos de remuneração de capital, contrariando o espírito do referendo. A votação, no entanto, serviu como marco simbólico e político para diversos movimentos sociais e para administrações locais, como a de Nápoles, que passaram a implementar modelos de gestão pública com participação cidadã.
O avanço da privatização do saneamento no Brasil
No Brasil, a água como bem comum se torna uma realidade cada vez mais distante. A privatização dos serviços de água e esgoto tem avançado de forma acelerada, especialmente após a alteração do Marco Legal do Saneamento em 2020. A legislação abriu caminho para uma onda de concessões privadas com a promessa de universalização até 2033.
Entre 2019 e 2024, a participação de operadores privados saltou de 5% para 30% da população atendida, enquanto o número de municípios sob concessão privada cresceu de 291 para 1.648. Projeções indicam que até o final de 2025 metade dos municípios brasileiros poderá estar sob gestão privada. O ritmo dessa expansão evidencia não apenas uma mudança no modelo de gestão, mas também uma transformação profunda no papel do Estado e na concepção da água como bem público.
Os resultados, no entanto, têm sido alvo de críticas. Em Manaus, após mais de 20 anos de concessão, apenas 12% da população tem acesso à rede de esgoto, segundo o SNIS e o Instituto Trata Brasil. Moradores também relatam serviços precários, poluição de igarapés e falta de transparência. No Rio de Janeiro, após a concessão da Cedae à Águas do Rio, um termo aditivo garantiu aumentos tarifários entre 5% e 7% até 2026, com a justificativa de “compensar erros no edital”.
Estudos apontam que os novos contratos de concessão, embora promovidos como motores da universalização, não têm garantido avanços efetivos na coleta e tratamento de esgoto. As metas são frequentemente genéricas, concentradas em regiões com maior retorno financeiro e com baixa fiscalização. Indicadores de desempenho ignoram a realidade das periferias, ampliando desigualdades. Em muitos casos, os investimentos priorizam a expansão da rede de água, mais barata e lucrativa, enquanto o esgoto, mais custoso, segue em segundo plano.
Água como direito: modelos em disputa e o papel da cidadania
Transformações recentes na governança da água revelam um movimento global de financeirização e reterritorialização dos serviços essenciais. Decisões que antes estavam sob controle local passam a ser moldadas por circuitos financeiros distantes, esvaziando a participação comunitária e comprometendo a justiça ambiental. No Brasil, esse processo se materializa na expansão de contratos baseados em metas financeiras e indicadores de rentabilidade, frequentemente alheios às necessidades dos territórios atendidos.
Em Roma, apesar das contradições, o princípio da água como bem público ainda encontra expressão institucional. A empresa ACEA, responsável pelo abastecimento da capital, possui capital aberto, mas continua sob controle majoritário do município. Esse arranjo, no entanto, não está isento de críticas. Movimentos sociais denunciam aumentos tarifários e conflitos entre o interesse público e os objetivos dos acionistas privados. Mesmo assim, a cidade mantém estruturas de acesso universal, como os nasoni, e resiste às pressões por privatização com uma mobilização popular ativa e consistente.
Organizações como o Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua monitoram a atuação da ACEA, promovem campanhas contra a mercantilização da água e defendem a gestão pública com participação direta dos cidadãos. Esses grupos articulam redes locais e nacionais e mantêm propostas alternativas inspiradas na experiência de Nápoles, onde a gestão é inteiramente pública e guiada por princípios de justiça social
Enquanto isso, no Brasil, a política de saneamento tem se alinhado cada vez mais à lógica de mercado. Estudos mostram como a financeirização do setor fragmenta responsabilidades públicas e transforma a infraestrutura hídrica em ativo financeiro. Os contratos privados tendem a priorizar áreas densas e de menor risco, aprofundando desigualdades e comprometendo o princípio do acesso universal. O contraste com a experiência de Roma, onde o acesso à água segue tratado como bem comum, revela concepções opostas sobre o papel do Estado, a função da cidadania e os limites da mercantilização de um recurso essencial à vida.
O exemplo italiano, com seu referendo popular e suas soluções locais, mostra que é possível pensar a água fora da lógica do lucro. Isso não significa negar a necessidade de investimento ou gestão eficiente. Significa, antes, reconhecer que a infraestrutura hídrica deve servir à população, não aos acionistas. No Brasil, o debate precisa ser retomado em termos mais amplos. Não se trata apenas de “quem presta o serviço”, mas de “como e para quem”. O fortalecimento da gestão pública, com participação social e controle popular, é uma alternativa concreta.
Retomar o controle da política de saneamento, garantir o cumprimento de metas reais e construir uma cultura da água como bem comum são tarefas urgentes. Em tempos de escassez, crise climática e desigualdade, o modo como tratamos a água revela muito sobre nossas prioridades coletivas. Roma nos mostra que é possível combinar eficiência, cuidado técnico e justiça social em soluções simples e duradouras. No Brasil, a corrida pela privatização não pode ser aceita como destino inevitável.
Talvez seja hora de perguntar, como os italianos fizeram em 2011: “Água para quem?”
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.