Escola, antídoto à superexploração e adoecimentos?
Mais de 1 bilhão de pessoas vivem sob transtornos mentais, calcula a OMS. No Brasil, pesquisa revela que um em cada quatro professores já pensou em suicídio. E no entanto pode surgir, no âmbito da Educação, uma nova atitude diante desta epidemia
Publicado 24/11/2025 às 15:54
A dependência e o adoecimento crescente
E sem o seu trabalho, o homem não tem honra e sem a sua honra se morre, se mata
– Gonzaguinha

A imagem inicial deste texto, do paraguaio Fidel Fernández, retrata, na forma política da arte, o drama latino-americano e caribenho dos “ninguéns”. Jogados, misturados, relegados à esperas sem atendimentos, esses homens e mulheres excluídos da sociedade dos sonhos, conformam o palco estrutural de uma economia dependente vinculada ao âmbito internacional, e ao mesmo tempo, desvinculadora do direito à vida de seus sujeitos.
Há 52 anos, Ruy Mauro Marini escreveu seu ensaio Dialética da dependência. Este ensaio é um dos clássicos da pensamento social latino-caribenho, resultado de muitos debates em meio ao exílio em que se encontravam muitos sujeitos da América Latina e da Europa. Em uma de suas reflexões sobre a estrutura do capitalismo dependente, Marini nos diz:
“Não é porque se cometeram abusos contra as nações não industriais que estas se tornaram economicamente débeis, é porque eram débeis que se abusou delas. Não é tampouco porque produziram mais do que deviam que sua posição comercial se deteriorou, foi o deterioro comercial que as forçou a produzir em maior escala. Negar-se a ver as coisas desta maneira é mistificar a economia capitalista internacional, é fazer crer que essa economia poderia ser diferente do que realmente é.” (1973, p. 20)
Essa relação desigual entre as economias que dominam o mercado mundial e os países dominados por essas potências, demarca a produção material da violência, em que se expressa a complexidade da superexploração da força de trabalho na América Latina e o Caribe, em meio à expansão dos adoecimentos sociais.
Mais do que um problema do capitalismo dependente, o adoecimento social e no trabalho é um fundamento inerente à estrutura de funcionamento do imperialismo, cuja lógica da mercadoria e da acumulação de capital, passa por cima da natureza, dos sujeitos e dos processos comunitários. Quanto mais somos capazes de ver/ler o mundo, maior a tendência ao adoecimento, afinal, é insuportável viver em meio ao cotidiano das guerras, das formes, das muitas mortes em vida, propagadas pelos meios de comunicação como naturais.
Entre os sujeitos que adoecem no centro e na periferia do mundo e podem se tratar, não reside a maior parte da classe trabalhadora uma vez que a privatização da saúde e dos serviços de cuidado em geral, não cabem nos salários recebidos por estes sujeitos. Assim como na vida em geral, na saúde em particular, produz-se uma desigualdade estrutural. De forma que as notificações tendem a transitar muito abaixo da realidade do adoecimento geral societário. Afinal, é necessário ter tempo e dinheiro para se cuidar. Afinal, quem pode se dar ao “luxo” de ficar doente? Ou de entender-se doente?
O presente texto, tem como objetivo pensar, no âmbito da educação pública superior, como na economia dependente, as relações se intensificaram no que tange à violência, ao abandono e à fragilidade das relações sociais em geral, e de educadores e educandos em particular. Toma como ponto de partida o ambiente educativo, mas entende que sua debilidade, como a da economia dependente, reside no que fizeram dela, não do que potencialmente o espaço educativo pode ser. Minar a educação em recursos e propagandas para vender a farsa de sua disfuncionalidade, é reproduzir esquemas históricos de manipulação e poder que materializam a vitória do capital sobre os ambientes generalizados do trabalho.
Assim, esse texto está assentado no debate marxista da dependência. Nessa perspectiva teórica, a superexploração, o subimperialismo, o desenvolvimento desigual e a transferência de valor, são o fundamento estrutural do que analisaremos no concreto vivido da sala de aula atual.
Adoecimento, evasão, dialética da dependência
O documentário de 1974 de Gleyzer Raymundo, cujo título é o tema da música de Daniel Viglietti, Me matan si trabajo, y si no trabajo mi matan, é uma excelente exemplificação do tema. Indicação de um grande companheiro, Paulo Mauá, a discussão nos instiga a entender como o adoecimento, a fome e a superexploração, são inerentes à história do capitalismo dependente. O adoecimento atual é somente a equação exponencial de uma estrutura que já nasce adoecida.
É de domínio público a frase do mestre Dorival Caymmi, “quem não gosta de samba, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé”. Parafraseando o cantautor e poeta dos mares, parceiro de olhares e produções do também baiano e literata Jorge Amado, sustentamos: quem não gosta de gente, bom sujeito não é, é ruim dos sentidos e doente em pé.
Os dados do adoecimento vinculados à saúde mental tanto no mundo (OMS, 2022) como no Brasil (Fiocruz, 2023) são estarrecedores. (Mais de 1 bilhão de pessoas vivem atualmente com transtornos mentais, sendo os carros chefes a depressão e a ansiedade. No Brasil, segundo os dados compilados pelo Ministério da Previdência Social, divulgados pelo G1, foram quase 500 mil afastamentos do trabalho por adoecimento mental. Ansiedade e depressão responderam por mais de 50%, e as mulheres lideram tal quadro representando 64% das atingidas por essa epidemia psíquica e social.
No âmbito da educação são recorrentes os afastamentos de técnicos, discentes e docentes. Ampliam-se o direito ao regime domiciliar discente e conforma-se, sem cuidado, a intensificação do trabalho docente que precisa atuar em várias frentes pedagógicas dentro de uma mesma disciplina.
Uma sociedade doente tende a gerar uma universidade repleta de danos psíquicos, sociais, portanto, relacionais. Nesse ambiente contagiante e contaminante das doenças do coração e do abandono, em que a taquicardia, a falta de ar e o apagão são contínuos, nós, sujeitos coletivos estamos aprisionados ora em medicamentos, ora em processos legais que referenciam a educação a distância como norma, ainda quando não seja a regra.
A pesquisa de saúde docente realizada pelo Sindicato de Trabalhadores da Educação junto com a UFSC (2025), mostrou que um, em cada quatro professores, pensou em tirar a própria vida. A pesquisa traz também números expressivos nos fatores que comprometem sua saúde no trabalho: cansaço físico e mental; conflito com colegas; conflito com famílias; conflitos com estudantes, entre outros. Enfatizou, ainda, que não é baixa a porcentagem de professores com pensamentos suicidas.
O fato marcante é que as doenças mentais, vistas a partir da lógica da superexploração, em especial a depressão e a ansiedade, tornam exponencial tanto a evasão quantitativa – aquela que conseguimos visualizar em salas de aulas cada vez mais vazias – como a qualitativa, aquela que vivenciamos estando presentes fisicamente, mas mantendo ausentes os sujeitos sociais, expressando-se na ação antidialógica quer tem se tornado a sala de aula.
A evasão tornou-se, assim, um intensivo problema de saúde pública. E no entanto, segue tratada apenas como um tema de especialistas, em vez de ser um problema político de domínio público geral. Com essa abordagem, os dados são fechados, não se consegue produzir políticas de prevenção reais, e na aceleração do roubo do tempo, os números são consolidados, em meio ao desaparecimento dos corpos da sala de aula, no dia a dia da educação.
Evadir é sinônimo de ausência, de fuga, de abandono tanto o espaço comum como a vida cotidiana em comunidade. Às vezes por escolha, outras por necessidade. Na universidade, em grupos ainda mais fragilizados pela condição de dependência, como a população negra, LGBTQIAP+ e periférica, a evasão apresenta-se como fato concreto. E nem o sistema de entrada tão importante como as cotas, é capaz de garantir a permanência e a conclusão. Porque a vida fora da universidade cobra um preço alto para estar dentro dela.
No entanto, evadir não é crime, mas castiga. Afinal, o sujeito que evade aparece para os que continuam, como apenas mais um que não se tem notícias. Deixa de ser alguém do convívio. Passa a ser alguém que um dia esteve por ali.
É, nas condicionantes da estrutura do capitalismo dependente, que se deve estudar o fenômeno da evasão, que vem se apresentando como um dos constitutivos processos de adoecimentos e de roubo do tempo. A evasão como fruto de uma relação contraditória entre a urgente realização da vida, cada vez mais cara, e a prescindível necessidade do estudo, segundo as apologistas de plantão. Como se fosse possível cogitar, ou mesmo, apostar no apagamento da educação, como se esta não fosse vital para a realização das necessidades e realizações humanas.
Este é um tema para lá de complexo e abriga hoje, o abandono público da educação e a política pública de defesa de um padrão de desenvolvimento que não leva em consideração os sujeitos para além da obrigatoriedade do trabalho e dos impostos. Apesar de todos vivermos as situações drásticas do abandono da evasão, esse ainda é um tema tabu e não aparece, na devida importância que merece, nos debates políticos que suscitam políticas públicas efetivas.
O fato é que vivemos um momento de alargamento do processo pandêmico. Conviver, aparentemente, dói, revolta, desespera.
Mas, se a realidade concreta pulsa adoecimentos, como explicar os aspectos estruturantes de uma sociedade cuja a promessa era a do progresso? Por que tanto mais doentes, tanto mais aprisionados, tanto mais violentos os encontros? Por que a sala de aula se tornou um espaço de tormento, quando sua defesa sempre foi e será a do encontro?
Superexploração, a mola propulsora do adoecimento

“Chorei, não procurei esconder/Todos viram, fingiram/Pena de mim, não precisava
Ali onde eu chorei/Qualquer um chorava/Dar a volta por cima que eu dei
Quero ver quem dava/… reconhece a queda e não desanima/
Levanta sacode a poeira e dá a volta por cima
(Samba de Marcia Freire e Noite Ilustrada)
A exaustão é a manifestação concreta da pintura de Fidel. Um descanso sem descanso, um silêncio com dor e, no meio algumas fontes terapêuticas para curarem a alma e o corpo, aparecem as companhias cansadas, a bebida e o violão.
A superexploração é uma categoria analítica que explica nossa formação social a partir das raízes violentas coloniais e pós colonização. Esta categoria fundamenta a explicação de que a dependência é o resultado inerente do avanço da acumulação de capital. Ou seja, na América Latina e o Caribe, a superexploração é um mecanismo violento de produção material da vida, para quem vive da venda de sua força de trabalho majoritariamente à margem, dependendo de duplas e triplas jornadas, de mais trabalhos, de muitas mãos na mesma família condicionadas ao salário para pagamento de contas. A superexploração não é o ponto de chegada do avanço do capitalismo. Na América Latina é o ponto de partida e de intensificação exponencial ao longo do tempo. A categoria por si só já abriga múltiplos adoecimentos. Porque o resultado de avanço técnico é sempre mais trabalho ou maior intensidade, nunca mais prazer em meio aos sofrimentos.
O que define a nova fase do imperialismo é a força da tecnologia – e do trabalho intelectual – na vida cotidiana, e da especulação como rotina. Na vida agitada da atual relação capital-trabalho, viver é contar o tempo mínimo que resulta para além da sobrevivência subjugada da superexploração da força de trabalho. Entre o despertar e o dormir habita o mundo do trabalho. E quando se é mulher, também no tempo do despertar e no tempo do dormir, habitam diversos cuidados que impactam na energia do dia seguinte e no descanso que o antecede. O modo de produção capitalista naturalizou a violência privada e privadora do controle do tempo alheio. Sua célula principal, demarcada pelo tempo do relógio, é a do indivíduo e seus necessitados processos individualistas de sobrevivência, dor e prazer.
O tempo de trabalho e o escasso tempo de descanso se misturam no tempo do consumo. Neste, a “demonização revestida de democratização” do acesso ao crédito, aos jogos (BETS), à vida a partir de uma tela de celular, se tornam a comédia da trágica vida cotidiana da classe trabalhadora. Nesses tempos da propriedade privada vitoriosa e disseminadora de sua verdade como ponto de vista único da história, conviver é apresentado como coisa do passado, ou seja, viver é tempo presente materializado em imagens de felicidade (aparência pura) que devem ser consumidas de imediato que chegam de forma instantânea em todos os lares, corpos e seus aparelhos celulares. A era shopee, mercado livre, coloca nossas análises sobre os shoppings em esfera vermelha de observação. Aquela em que o atendimento precisa ser imediato pois há perigo eminente de morte. Estamos morrendo em meio a ideia de democratização das mercadorias. À custa de nossos adoecimentos, o mercado e a mercadoria se agigantam e nos tornam ainda mais reféns de nós mesmos como espécie.
Na era em que a especulação e a intensificação da superexploração se misturam, a psicologia e a economia se abraçam e fundamentam, na supremacia das indústrias farmacêuticas, a drogadição da vida cotidiana, aquela sem a qual, não conseguimos seguir de pé. Friedrich Hayeck e Milton Friedman e uma vertente mercadológica de psicólogos, terapeutas e coachs fundamentaram o domínio do mito fundador da felicidade em uma sociedade concreta que se afunda no desespero do desencontro cotidiano, no ir e vir dos trilhos e asfaltos das grandes cidades do mundo. É o que apontam os estudos de Edgar Cabanas e Eva Illouz em Happycracia: fabricando cidadãos felizes, (2022).
Nesse paradoxo entre remédios e festas, a indústria do álcool, do cigarro, das caixinhas de sons, dos medicamentos e do churrasco seguem seus ritmos desenfreados a busca e efetivação do superlucro. E viva a ode das aguardadas black fridays de novembro.
Quanto mais se rouba o tempo de trabalho médio da classe trabalhadora, tanto mais a ela se vende os produtos que determinam a felicidade genérica dos tempos de modernidade líquida (Zygmunt Bauman, 2023), ou as mercadorias que resolvem, no curto prazo, as dores provenientes da ansiedade e da depressão. Estarmos doentes não define a crise do capitalismo, ao contrário, ressignifica suas transformações na operação cotidiana das reformas e revoluções burgueses que lhe dão passo a continuidade sistêmica de sua desigualdade operada sobre nossos dorsos.
Na América Latina e o Caribe, a felicidade não aparece mais sustentada na essência da natureza coletiva e social dos encontros entre os povos. Afinal, as ruas e espaços públicos vão sendo diminuídas para dar vida aos condomínios fechados e suas ideias de segurança, fortaleza, em meio à sociedade do caos/do espetáculo (Gui Debord, 1997).
O fundamento da cotidianidade do simples, do comum, do coletivo, apresenta-se, hoje, como coisa de esquerda para essa enferma direita que acredita que chegou no auge de seu afã de possuir. Cabe ressaltar, que em tempos confusos, há que se definir o que se entende por esquerda e por direita, afinal, está tudo tão misturado que perdemos a orientação a partir de projetos societários bem definidos. Mas isso é tema para um outro texto.
Jonathan Crary (2023) define esse tempo do roubo exacerbado e brindado como felicidade como Terra Arrasada. Crary nos relembra a força teórica de Marx em sua insistência metódica de evidenciar a tendência universal do capital que só ocorre se for capaz de destituir a sociedade de seus laços comuns, coletivos. Eis que, 142 anos após sua morte, suas ideias seguem vivas e assertivas.
O reverso da dependência: a resistência, o retorno ao comum, ao coletivo, ao social!
“e aprendi que se depende sempre, de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho por mais que pense estar”
(Gonzaguinha, Caminhos do coração)

Mais uma imagem em que Fidel Fernández nos mostra o papel que a educação cumpre na periferia do imperialismo. Relegada a pouco ou nenhum recurso, sem infraestrutura mínima condizente ao ato de aprender, educadores e educandos tocam a tarefa do jeito que for possível levar. Em muitos territórios da América Latina e o Caribe, a estrutura escolar é território sem estado, sem recurso, com muita gente excluída da sobrevivência e incluída nos balcões da fome.
Mas, se a escola, os espaços educativos, são mais uma célula da sociedade civil em que a política se materializa, então começar por ela, com exercícios que regeneram nossa humanidade pode ser de bom cultivo e boa colheita. Afinal, porque saímos tão destruídas das salas de aulas, quando preparamos tanto o processo de encontro? Por que a sensação de fracasso, quando nosso desejo de debater está todo materializado ali? Por que a vontade real de desistir e a insistência do choro, semestre a semestre, se lutamos tanto por estar ali? Simples e complexo assim: porque na Universidade evidenciamos como estamos sozinhos e em meio aos inimigos de esquerda, sendo de esquerda. Há um abandono parental de classe na Universidade entre os/as que deveriam ser pares. Isso machuca, adoece e gera ira. E, mais do que a pessoalidade dessa narrativa, o que demarcamos é que esta situação se tornou um problema endêmico e epidêmico, logo, político e social, o que demarca um processo coletivo de algo que possa se apresentar como pessoal. Ainda que o seja.
O não reconhecimento do outro como próximo, como par, em história, trajetória ou ao menos desejos, mata qualquer ser social com consciência de classe. A universidade não é, historicamente, o espaço para o comum, o coletivo, porque foi alçada para responder, na ideia de ciência, à consciência burguesa. No entanto, como na dialética, nada é dado nem casual, ao contrário, são as contradições que apontam para a necessidade pungente de afirmação do óbvio: somente se recupera o ato político educativo do comum e do convívio, se formos capazes de reinventar esse espaço do encontro no tempo que o ocupamos, desde outras proposições pedagógicas, metodológicas e sociais. Entre as tarefas fundamentais, está a de refundar os encontros a partir do repensar o cuidado com o conteúdo do ensino, na potência da pesquisa e da extensão combinadas.
Sem realmente afirmarmos o fim da jornada 6 x 1 e discutirmos coletivamente a educação que se tem e a que se quer, com recursos e espaços coletivos para isto, a tendência é de expansão da escala desse adoecimento dependente.
Os sujeitos da educação, professores, educandos e técnicos estão irreconhecíveis em suas trajetórias massivas mortificadas como sujeitos coletivos, em espaços que deveriam ser de vida em comunidade. Em tempos em que não é possível defender o argumento de que exista uma comunidade acadêmica e sim um academicismo, é necessário coletar as experiências bem sucedidas de uma escola repleta de plural e diversidade, que de fato, mesmo quando não apareça no dia a dia da megalomaníaca representação das imagens de sucesso, existe na vida cotidiana do nosso trabalho.
Os grupos menores, de estudos rigorosos, têm se tornado um espaço de reconhecimento das dores e das possibilidades, de potência em ação. Neles, nossos encontros se reabrem para a reformulação urgente de quem somos, o que queremos, que sonhos abrigamos. Aparecem as mutilações, mas elas dão passos concretos rumo à superação. Porque aquilo que era individual e solitário na dor, se torna comum e socializado. Neste reconhecimento, os laços se fortalecem e o desejo de trabalhar junto se reacende.
A principal “terapia” para o popular que habita a universidade, é a do trabalho coletivo referenciado em nossas histórias e trajetórias populares. Sair, buscar reconhecimentos na sua própria classe, voltar e pensar conexões, torna-se um reviver. Disso se trata. É passada a hora de sistematizarmos nossas bem sucedidas experiências do caráter qualitativo protagonizado pelo popular da educação, em meio ao expressivo quantitativo das evasões que nos rodeiam. Grupos menores em busca de saúde, se juntam com outros grupos fora dos muros da universidade e estabelecem pontes que os permitem ver para além das grades do adoecimento. Uma verdadeira conexão de saberes.
É urgente voltarmos a estabelecer encontros de diagnósticos não somente das dores, mas dos trabalhos coletivos que existem no dia a dia da educação, ainda quando não apareçam. É essencial dar visibilidade aos projetos cotidianos dos sujeitos comuns que ocupam os espaços como revanche, que extrapolam os muros, que colocam cores onde pulsa o cinza e o branco. Estes que por não serem financiados por órgãos públicos e privados detentores do poder da definição de quem é bom e quem é ruim, consagradores dos cânones sobre os “melhores” e os “piores”, não aparecerem como resultados do sucesso, mas insistem em resistir no ambiente educativo.
Muitas ações coletivas estão nos territórios com seu poder extensionista de escutar e aprender. O popular periférico da cidade se encontra e se assemelha ao popular periférico do mundo camponês. E, quanto mais se encontram, mais sentido veem no que fazem tanto lá, como cá. No entanto, estas experiências não são propagadas como potência. São diminuídas em importância, em meio ao sagrado templo da produção qualis, em que a maior parte das pesquisas não são as de encontro com os territórios.
Insistimos: em meio aos nossos adoecimentos, ainda habitam nos corredores risadas baixinhas, conversas que se escutam em outros espaços, convívios múltiplos. É a revanche da vida cotidiana que, se encarada a partir da graça, do riso, e também do educativo processo de silêncio que não é silenciamento forçado, pode revigorar o encontro em meio aos desencontros atuais.
Adoecemos, mas resistimos. Assim como a natureza, cremos como educadores sermos capazes coletivamente de nos regenerar no que concerne a humanidade do humano depreciada na educação. E, então, somos?
Textos e imagens usados:
Imagens de Fidel Fernández:
https://portalguarani.com/1956_fidel_fernandez/7917_paraguay_mr_2013__pinturas_de_fidel_fernandez.html
Documentário: Gleyzer, Raymundo. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan (Documental) (1974)
https://www.youtube.com/watch?v=WMh7HFeS7K0
Baumann, Zigmount. Modernidade líquida. SP: companhia das letras, 2021.
Cabanas, Edgar e Illouz, Eva. Happycracia. Fabricando cidadãos felizes. SP: Ubu editora, 2022.
Crary, Jonathan. Terra arrasada. Além da era digital rumo a um mundo pós-capitalista. SP: Ubu editora, 2023.
Debord, Guy. A sociedade do espetáculo. RJ: Editora contraponto, 1997.
FIOCRUZ. O dossiê Panorama da Situação de Saúde de Jovens Brasileiros de 2016 a 2022: Intersecções entre Juventude, Saúde e Trabalho. RJ: 2023.
Marini, Ruy Mauro. Dialectica de la dependencia. México: Era, 1973.
OMS (2022). Relatório de saúde mental. https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338
Pesquisa de saúde docente CNTE-UFSC (2025): https://cnte.org.br/noticias/sinte-sc-um-em-cada-4-professores-pensou-em-tirar-a-propria-vida-nos-ultimos-ano-a13f
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras
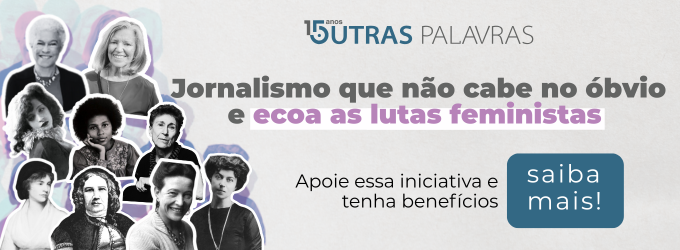
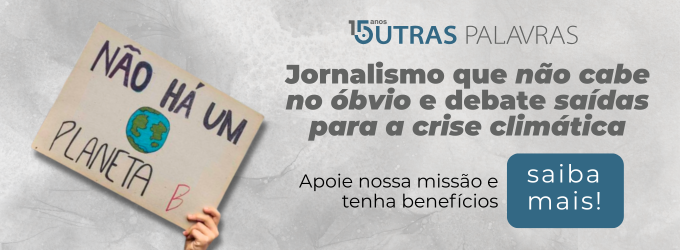
Não acredito em coincidência…ainda é cedo pra entender o que aconteceu. Acabo de ler o texto pra Professora Roberta, e acaba de acontecer uma tragédia com funcionários em uma ESCOLA. O texto analisa como esse adoecimento do trabalhador, afeta em especial a educação….lugar de gente que convive com gente! Mas, o texto, apoiado na teoria da dependência dos países da América Latina e Caribe nos mostra o projeto de adoecimento dessas pessoas…não é em vão, não é impensado…é um projeto de destruição e morte. As imagens trazem muito significado e beleza.
O texto ” Escola, antídoto a superexploração ao adoecimento” nos convida a refletir sobre o cotidiano dos educadores e servidores em geral. Pós pandemia com o uso quase que exclusivo das redes sosiais para comunicação, percebe-se que mesmo pós pandemia as pessoas tem preferido manter contato de forma online, o que dificulta que haja um limite entre o tempo dedicado ao trabalho e o período de descanso e lazer. Junto soma-se a sensação de urgência em que a maioria das pessoas parecem viver, ocasionando uma pressão e tensão nas empresas e uma disputa em quem atende primeiro e da melhor forma o seu cliente, geralmente a um custo do esgotamento e adoecimento dos trabalhadores na tentativa de atender esse mercado composto por pessoas cada vez mais exigentes e intolerantes, que tem que serem atendidas e supridas em suas necessidades a tempo e hora resultando no adoecimento biopsicosocial da humanidade. Excelente texto. Deveria ser discutido nas escolas. Parabéns .