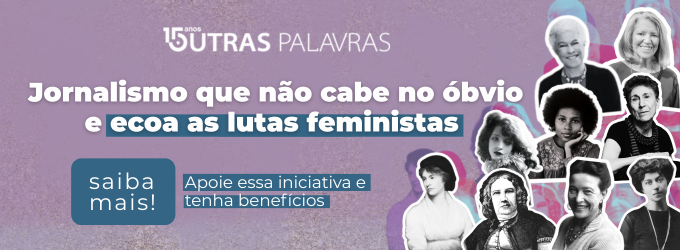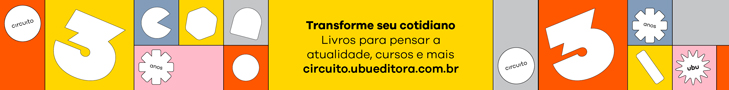Investigação sobre o patriarcado na cultura indígena
Viagem através de um mito amazônico. Por trás da proibição feminina às “flautas sagradas”, uma narrativa oral complexa de resistência e usurpação de poder. Mas entrou o olhar do colonizador, que reeditou histórias e confinou as mulheres a papéis de gênero
Publicado 30/09/2025 às 14:42 - Atualizado 30/09/2025 às 15:36

Por Soleni Biscouto Fressato, em A Terra é Redonda
Para os Desana, os seus antepassados eram “gente-peixe”, que vieram do cosmos para povoar a Terra e fundar malocas, a primeira foi no Lago de Leite. Quando chegaram nos rios Negro, Uapés e Tiquié fundaram as Malocas das Flautas Sagradas. Numa dessas malocas nasceu Guramūye, o Dono das Flautas Sagradas. Sua mãe não tinha vagina e havia participado de um ritual que lhe conferiu o poder de gerar filhos sem relação sexual. Ela mascou ipadu (coca) e ficou grávida de Guramūye. Na hora do parto, não havia por onde a criança nascer. Diante de muitas dores, a mãe desmaiou e os deuses criaram a vagina, fizeram o parto e levaram a criança para o interior da floresta. A mãe jamais viu o seu filho. Adulto, Guramūye criou um ritual iniciático para os meninos em idade puberal, para se transformarem em homens fortes e valentes. Durante o ritual seu corpo zunia, transformado em flautas que tocavam várias músicas. Num desses rituais começou a chover muito e Guramūye disse para os meninos se protegerem, entrando em seu corpo. Os pais acharam que Guramūye havia comido seus filhos e resolveram queimar a maloca. No lugar onde Guramūye foi queimado nasceu a paxiúba[i].
Muito tempo depois, Abe, o Sol, resolveu morar, juntamente com seu povo, num lugar onde tivesse paxiúba. Abe tinha três filhos, duas mulheres e um homem. Ao anoitecer, o pai orientou o filho a acordar bem cedo, para ir buscar paxiúba, mas ele já estava dormindo e quem escutou as orientações foram as filhas. No dia seguinte, bem cedo, elas saíram para encontrar as paxiúbas, que fugiam delas, por serem mulheres. Insistentemente elas correram atrás, até que conseguiram agarrá-las, mas não sabiam para que servia. Esfregaram-nas por todo o corpo, inclusive na vagina, sem descobrir sua utilidade. Até que o peixe aracu de cabeça vermelha ensinou as moças a soprar e tirar som das paxiúbas, transformando-as em flautas. Elas voltaram felizes para a aldeia, tocando as flautas. Os homens, vendo-as tocar o instrumento que apenas eles tinham acesso e sabiam para que servia, ficaram aterrorizados. A partir de então, as mulheres passaram a tocar as flautas e frequentar a maloca que antes era interditada para elas. E os homens passaram a fazer todo o trabalho que era feito pelas mulheres, ocorrendo uma inversão dos papéis sociais.
Irritados e descontentes, os homens resolveram recuperar as flautas e o poder que delas advém, pois, o seu possuidor exerce domínio sobre todos os demais da tribo. Cercaram a maloca, se apoderaram de uma das flautas e direcionaram para a vagina de uma das filhas do Sol. A ideia era que o som da flauta explodisse todas as mulheres. Mas, na hora de soprar, o filho dorminhoco do Sol acabou acertando o peito da irmã. O som da flauta desarvorou as mulheres e fez com que abandonassem a maloca, deixando as flautas sagradas. As filhas fugiram para o sul e nunca mais foram vistas, uma delas levou um pedacinho da flauta escondido na vagina. Em Itapinima, no baixo rio Uaupés, elas gravaram, numa pedra, a história da conquista das flautas sagradas[ii].
O mito do Dono das Flautas Sagradas é uma das narrativas mais importantes das culturas indígenas do Amazonas colombiano-brasileiro, sobretudo nas bacias dos rios Içana, Uaupés e Negro, dentre elas os Desana, Tukano, Baniwa e Tariana. Além de ser um importante legado da literatura indígena, esse mito também é um tratado de formação social, determinando regras e leis aos povos indígenas da região, mesmo que não aceitas por todos os integrantes das comunidades, especialmente as mulheres.
Do mito do Dono das Flautas Sagradas originou-se um ritual praticado, até a atualidade, entre muitos povos, não apenas nas bacias dos rios Içana, Uaupés e Negro, mas chegando até o Mato Grosso, no Parque Nacional do Xingu, entre os Kamayurá. Esses rituais sagrados, que integram um vasto sistema sociocultural, são proibidos às mulheres, que não podem nem ver, nem tocar as flautas sagradas, contudo possuem um papel coadjuvante importante, pois são as responsáveis pela preparação dos alimentos consumidos durante o ritual e na festa que o segue.
Essa tradição, explica Silva (2023), é um fenômeno histórico-cultural que se apresenta na forma de um ritual iniciático, pois ajuda os meninos a se separarem das mães e a entrarem na cultura dos homens. Também insere os jovens, ao receberem instruções secretas masculinas, nas culturas patrilocal e patrilinear do Noroeste Amazônico. Já Corrêa e Guevara (2021, p. 80), de forma mais crítica, afirmam que essas leis “são um ritual social que buscam regulamentar o comportamento dos povos e exclui as mulheres de qualquer prática ritualística, deixando-as sem voz, submetidas a um patriarcado que carrega em si a palavra divina”.
Quando Saake (1976) visitou os Baniwa, nos anos 1950, acompanhou o ritual das flautas sagradas. Os homens percorriam a mata com as flautas, colhendo frutos. Ao final da tarde voltavam para a aldeia tocando as flautas, fazendo com que as mulheres se escondessem em suas casas. Os frutos eram colocados no centro da praça e os homens tocavam as flautas e dançavam em volta deles, flagelando-se mutuamente. Depois depositavam as flautas na casa apropriada. As mulheres eram chamadas para prepararem bebidas com os frutos. Em seguida havia uma festa, que reunia todos da aldeia. Os homens não podiam falar com nenhuma mulher, mães, irmãs ou companheiras, sobre as flautas.
O Hupda, povo que habita a região do Alto Rio Negro, entre o Brasil e a Colômbia, também pratica o ritual das flautas sagradas. Além de interditado para mulheres e crianças, o ritual ficou oculto e inacessível para não indígenas até os anos 1990, devido à perseguição e proibição executada pelos missionários salesianos, que ocupavam a região. O ritual inclui longas caminhadas em grupos pela floresta, que permitem a observação da vegetação, do relevo e dos igarapés, mapeando áreas de caça, coleta e pesca. Tais atividades seriam capazes de “endurecer” o corpo dos jovens, sinal de amadurecimento e resistência. De acordo com Ramos (2022, p. 4), essas caminhadas, que leva ao conhecimento de vários tipos de plantas e de suas propriedades, também possuem uma “dimensão xamânica (que) aproxima sopro, respiração e som para gerar paisagens sonoras importantes para a fertilidade, o equilíbrio social, a cura, a proteção e a reciprocidade”. O antropólogo participou de uma jornada de “endurecimento” do corpo, em 6 de setembro de 2015, que revelou o caráter lúdico das caminhadas e fálico do mito e rito das flautas sagradas: “fazendo graça, Valter abaixou sua bermuda e tocou sua flauta D’öp[iii]balançando o pênis e exibindo as nádegas. Todos riam dizendo que ele estava brincando com o perigo. Davam tapas em sua bunda” (Ramos, 2022, p. 7).
O mito do Dono das Flautas Sagradas intrigou viajantes, exploradores e colonizadores que visitaram e se estabeleceram na região amazônica, em fins do século XIX, levando-os a uma escrita da narrativa. Contudo, essa escrita alterou muitos elementos das narrativas originais, até então orais, legitimando a ascensão de leis patriarcais mais rígidas. Estava criado o mito do Jurupari, o Filho do Sol, mais próximo das expectativas de uma elite intelectual masculina e colonial, presente na Amazônia brasileira, do que dos costumes indígenas.
A primeira versão escrita publicada do mito do Jurupari foi feita por Ermanno Stradelli (1890), sob o título La leggenda del Jurupary. A escolha por Jurupari e não o Dono das Flautas Sagradas não é inocente. Em fins do século XIX, a região das bacias dos rios Içana, Uaupés e Negro estava sob forte domínio de colonizadores e da Igreja Católica, por meio de suas várias congregações, que disseminaram o termo Jurupari e impuseram a ideia de que ele era um demônio.
De acordo com Frignati (2023), Stradelli teria recebido um manuscrito em nheengatu de Maximiano José Roberto[iv], fruto de suas andanças pela região amazônica, recolhendo mitos e relatos de vários povos, sobretudo os narrados por lideranças espirituais. No texto publicado, Stradelli explica que Roberto teria condensado, reunido e reformulado diversas variantes do mito numa única narrativa, como também, teria apresentado uma versão fiel, preservando-a o máximo possível.
O manuscrito de Roberto também foi traduzido e editado em português por João Barbosa Rodrigues[v]. Trata-se assim, como bem explica Frignati (2023, s.p.), “de um complexo processo de escrita coletiva e não a mera transcrição de uma versão oral do mito”. Na fronteira entre dois universos sociais, o indígena e o colonizador, Roberto também buscou atender as instruções e expectativas de seus colaboradores (Stradelli e Rodrigues), criando uma espécie de versão definitiva do mito, que além de ser uma enciclopédia das tradições indígenas do Alto Rio Negro, também se propôs a ser uma constituição que explica costumes, leis e preceitos patriarcais seguidos por muitos povos indígenas amazônicos.
La leggenda del Jurupary é um documento importante para o estudo da história da região, sobretudo sobre a questão de gênero, pois permite analisar a condição das mulheres nas sociedades indígenas e suas lutas contra a instauração de um poder masculino hegemônico, além de revelar as profundas transformações sociais da região.
As décadas de 1880 e 1890, momento em que a narrativa foi escrita e publicada, foi um período crucial para o estabelecimento da sociedade colonial, e a violência que a acompanhou causou grandes revoltas econômicas, políticas e religiosas entre os povos indígenas da região. Nesse sentido, o mito permite captar as forças sociais em ação no Rio Negro colonial no período.
La leggenda inicia com uma espécie de recriminação às mulheres que, por não corresponderem ao modelo almejado pelos homens (pacientes, discretas e capazes de guardar um segredo), seriam excluídas de decisões importantes. Segundo as mensagens enviadas pelo Sol ao pajé, durante seus sonhos, uma nova geração de mulheres, mais submissa e conformada, ajustadas às leis do Sol, deveria surgir a partir de Seucy, a mãe de Jurupari, concebida sem relação sexual. A mãe de Seucy habitava numa tribo de mulheres, às margens do Lago da Lua. Ao entrarem nas águas do lago, todas ficaram grávidas do pajé, que também tinha entrado no lago. Nascida da pureza, Seucy concebeu Jurupari também sem relação sexual: ao comer mapati, o sumo da fruta escorreu pelo seu corpo e ela engravidou.
Se nos mitos narrados pelos povos indígenas, a ausência de intercurso sexual não eliminou o caráter erótico do nascimento do Dono das Flautas Sagradas, muito diferente é a versão de Roberto/Stradelli ([1890]1964). A completa ausência de qualquer atributo sexual, aproxima Seucy mais da Virgem Maria, do que de uma mulher indígena, atendendo as prerrogativas de padres e freis católicos catequizadores estabelecidos na região amazônica.
Na narrativa vê-se, claramente, dois grupos em disputa. De um lado, o legislador enviado do Sol com a missão de impor novos costumes e hábitos, Jurupari, que consegue aliados homens, notadamente caciques e pajés, em todas as aldeias que visita. De outro lado, uma galeria de mulheres que reage às leis por meio da luta aberta ou se autoimpondo alguma forma de punição. Apesar da resistência, as leis patriarcais do Jurupari acabam prevalecendo.
Seucy, a mãe de Jurupari, é a primeira a se rebelar contra suas ordens e a primeira a ser punida: ela é transformada em pedra, para servir de exemplo para que nenhuma outra mulher ousasse opor-se às regras patriarcais. Diadue, que seduz um pajé com a intenção de conhecer os segredos dos rituais de Jurupari, é apedrejada. Desfigurada e monstruosa, fica depressiva e comete suicídio, afogando-se. Curan, filha do cacique e vítima de estupro, rouba as flautas sagradas e promove um ritual feminino. Castigada por Jurupari, se afunda na melancolia e acaba desaparecendo, arrastada pelas águas de uma cachoeira. Naruna, que havia fugido da Serra de Tunaí e fundado uma comunidade de mulheres, quer casar-se com Jurupari, mas é obrigada a casar-se com Date, amigo próximo de Jurupari. Consternada, ela se esconde numa jarra que contém caxiri. A bebida fermentada corrói a sua pele e ela morre. Meenspuin, na época que deveria casar-se, foi levada aos céus pelo seu irmão Pinon (ancestral de Jurupari) e foi acorrentada ao lado da Lua, transformando-se numa estrela. Carumá foi companheira de dança de Jurupari no casamento de Naruna e Date. Jurupari se apaixona por ela, mas por se considerar um homem interditado para as mulheres, promete ao cacique da tribo, pai de Carumá, que a levará consigo e nunca mais ela seria vista por nenhum homem, transformando-a numa montanha. Meenspuin e Carumá sofreram uma nova forma de violência, mais simbólica do que física, o aprisionamento.
O enclausuramento simbólico das mulheres indígenas na La leggenda del Jurupary é uma forma de violência de gênero até então ausente das narrativas míticas do Alto Rio Negro, que reflete o encontro do projeto literário e político de Roberto e Stradelli ([1890]1964) com as expectativas da elite intelectual colonial, marcadamente católica e patriarcal, presente na Amazônia brasileira em fins do século XIX.
A partir de então, as mulheres indígenas foram confinadas em determinados papeis sociais domésticos, que restringiu seu desenvolvimento pessoal e intelectual, e foram excluídas de decisões políticas importantes, inclusive para o grupo, além de terem sido afastadas dos conhecimentos de cura e da pajelança[vi]. Tal situação foi construída e imposta pela lógica capitalista colonial, que valoriza e perpetua a dominação do homens e obriga as mulheres a internalizarem a submissão e padrões de comportamentos, sob a ameaça de serem violentamente punidas.
Nesse sentido, um episódio chocante ocorreu numa data entre 1947 e 1953, entre os irmãos Villas Boas e os indígenas xinguanos Kamayurá. Pele de Reclusa, indígena Kamayurá, casou-se muito jovem, recém-saída dos rituais pubertários, com o cacique e pajé Kutamapù. Era sua terceira esposa. Quando os irmãos Villas Boas participavam da expedição Roncador-Xingu, ela e Leonardo tiveram uma relação amorosa. Descontente com a situação, o cacique instigou alguns homens da aldeia a colocarem as flautas sagradas na casa de Leonardo. Com tal ação, os indígenas transformaram a casa de Leonardo na “casa das flautas”, lugar interditado para as mulheres. Todas as vezes que Pele de Reclusa ia na casa de Leonardo, cometia uma dupla interdição: via as flautas e entrava num lugar sagrado permitido apenas aos homens. Por ver aquilo que mulher nenhuma poderia ver, por entrar num lugar proibido, por violar o inviolável, Pele de Reclusa foi condenada à penalidade do estupro coletivo. Pele de Reclusa não planejou ver as flautas sagradas, de forma que, de fato, não cometeu a interdição. Ela foi vítima de um ardil, planejado pelo cacique-pajé e executado pelos homens da aldeia[vii].
Tal violência ainda se faz presente. Segundo relatório da ONU (2010), uma em cada três mulheres indígenas é estuprada ao longo da vida. Em 2016, foram relatadas 619 agressões físicas contra mulheres indígenas no Mato Grosso do Sul, comparado com os números de 2010, 104 agressões, houve um aumento de 495% (Rosa, 2016).
Se os mitos do Dono das Flautas Sagradas e das icamiabas sinalizam para a emergência de um poder patrilinear que antecede ao século XVI, com a instalação do projeto capitalista colonial, o patriarcado assumiu contornos muito mais opressores, dominadores e violentos.
Diante de tal situação, os povos indígenas, sobretudo as mulheres, lutam de forma persistente e resistente para recuperar e valorizar sua cultura genuína.
Soleni Biscouto Fressato é doutora em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Autora, entre outros livros, de Novelas, espelho mágico da vida (Perspectiva). [https://amzn.to/3BQnzXR]
Referências
CORREA, Adriana de Oliveira Alves; GUEVARA, Diego Alejandro Gallego. Jurupari e as leis do Sol. In: Revista de Letras, Curitiba, v. 23, n. 41, jan./jun. 2021, p. 74-85. Disponível em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rl/article/view/10119
FRIGNATI, Emilio. Escribir desde y sobre los márgenes. Maximiano José Roberto y las figuras femeninas de la leyenda de Yuruparí (Amazonia brasileña, finales del siglo XIX). In: Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colloques, 20 fev. 2023. Disponível em: http://journals.openedition.org/nuevomundo/91144.
MENEZES BASTOS, Rafael José de. Leonardo, a flauta: uns sentimentos selvagens. In: Revista de Antropologia, n.2, v. 49, 2006, p. 557-579. Disponível em: https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/27243.
Pãrõkumu, Usumi; Këhíri, Torãmü, Antes o mundo não existia. Mitologia do povo Desana-Kéhíripõrã, 3 ed. Rio de Janeiro: Dantes, 2009.
RAMOS, Danilo Paiva. Caminhos de Bisiw: uma abordagem tensiva da mobilidade ritual no Jurupari dos Hupd’äh. In: Mana, vol. 28, n. 2, 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/mana/a/R9pTFHpGDMMDttVMQ96Rfjc/abstract/?lang=pt.
RODRIGUES, João Barbosa. O Muyrakytã e os idolos symbolicos: estudo da origem asiática da civilização do Amazonas nos tempos prehistoricos. 2 ed. v. 2. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1899. Disponível em: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/46480. Acesso em 10 abril 2025.
ROSA, Ana Beatriz. A luta das mulheres indígenas contra o estupro. In: Outras Palavras, 29 nov. 2016. Disponível em: https://outraspalavras.net/outrasmidias/a-complexa-luta-das-mulheres-indigenas-contra-o-estupro/.
SILVA, Manoel Antunes da. As Leis de Jurupari: um estudo sobre as narrativas sagradas de Jurupari no Noroeste Amazônico. 2023. 197 p. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras (PPGEAFIN), da Universidade do Estado da Bahia, Salvador-BA, 2023. Disponível em: https://saberaberto.uneb.br/server/api/core/bitstreams/91c9f2c3-e26b-4994-bd8b-c3c2e5ebc875/content.
SAAKE, Whilhelm. O mito do Jurupari entre os Baniwa do Rio Içana. In: Schaden, Egon (org.). Leituras de etnologia brasileira. São Paulo: Ed. Nacional, 1976, p. 277-85. Disponível em: http://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/biblio%3Asaake-1976-mito/Saake_1976_OMitoDoJurupariEntreOsBaniwaRioIcana.pdf.
STRADELLI, Ermanno. “La leggenda del Jurupary” e otras lendas amazonicas. São Paulo: Instituto Cultural Italo-Brasileiro, 1964. Disponível em: http://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/biblio%3Astradelli-1964-leggenda/Stradelli_1964_LaLeggendaDelJurupary.pdf.
Notas
[i] Espécie de palmeira utilizada, ainda na atualidade, para a confecção das flautas sagradas.
[ii] Síntese do mito narrado por Usumi Pãrõkumu e Torãmü Këhíri (2009).
[iii] Segundo pesquisa de Ramos (2022), são dez homens que tocam 5 casais de flautas: Wõwöy, Mot, Hup wed ãy, D’öp e D’öp tein.
[iv] Apelidado de “Caboclo”, Maximiano José Roberto era filho de um comerciante brasileiro e de uma indígena descendente de uma prestigiosa linhagem dos Tariana. Em fins do século XIX, vivia em Manaus, onde se converteu em colaborador de vários intelectuais brasileiros e europeus interessados na etnografia dos povos indígenas do Alto Rio Negro, graças ao seu domínio das línguas tariana, tukano, nheengatu e português, que sabia falar, ler e escrever. Trabalhou com Ermanno Stradelli e com o secretário e o diretor do Museu Botânico de Manaus, os brasileiros Antonio Brandão de Amorim e João Barbosa Rodrigues, respectivamente (Frignati, 2023).
[v] A versão de Rodrigues (1899), que não será analisada neste texto, é mais compacta e com menos detalhes que a de Stradelli ([1890]1964), mesmo assim conserva muitas similaridades, sobretudo em relação às questões de gênero e a forma como as mulheres são punidas.
[vi] Ver meu texto Icamiabas, a resistência da mulher indígena. Disponível em: https://aterraeredonda.com.br/icamiabas-a-resistencia-da-mulher-indigena/
[vii] O episódio foi narrado por Takumã, filho do primeiro casamento de Kutamapù, para o antropólogo Menezes Bastos (2006), em 1989.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras