Soberana digital, questão (também) de diplomacia altiva
Ela exige do Brasil investimento público, visão geopolítica e, sobretudo, coragem para desafiar as big techs. Proteção de infraestruturas sensíveis com leis duras e cooperação com o Sul para articular nova política industrial e tecnológica são essenciais
Publicado 30/06/2025 às 17:22
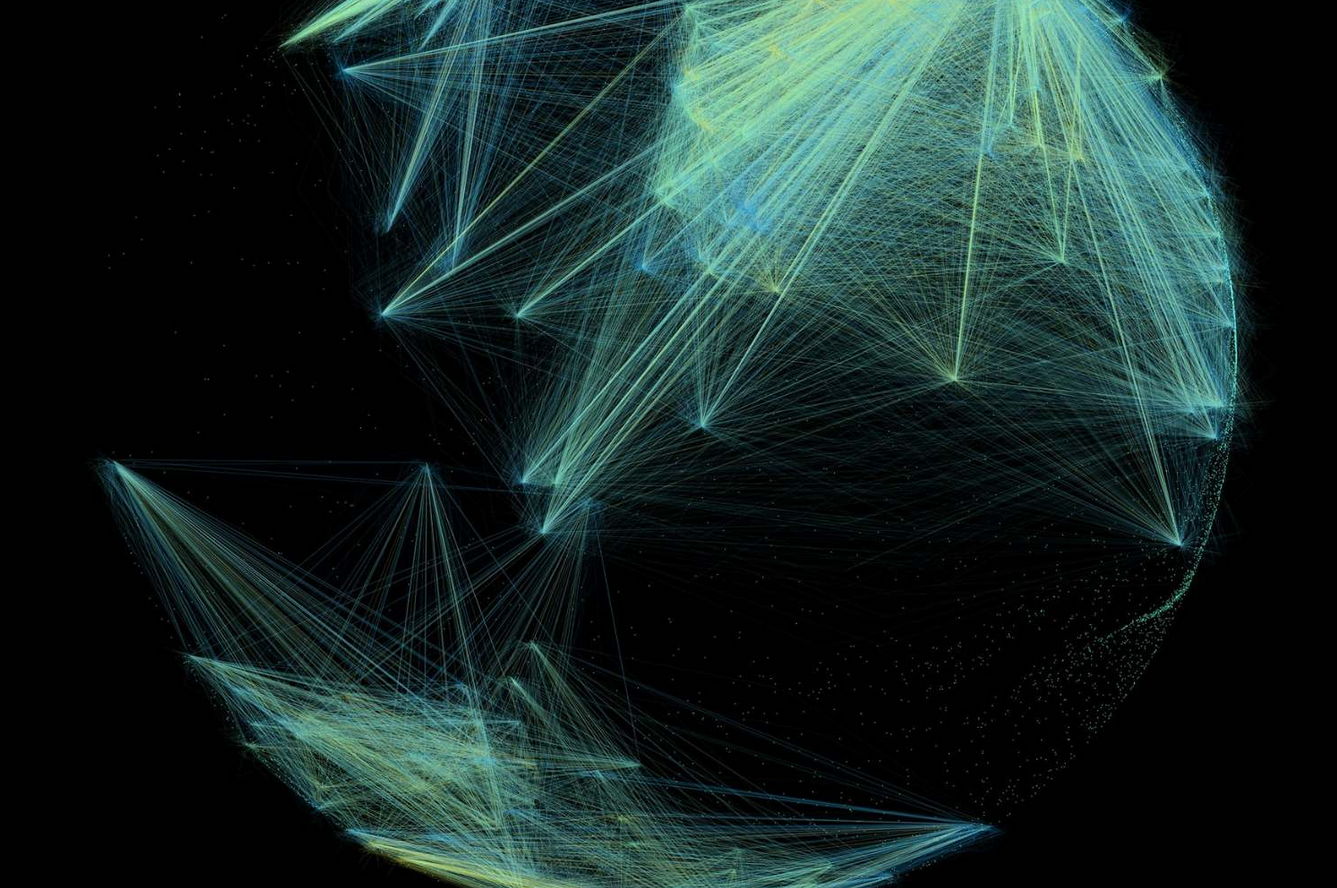
Por Germano Johansson e James Görgen, na JOTA
Em maio de 2024, o promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, teve seu e-mail institucional subitamente bloqueado. O serviço era hospedado pela Microsoft e a interrupção ocorreu após o governo dos Estados Unidos impor sanções ao promotor por ter emitido mandados de prisão contra autoridades israelenses.
Embora a empresa não tenha confirmado publicamente o motivo da suspensão, o episódio acendeu um alerta global: em um mundo onde até tribunais internacionais confiam seus ativos para infraestruturas privadas e estrangeiras para operar, basta uma decisão política ou uma sanção econômica para silenciar instituições inteiras.
O e-mail, ferramenta aparentemente banal, revelou-se um elo crítico na cadeia de funcionamento da justiça internacional — e, ao mesmo tempo, um ponto de vulnerabilidade.
Do outro lado do espectro geopolítico, o caso do Irã revela como a internet também pode ser lentamente sufocada, não com um botão de desligar, mas por meio da erosão constante de acessos e capacidades. Medidas internacionais, especialmente as impostas pelos Estados Unidos, restringem o acesso de milhões de iranianos a serviços quase fundamentais, como AWS, Azure e Google Cloud e até GitHub ou Adobe.
Se trata essencialmente de inviabilizar o uso de ferramentas essenciais para desenvolver, proteger e escalar soluções e produtos tecnológicos. O impacto vai além da infraestrutura: desenvolvedores, pequenos empreendedores, estudantes e usuários comuns são forçados a recorrer a servidores locais inseguros, VPNs muitas vezes frágeis e alternativas limitadas. A sanção, nesse contexto, age como uma cerca invisível, redefinindo os limites do que uma população pode criar, acessar e compartilhar no espaço digital.
O retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos acentuou essa realidade, de que a infraestrutura da internet pode ser restringida ou condicionada a injuções geopolíticas, como sanções econômicas ou decisões unilaterais de grandes potências. Especialmente quando os serviços essenciais estão majoritariamente concentrados em provedores privados sob jurisdição estrangeira (principalmente dos EUA).
O simples fato de analistas políticos e lideranças europeias considerarem plausível a hipótese de um “desligamento” da nuvem para países aliados, como publicado recentemente pelo Politico Europe, revela o grau de dependência estrutural que as nações criaram em torno de corporações privadas, na maior parte das vezes ainda sob jurisdição norte-americana. Esta reação é acrescida de um movimento do setor privado e da sociedade civil conhecido como EuroStack[1], que trouxe o debate da política industrial para a agenda digital do bloco.
Com a multiplicação de episódios como estes, governos do mundo todo passaram a adotar o conceito de soberania digital como um princípio inegociável na defesa contra tais riscos. Mas essa é uma expressão que muda radicalmente de significado conforme o interlocutor. É a partir dessas realidades que utilizamos a seguinte definição para soberania digital: a capacidade de estados nacionais entenderem o funcionamento das tecnologias digitais, conseguir desenvolvê-las e regulá-las efetivamente, exercendo, portanto, autodeterminação, poder e controle sobre ativos digitais tais como dados, softwares, hardwares, infraestruturas de armazenamento e processamento e redes de telecomunicações.
Essa concepção, alinhada com a formulação do professor Luca Belli, da Fundação Getulio Vargas, destaca que soberania não se resume à adoção ou ao uso de tecnologia — ela exige também compreensão, domínio regulatório e capacidade autônoma de decisão. Nos casos do TPI e do Irã, o que está em jogo não é apenas a estabilidade de sistemas digitais, mas a própria possibilidade de exercer direitos, governar instituições e garantir liberdade em um mundo cada vez mais mediado por plataformas privadas e interesses geopolíticos.
Um pouco de história
Durante suas primeiras décadas, a internet cresceu construindo a imagem de espaço de liberdade informacional, inovação, participação e democratização do conhecimento. Essa narrativa, difundida sobretudo entre países do Sul Global e do Ocidente, sustentava-se na promessa de uma governança aberta e plural, baseada em princípios democráticos e um arranjo multissetorial.
A internet não pertenceria a um único país ou grupos econômicos. Ela supostamente seria um novo ambiente de troca e de integração entre todas as comunidades e países. Na prática, de forma mais acentuada nos últimos 20 anos, essa visão revelou-se uma construção frágil, muitas vezes cínica.
Passados 30 anos, as camadas menos visíveis do ambiente digital global continuam sob o controle direto ou indireto de empresas majoritariamente sediadas nos EUA e dos fundos privados que as controlam — e esse domínio tem sido cada vez mais instrumentalizado como ferramenta de influência política e econômica.
O alinhamento de Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), Sam Altman (Open AI), Larry Elison (Oracle) e a integração de Elon Musk à máquina pública nos primeiros meses de governo Trump são símbolos dessa relação entre o poder econômico de empresas que atuam na arena digital com o poder político. Algo que sempre existiu, mas agora com nuances.
Estes grupos econômicos e suas relações com o governo poderiam ser, de maneira geral, divididos em três: os que aderiram plenamente ao governo por precauções regulatórias e contratos com o Departamento de Defesa (caso de Palantir e Anduril); o capital financeiro, que ligado ao segmento de criptomoedas e às chamadas small techs, buscam ganhos de curto prazo e controle nas decisões estratégicas; e empresas mais tradicionais, como Microsoft e IBM, que estão se mantendo mais equidistantes deste alinhamento por interesses geoeconômicos, que visam defender sua versão de soberania digital para garantir contratos em diversos países.
O que mudou nas últimas décadas, e o que torna este arranjo ainda mais estratégico, foi que os conglomerados que hoje conhecidos como big techs ultrapassaram sua vocação inicial, que era oferecer aplicações como redes sociais, comércio eletrônico ou mecanismos de busca e publicidade digital. Eles passaram a controlar a rede em um sentido amplo. Atualmente, além dos monopólios virtuais sobre conteúdo, essas empresas dominam cerca de 50% dos cabos submarinos do planeta e dois terços da oferta de serviços de nuvem – o verdadeiro coração do mundo digital.
Portanto, os riscos não estão apenas na nuvem, mas em todas as camadas da vida digital: nos servidores DNS, nos certificados de segurança, nos sistemas operacionais, nas redes de distribuição de conteúdo, nos provedores de inteligência artificial, nas plataformas digitais, e até nos dados e algoritmos que definem a tomada de decisão pública e privada. Um país que depende dessas estruturas sem qualquer controle efetivo está sempre a uma crise diplomática de perder sua autonomia funcional.
A soberania digital de grande parte do mundo está sequestrada e os mecanismos internacionais que deveriam garantir equilíbrio e participação não apenas falharam, como foram cooptados por interesses hegemônicos. No caso do Brasil, a situação é ainda mais delicada. Há debate público e escassa consciência social sobre essa dependência.
A armadilha do consenso
É nesse contexto que a disputa entre o WSIS+20 e o Pacto Digital Global da ONU, em curso há mais de quatro anos, se revela. Não como oposição de modelos, mas como reflexo das limitações políticas atuais. O modelo multissetorial, antes visto como antídoto contra a centralização estatal e a politização do ambiente digital, tem se mostrado cada vez mais vulnerável à captura por grandes atores econômicos e geopolíticos.
A promessa de pluralismo dissolveu-se em estruturas de decisórias dominadas por representantes de empresas transnacionais, think tanks financiados por grandes corporações e governos que falam em nome da “comunidade global”, mas legislam em benefício próprio.
Nesse formato, o multissetorialismo não fortalece a democracia. Ao contrário, enfraquece a capacidade de países em desenvolvimento de influenciarem os rumos da internet, ao diluir sua voz em fóruns onde o poder não se mede por votos, mas por lobby e presença institucional.
Por outro lado, o Pacto Digital Global — iniciativa que busca reposicionar a ONU como centro da governança digital — corre o risco de substituir um problema por outro: o controle da governança digital por um pequeno grupo de Estados. Se o multissetorialismo sofre com a captura privada, a governança puramente intergovernamental corre o risco de ser instrumentalizada por potências que controlam a infraestrutura digital e têm poder de veto dentro do sistema ONU, novamente favorecendo os Estados Unidos, e aprofundando os desequilíbrios de poder já existentes.
Nenhum desses modelos, como estão hoje, resolve o problema central: a ausência de soberania real dos países periféricos sobre seus ecossistemas digitais. Ambos ignoram a captura efetiva da governança da internet, que ocorre dentro das entidades que definem padrões e protocolos da rede e da web.
Neblina na nuvem
No caso do Brasil, a soberania digital deveria ser tratada como tema estratégico de Estado, sob pena de seguirmos sob como reféns. A dependência de serviços em nuvem de empresas como Amazon, Microsoft, Google e Oracle não é uma questão técnica ou econômica. Trata-se de um vetor de vulnerabilidade institucional.
Quando dados de órgãos públicos, sistemas de saúde, educação ou segurança estão hospedados em infraestruturas sujeitas a decisões judiciais ou executivas estrangeiras, o país perde o controle sobre sua própria funcionalidade. E tudo isso sob a falsa promessa de “nuvens soberanas”, expressão cooptada pelo marketing corporativo e vendida como autonomia, criando um mercado de uma suposta soberania comercializável.
E essa intervenção não é hipótese distante. Ficou evidente no caso de espionagem promovida pelos EUA e pelas big techs em 2013 e permanece atual. O caso recente do Tribunal Penal Internacional, que teve seus serviços de e-mail suspensos após uma sanção dos EUA, é um lembrete direto: a infraestrutura digital está geopolítica e juridicamente condicionada.
Depois disso, países como Alemanha, França, Holanda e Dinamarca estão revendo seus contratos com big techs ou substituindo seus serviços digitais por aqueles desenvolvidos na Europa ou pela comunidade de software livre. Por prevenção também, a própria Câmara dos Deputados dos EUA baniu o WhatsApp como serviço padrão para comunicações interpessoais ou de grupos por riscos à segurança.
Essa vulnerabilidade também está presente no plano técnico. O Brasil continua dependente de redes de distribuição de conteúdo e de provedores de DNS localizados em território estrangeiro. Das 1.530 locações que armazenam a lista telefônica global da Internet, os chamados 13 servidores-raiz, 84% (1.282) são operados por entidades dos EUA ou com sede naquele país. Os certificados de segurança utilizados em sites públicos muitas vezes são emitidos por autoridades certificadoras sujeitas à legislação norte-americana.
Em uma situação de tensão geopolítica, o país pode simplesmente se ver digitalmente paralisado, não por uma guerra cibernética, mas por decisões administrativas ou judiciais tomadas em Washington, Nova Iorque ou Sacramento.
Soberania à brasileira
A nova camada dessa dependência é a inteligência artificial – setor no qual o sequestro também já tem nome: IA soberana. É o que prega a principal fornecedora destes chips quando dialoga com mandatários. O Brasil utiliza modelos de linguagem e soluções algorítmicas produzidas majoritariamente no exterior, em sua maioria desenvolvidos sem transparência, sem acesso ao código-fonte e sem soberania sobre os dados.
Mais grave: esses sistemas são empregados em áreas sensíveis do governo, como educação, saúde, segurança pública e documentação oficial. Sem qualquer controle sobre vieses, lógicas internas ou critérios de decisão. A colonização digital brasileira já se converte em colonização cognitiva: um processo em que o país terceiriza não apenas sua infraestrutura, mas sua capacidade de interpretar e agir sobre o mundo.
A isso soma-se a fragilidade política interna. O Brasil ainda não trata a soberania digital como questão de Estado. A ausência histórica de uma política industrial robusta no setor de tecnologias emergentes, a desarticulação entre os poderes públicos e a hesitação diante de acordos internacionais que comprometem a autonomia tecnológica nacional evidenciam uma postura ainda subalterna.
Algumas boas notícias vieram com a Nova Indústria Brasil (NIB), o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), a Infraestrutura Nacional de Dados (IND) e a retomada do Comitê Interministerial de Transformação Digital (CIT-Digital) no ano passado – iniciativas que podem servir como base de coordenação, se houver continuidade política e fortalecimento institucional.
No plano internacional, o país continua preso à retórica da neutralidade, tentando agradar a todos, quando deveria estar construindo alianças estratégicas com países do Sul Global para reivindicar o fim do controle unilateral da internet, proteção às suas infraestruturas críticas e prioridade ao desenvolvimento tecnológico local e à soberania de dados. O alinhamento passivo às grandes potências digitais, sob a lógica do “consenso”, tem custado caro à nossa capacidade de autodeterminação.
Afirmar isso é dizer que uma organização social e uma big tech possuem o mesmo poder de barganha em uma mesa de negociações ou a mesma influência sobre os rumos regulatórios de um setor. E promover uma alteração estrutural nessa realidade se torna quase impossível uma vez que qualquer decisão só é aprovada por consenso e entre os votantes estão os próprios agentes que criaram as distorções que se pretende sanar.
A soberania digital não é uma abstração. É a base sobre a qual repousa a possibilidade de um país definir suas próprias prioridades, proteger seus cidadãos, promover justiça social e garantir sua autonomia política. Enquanto o Brasil continuar dependente de plataformas, servidores, algoritmos e normas que não controla — e que sequer compreende plenamente — estará permanentemente exposto à instabilidade, à coerção e à obsolescência estratégica.
O sequestro da soberania digital é real, contínuo e estruturado em escala global. Romper com ele exige muito mais do que boas intenções. Exige ação conjunta, investimento público, visão geopolítica e, sobretudo, coragem para contrariar os discursos dominantes que mascaram dependência com o nome de interdependência. Se não formos capazes de reconhecer isso agora, talvez não tenhamos tempo, ou meios, para reagir depois.
Sair desse imbróglio não será simples, mas é possível. Isso passa, em primeiro lugar, por reconhecer a soberania digital como tema central de Estado e, consequentemente, articular uma política industrial e tecnológica que vá além da retórica da inovação. É preciso investir na construção de infraestruturas, fomentar bases locais de produção de software e hardware e fortalecer alianças estratégicas com países do Sul Global em torno de padrões abertos, interoperáveis e com governança verdadeiramente compartilhada.
No plano normativo, o Brasil ainda precisa proteger juridicamente suas infraestruturas críticas, regular os algoritmos, portabilidade de contas e dados e conteúdos entre serviços digitais, definir a regulação econômica das plataformas e criar dispositivos legais que impeçam capturas de dados sensíveis. E, sobretudo, abandonar a neutralidade diplomática quando ela serve apenas para preservar desequilíbrios históricos. O futuro digital não será soberano por inércia. Ele será soberano por decisão e ação.
Germano Johansson é mestre em engenharia e em políticas públicas pela University of Southern California. Doutorando em Ciências Políticas na UnB e pesquisador no programa CyberBRICS do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, onde pesquisa soberania e governança digital
James Görgen é especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e membro suplente do Comitê Gestor da Internet no Brasil
[1] Veja aqui: https://www.euro-stack.info/ e https://eurostack.eu/
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras

