Crise civilizatória: A saída não está no Ocidente
Durante muito tempo, se tentou evitar a “queda do homem” a partir do mito de progresso civilizador, colocando o não-humano em segundo plano. E se a saída da agonia civilizatória, capaz de restaurar o humano, for abandonar sua dimensão mais egoica: o antropocentrismo?
Publicado 07/05/2025 às 19:42

Os ideais do Ocidente – uma vã tentativa de reparar a “queda do homem”
“Se alguma coisa pode definir ‘o Ocidente’,
é a busca da salvação na história.
O que distingue a civilização ocidental
de todas as outras é antes a teleologia histórica
– a crença de que a história tem
uma finalidade ou meta intrínseca –
do que as tradições de democracia e tolerância.”
(John Gray)
“O Ocidente busca em vão uma forma
de agonia digna de seu passado.”
(Emil Cioran)
Após esse longo período de permanente conflagração do tempo dos impérios, que tratamos no texto anterior, resultante da expansão da nova sociabilidade patriarcal, ocorrida na antiguidade, foi que afloraram os ideais do Ocidente. Foi o momento em que gregos, fenícios e judeus romperam com o entendimento cíclico sobre o mundo e passaram a direcionar os desejos humanos para a razão, a metafísica, a ação e a permanente busca do novo, todos convergindo para a necessidade de progresso, como meio de alcançar uma redenção humana na História, face à destrutividade vivenciada no tempo da Ordem Imperial. Foi nesse contexto que irrompeu o ideal greco-judaico que orientou o turbulento processo civilizatório do Ocidente, tendo alcançado uma escala planetária no final do século passado, com a expansão da sociabilidade mercadológica, por meio do fenômeno da globalização, que exportou o modo de viver ocidental para todos os rincões do planeta.
Assim como as religiões monoteístas, a filosofia e sua necessidade de afirmar a Razão como elemento fundante da existência do Ser e do Universo parece ter se tornado um dos principais sintomas da inquietação humana após a profunda desintegração civilizatória causada pelas expansões kurgan na Europa Antiga, conforme abordado no texto anterior. O filósofo Bertrand Russell, ao escrever os três volumes do seu abrangente livro História da Filosofia Ocidental (1945), que lhe rendeu um Nobel de Literatura em 1950, parece ter intuído o quão conflituosa é a filosofia elaborada pelos gregos, que sustenta o modo de pensar do Ocidente. Dizia ele: “a filosofia, conforme entendo a palavra, é algo intermediário entre a teologia e a ciência. (…) Mas entre a teologia e a ciência existe uma Terra de Ninguém, exposta aos ataques de ambos os campos: essa Terra de Ninguém é a filosofia.”
Para os ideais greco-judaicos e seus sucedâneos romano-cristãos – que nunca se harmonizaram e, mesmo assim, sustentaram a dinâmica do Ocidente por mais de 3 mil anos – só existem duas lentes a partir das quais o mundo humano é percebido e, sobretudo, moldado:
1) a teológica, orientada pelos dogmas da fé, que atribui o infortúnio humano ao “pecado original”, resultante do desfrute da “árvore do conhecimento do bem e do mal”, imperfeição a ser sanada com o retorno de um Salvador. Uma perspectiva que, inclusive, tem sua vertente filosófica que se dedica à justificação e à epistemologia da crença na existência de Deus.
2) e a teleológica, influenciada pela crença num Télos guiado pela Razão, para a qual só o remédio do Estado hobbesiano (seja ele liberal, marxista, ou mesmo transumanista) poderá, progressivamente, curar os males humanos e, um dia, alcançar o Fim – ou seja, civilizá-los. Télos este que, pelo menos nos últimos 200 anos, está orientado pela Razão econômica, tão bem desmitificada pelo filósofo André Gorz.
A perspectiva teológica certamente irrompeu primeiro e, assim, talvez tenha contribuído para forjar e reforçar a perspectiva teleológica. O Ocidente tem seus primórdios vinculados ao nascimento do judaísmo, dezoito séculos antes da Era Cristã, conforme consta nos registros do Gênesis, no primeiro livro do Pentateuco, que narra o longo périplo que vai desde uma suposta criação do mundo, passando por Abel, Noé e Abraão, até a partida de José para o Egito, isto é, desde o presumido nascimento do homem para a liberdade até a sua expulsão do Jardim do Éden, quando se instala a tragédia da sua escravidão.
Esse momento inicial do judaísmo parece ter sido um dos principais gatilhos que desencadeou o processo de criação de uma nova visão de mundo que parece ter sedimentado irremediavelmente a separação Homem e Natureza, como bem relatou o escritor francês Jacques Attali no livro Os judeus, o dinheiro e o mundo (Futura, 2002), uma das mais completas e consistentes obras acerca dos três mil anos da conflituosa e sofrida história das intermináveis peregrinações do povo judeu. Vale frisar aqui que, segundo o longo relato registrado nas 646 páginas desse livro, a íntima relação dos judeus com a atividade comercial parece ter sido fruto de uma imposição por sobrevivência diante de circunstâncias de vida sempre muito adversas. Attali destaca essa profunda ruptura cultural na seguinte passagem:
“Pela primeira vez, uma cosmogonia não se vê como cíclica: não fixa como seu alvo o retorno da mesma coisa. Ela estabelece um sentido para o progresso; faz da Aliança com Deus a flecha do tempo; atribui ao homem a escolha de seu destino: o livre-arbítrio. Assim é colocada a função da economia: quadro material do exílio e meio de reinvenção do paraíso perdido. Doravante, a humanidade tem um objetivo: superar seu erro. Ela dispõe de um meio para alcançá-lo: fazer o tempo frutificar.
Mas, conta o Gênesis, tudo perde o rumo, geração após geração. Em vez de trabalharem para reinventar um novo Jardim da Delícias, os homens afastam-se dele por seus conflitos e ambições.”
A partir de então, foi nesse compasso que sempre predominou uma visão de cunho teológico de que, após o ser humano ter experimentado da Árvore do Conhecimento, ele se viu expulso do paraíso e condenado a ter que prover seu sustento pelo trabalho incessante, normalmente em prol dos privilégios de uma minoria. Combinada também com visões teleológicas (a ideia de que a história tem uma finalidade) e escatológicas (e também terá um fim) por trás das crenças milenaristas (a convicção de que o tempo é linear e, portanto, a história é regida por um Princípio e um Fim), o animal humano passou, assim, a ter que suportar uma vida irremediavelmente conflituosa como preço de uma longa espera por redenção, em algum lugar no futuro. Daí em diante, o mundo humano, dito “civilizado”, fragmentou-se entre classes sociais, étnicas e religiosas, tornando-se um permanente e inesgotável palco de guerras, massacres, genocídios e destruições.
Paralelamente ao alvorecer das religiões monoteístas, os primeiros esboços de uma filosofia sobre a existência e o funcionamento do mundo nascia no Antigo Egito e na Mesopotâmia, entre 3.000 a 1.200 a.C.. Por volta do século VI a. C., uma explosão criativa ocorre na Grécia Antiga e uma filosofia do Ocidente começa a ser formulada pela inventividade de alguns notáveis gregos, que vai de Tales de Mileto a Aristóteles, tendo inspirado todo o chamado período helenístico. Posteriormente, expoentes como Santo Agostinho promoveram a fusão do cristianismo com o neoplatonismo, que influenciou o longo período medieval. Nessa esteira, muitas outras correntes de pensamento, como a retomada renascentista que projetou a supremacia europeia sobre o resto do mundo, o racionalismo (de Descartes, Bacon, Leibniz, Hegel e tantos outros), o positivismo (de Henri de Saint-Simon e Auguste Comte), o iluminismo (de Voltaire a Lenin), e mais recentemente, o transumanismo que emanou do Vale do Silício nos anos 1980, foram determinantes para conservação do interminável projeto de aprimoramento da condição humana.
Foi nessa cadência que o mito do progresso, ideal-mestre do Ocidente, capturou a imaginação humana sempre em busca de um Novo Homem e de um Novo Mundo, racionalizado e livre das supostas imperfeições e impurezas da natureza humana. Talvez imaginando ser possível, nesse ritmo, reparar a “queda do homem”, esse ideal de progresso acabou por ampliá-la e fortalecer cada vez mais o padrão cultural de convivência patriarcal, com uma visão hierarquizada e fragmentada do mundo, por meio da sofisticação dos seus instrumentos de apropriação, domínio e controle da realidade.
O “espírito do tempo” e sua ambígua seta do aprimoramento civilizatório
Todos os experimentos do Ocidente visando conter o conflito humano fracassaram e sucumbiram, deixando para trás um incalculável rastro de destruição de recursos naturais e de vidas humanas. Foi assim com o cristianismo e, na sequência, com o secularismo dos Estados-nação. Já está sendo assim neste turbulento início do século XXI com o mercado transumanista, o novo Leviatã emergente patrocinado pelo neoliberalismo totalizante (que sob a tutela do deus-mercado está desconstituindo o Estado-nação) iniciado nos anos 1970. Felizmente, esse ideal de moldar as realidades segundo uma imagem de mundo ocidental é uma quimera irrealizável.
Concomitantemente a esses eventos fundantes do mundo ocidental, surgiram a ciência e o ideal de democracia, os únicos vetores cognitivos de natureza não-patriarcal que ainda conseguem fazer algum contraponto ao avanço da normalização da apropriação patriarcal levada a cabo pela filosofia ocidental, como identificou o neurobiólogo chileno Humberto Maturana, nos seguintes termos:
“A ciência e a filosofia como modos diversos de lidar com o objeto surgem junto com a democracia, no processo que dá origem ao emocionar da objetivação. Contudo, como tanto a democracia quanto a ciência são rupturas matrísticas da rede de conversações patriarcais, ambas enfrentam uma contínua oposição patriarcal. Esta as destrói totalmente, ou as distorce, submergindo-as numa classe de formalismo filosófico hierárquico.”
A história da filosofia mostra, portanto, que o Ocidente é o resultado das ideias de homens que, influenciando-se e contrapondo-se uns aos outros, presos à teia recursiva da cultura patriarcal europeia, tentaram moldar a realidade segundo suas cosmovisões e, assim, deixaram um enorme legado de ideologias e estruturas que sustentam e movimentam, até hoje, a engrenagem da conflituosa história ocidental. Inclusive, a natureza patriarcal implícita na filosofia (e, sobretudo, nas religiões monoteístas), torna-se autoevidente também pelo fato de quase não existirem mulheres entre os grandes insignes da intelectualidade do Ocidente. O homem (com a mulher em um plano inferior e subserviente) tornou-se “a medida de todas as coisas”, como vaticinou o filósofo grego Protágoras (490 a. C.).
O animal humano, mesmo com o esforço dos ideais greco-judaicos de conceber por meio da filosofia e da religião um ethos amparado numa suposta ordem racional existente no mundo, que pudesse reparar a sua “queda”, parece ter ampliado ainda mais seu afastamento da Natureza, isolando-se irreparavelmente do seu verdadeiro lugar no mundo natural. O escritor britânico John Gray sintetizou bem esse dilema quando disse: “Se você busca as origens da ética, olhe as vidas de outros animais. As raízes da ética estão nas virtudes animais. Os humanos não podem viver bem sem as virtudes que partilham com seus parentes animais.”
O Ocidente é, portanto, o conjunto de ideais que deu um significado e moveu o mundo humano em direção a uma suposta necessidade de aprimoramento civilizatório, para escapar da insuportável barbárie que configurou o longo período das conquistas kurgan responsáveis pela destruição das culturas originárias em vastas regiões no entorno do Mediterrâneo, por impérios que se digladiavam permanentemente entre si. O Ocidente, e apenas ele, tornou-se o motor e o “espírito da história”, confirmando o postulado de Hegel: “a história universal vai do leste para oeste, pois a Europa é o fim da história universal, e a Ásia é o começo”. Uma ironia da complexidade do real, Hegel identificou a seta do aprimoramento civilizatório seguindo de leste para oeste, contrária aos atributos de uma realidade que sempre apontou mais para o Oriente do que para o Ocidente. Hegel na verdade foi assertivo em sua representação fiel sobre a rota regressiva de um Ocidente guiado pela apropriação, cada vez mais distante de um Oriente que buscou libertar o homem da impossibilidade do apoderamento e do domínio da realidade.
Talvez tenha chegado o momento de encerrarmos essa marcha da insensatez, já que o sonho do Ocidente exauriu não só todas as suas possibilidades de realização na História como está exaurindo a própria História. A propósito, vale lembrar outro elucidativo insight de Gray, para quem “a história das ideias obedece à lei da ironia”. Diz ele: “Hegel escreve em algum lugar que a humanidade só se contentará quando estiver vivendo num mundo construído por si mesma. Ao contrário, argumento a favor de uma mudança que se afaste do solipsismo humano. Os humanos não podem salvar o mundo, mas isso não é razão para desespero. Ele não precisa de salvação. Felizmente, os humanos nunca viverão num mundo construído por si mesmos.”
A irrupção da cultura de dominação patrocinada pelas ondas de expansão kurgan, e o posterior nascimento do ideal do Ocidente, não foram o resultado de um ato deliberado da vontade humana ou um mero acaso fortuito da evolução e sim uma possibilidade, dentre infinitas, que encontrou as circunstâncias favoráveis à sua emergência, conforme explicado no texto anterior. As cosmovisões do Oriente, guiadas pela recusa do desejo (mitos contemplativos dos sânscritos Upanishads), praticamente foram engolidas pelas do Ocidente, que se aferrou ao desejo como motor da História (mitos dominadores da epopeia de Gilgamés). Como bem intuiu o desesperançado Emil Cioran: “O Oriente se interessou pelas flores e pela renúncia. Nós lhe opomos as máquinas e o esforço, e esta melancolia galopante – último sobressalto do Ocidente.” Estamos na verdade perdendo aquele Oriente cujo atributo era neutralizar o Ocidente, mostrando aos homens que há vida além da apropriação.
História e Civilização: vetores de conservação do mundo ocidental
O Ocidente é a tentativa, sempre recorrente e frustrada, de moldar a História e a Civilização segundo uma visão dominadora e hierárquica de mundo, um projeto que já perdura por mais de três mil anos; uma meta irrealizável, pois não tem lastro na complexidade do mundo real. Ele está refletido nas muitas formas de dominação e controle da realidade que a humanidade já experimentou sob sua tutela e que forjaram a noção de História. O Ocidente foi o período helenístico moldado pela cultura grega. O Ocidente foi o cristianismo que governou o mundo de Constantino até a Revolução Francesa. O Ocidente foi o Estado-nação secularizado – o sonho iluminista de criar um “Estado da Razão” – que fatiou o planeta em unidades soberanas altamente militarizadas, desde o império napoleônico até o hoje decadente império americano. O Ocidente é a atual fantasia da construção de um novo mundo multipolar, que se pretende democrático, multicultural e pacificado, sob os ditames da lógica do novo capitalismo de hipervigilância. Enfim, o Ocidente é o perene conflito humano, em andamento desde a sua “queda”.
O conflito humano é tão constitutivo do processo histórico que a própria noção de História, enquanto importante ramo da ciência, nasce com os historiadores gregos Heródoto e Tucídides, cujas principais obras são, respectivamente, o registro das Guerras Médicas entre Grécia e Pérsia (499–449 a.C.) e da Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta (431 a 404 a.C.). Até mesmo antes de Heródoto, por volta de 850 a.C., o conflito humano já estava posto no que é considerado o primeiro e principal relato mitológico da condição humana, a Guerra de Tróia registrada nos poemas épicos de Homero.
Daí em diante, não só os acontecimentos mais relevantes da História, mas também os principais marcos que delimitaram a sua progressão em etapas históricas (periodização da História), estão invariavelmente atrelados aos mais agudos conflitos da humanidade. É o caso, por exemplo, da Guerra dos Cem Anos entre Inglaterra e França (1337-1453), que marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e da sangrenta Revolução Francesa (1789), que inaugurou a atual Idade Contemporânea. Como bem identificou Hobsbawm, “a história é o registro dos crimes e loucuras da humanidade”. E não poderíamos esperar algo diferente se a cultura que permeou toda a trajetória humana nos últimos seis mil anos foi a cultura patriarcal europeia, seguida e reforçada pelos ideais do Ocidente. No fundo, essa periodização clássica (eurocêntrica) que se estabeleceu da História se parece mais com uma representação digna dos progressivos saltos que o Ocidente deu para sedimentar a sua cultura de apropriação e autodestruição.
Já a consciência da ideia de Civilização emergiu bem mais tarde do que a noção de História. O sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990) foi talvez quem melhor identificou, num abrangente estudo condensado em dois volumes (O processo civilizador, 1939), os mecanismos de “controle social” e “autocontrole” que induziram o comportamento humano e forjaram o longo processo civilizador. Para Elias, o processo civilizatório teve uma primeira fase inconsciente que ele chama de “fase primitiva” e que durou até o final da Idade Média. Foi só em 1530 que o termo Civilização surgiu, intimamente vinculado ao contexto de formação do Estado, por meio da obra De civilitate morum puerilium (Da civilidade em crianças), escrita pelo teólogo e filósofo humanista Erasmo de Roterdã, que teve enorme repercussão à época. “A ideia de civilização”, diz Elias, “expressa a consciência que o Ocidente tem de si mesmo”. Ou seja, o processo civilizador é a marcha expansiva e irrefreável dos ideais do Ocidente, oriundos dos ideais greco-judaicos – em especial o mito do progresso – que emergiram nas cercanias do Mediterrâneo por volta de doze séculos antes de Cristo.
Elias chega à conclusão de que “só quando as tensões entre e dentro de Estados forem dominadas é que poderemos esperar nos tornar mais realmente civilizados.” O processo civilizador está, portanto, intimamente vinculado à premissa de que foi com a formação e o amadurecimento do Estado secular que se conseguiu melhorias na condição humana. De fato, foi por meio do Estado, entidade detentora da soberania e do monopólio da força, que as pulsões de morte que marcaram a chamada Idade das Trevas (séculos IV a XVI) foram atenuadas, pelo menos até a época em que Elias publicou sua obra, em 1939.
No entanto, após a inaudita escalada de guerras e genocídios patrocinados por agentes do Estado, a partir do segundo quartel do século XX, seguida do neoliberalismo totalizante que aflorou nos anos 1980, também patrocinado pelo Estado, não poderíamos ratificar a validade dessa premissa agora neste início do século XXI, em que, com a expansão do capitalismo financeiro impulsionado pelos avanços tecnológicos, o Estado-nação vem sendo gradualmente desconstituído face à sua absorção pela dinâmica tecnomercadológica, hoje globalizada, que ignora fronteiras, democracias, diplomacias, direitos humanos e limites ambientais.
Ainda é possível a emergência de uma nova ruptura cultural, agora restauradora?
Olhando para o Ocidente a partir da perspectiva aqui adotada, podemos identificar na longa história de 300 mil anos do Homo sapiens pelo menos três fases culturais distintas e interligadas, que demonstram como o modo humano de perceber e se relacionar com o mundo pode estar suscetível a profundas rupturas culturais. São elas:
1) o viver matrístico, que provavelmente teria prevalecido em 98% do tempo da longa história do Homo sapiens. Sua sociabilidade estava centrada numa cooperação não-hierárquica, herdada de suas ancestralidades, repassada de geração em geração, em que o viver se sustentava na legitimidade do outro (os eventuais conflitos patriarcais certamente existiam, mas não constituíam a regra, e sim a exceção) e na integração com o contínuo transformar da natureza (o que Maturana chamou de “biologia do amor” – o legítimo outro na convivência), que talvez corresponda à nostálgica lembrança do Jardim do Éden, criada pela tradição judaica. Até então não havia muitas diferenças comportamentais entre os primatas hominídeos e os demais animais que coabitavam o planeta.
2) o viver patriarcal europeu, a partir da ruptura cultural possivelmente causada pelas invasões kurgan, referentes às migrações indo-europeias dos povos pastores guerreiros vindos do Leste, há cerca de sete ou seis mil anos – que corresponderia à “queda do homem” relatada pelas religiões abraâmicas –, na qual sobreveio a sociabilidade de dominação em que o viver humano passou a se sustentar na negação do outro e no domínio da natureza, reforçando a percepção hobbesiana de que estaríamos, desde sempre, condenados a uma de vida “solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta” (Thomas Hobbes, em Leviatã, de 1651).
3) o viver patriarcal ocidental, no qual, após o quase total apagamento das vivências, símbolos e rituais que caracterizavam as cosmovisões associadas às culturas matrísticas pré-patriarcais da Europa Antiga, passou a vigorar o entendimento de que o homem é um ser que precisa progredir de sua suposta infância bárbara e selvagem para uma vida dita civilizada. Irrompe o ideal do Ocidente – o ideal greco-judaico, por volta de 1.300 anos a. C., na tentativa de dar uma explicação racional e transcendente à lógica da dominação, da apropriação e da hierarquia (o termo vem do grego hiero + arquia, “governo sagrado”) já instalada pelo viver patriarcal europeu e, assim, impor uma ordem ao mundo por meio de domínios e controles subjetivos, adotados sobretudo nos âmbitos da religião e da filosofia. Estamos até hoje aprisionados a esta fase da cultura ocidental e, provavelmente, a ela ainda ficaremos submetidos pelas próximas décadas. A questão agora é saber se sairemos (e como sairemos) desta fase que tem se revelado terminal para a humanidade.
Os ideais do Ocidente podem representar, considerando essas três longas gradações culturais, uma resposta ao insuportável viver patriarcal europeu, uma forma de superação para escapar da suposta agressividade inata do homem hobbesiano, pressuposto sob o qual se assenta a visão de mundo ocidental. O condicionamento cultural a esse ideário é tão forte que mesmo aqueles momentos mais agudos do curso civilizatório não foram suficientes para frear e reverter esse processo de teologização e racionalização do mundo humano. Três exemplos bem representativos dessa prisão cognitiva foram: o desastroso século XIV (só a Peste Negra, herdada da ignorância que reinava na Idade Média, e as invasões mongóis dizimaram metade da população da Europa e 2/3 da população da China, respectivamente); o trágico século XX (duas guerras mundiais e os muitos totalitarismos de Estado eliminaram entre duas e três centenas de milhões de pessoas); e, agora, este agônico século XXI, que já nasce marcado pelo colapso ambiental e pela ameaça das conflagrações nuclear e algorítmica. Esses exemplos históricos demonstram por si só que o projeto do Ocidente é não só um absurdo irrealizável, mas a engrenagem que arrastará a humanidade para a sua autodestruição.
Uma das reflexões que tem ocupado muitos analistas geopolíticos diante dos eventos globais disruptivos desse primeiro quarto do século XXI é a ideia de que o Ocidente está num irrefreável declínio, referindo-se especialmente aos países que abraçam o Atlântico e que sempre dominaram e moldaram os rumos da civilização, desde o império Persa (550-330 a.C.) passando pelo Romano (27-395 d.C.), Sacro Império Romano-Germânico (800-1806), Britânico (1583–1783) e agora o decadente império Americano (1803-2001). Os liberais que se situam no campo mais à direita do espectro político observam este fenômeno com bastante preocupação, pois não conseguem conceber a continuidade do instável curso civilizatório que não seja guiada por uma nação hegemônica que faça o papel de policial do mundo e, assim, continue assegurando a ilusória ideia-força da salvação pelo progresso, principal atributo do Ocidente, refletida na visão tecnoeconômica de mundo dominante. Já aqueles do campo das esquerdas tendem a celebrar o fim da hegemonia estadunidense, apostando que uma nova ordem multipolar, mais democrática, tolerante e pacificada, estaria sendo gestada pela expansão dos novos mercados emergentes sob a tutela dos BRICS, liderados pelo avanço Russo-Chinês, como saída redentora para o fim dos hegemonismos e para o alcance de uma desejada emancipação humana, agora em escala planetária.
No entanto, o fluxo dos cada vez mais conturbados acontecimentos geopolíticos em andamento tem demonstrado que esse já celebrado mundo multipolar talvez não se revele o mar de rosas que poderá encerrar as agonias dos ideais do Ocidente. Como bem advertiu, recentemente, o filósofo político britânico John Gray, é recomendável ter cautela no experimento Russo-Chinês, uma vez que “tanto a China quanto a Rússia – rivais declaradas do Ocidente – são governadas por ideias que derivam de fontes ocidentais.” Na verdade, o Ocidente parece bem próximo de alcançar o seu paroxismo neste primeiro quarto do século XX. A humanidade está adentrando na fase mais fúnebre do Ocidente, como bem observou Gray: “embora o liberalismo ocidental possa estar em grande parte extinto, as ideias ocidentais iliberais estão moldando o futuro. O Ocidente não está morrendo, mas vivo nas tiranias que agora o ameaçam. Incapazes de compreender essa realidade paradoxal, nossas elites ficam olhando fixamente enquanto o mundo que consideravam natural desliza para as sombras.”
Essa multipolaridade, que foi desencadeada após o fim da Guerra Fria (1947-1991) e da colossal ilusão do Fim da história (Queda do Muro de Berlim, em 1989, e dissolução da União Soviética, em 1991), é configurada por uma desorientação global sem nenhuma perspectiva de consenso civilizatório e está refletida nos crescentes distúrbios climáticos e convulsões geopolíticas e geoeconômicas das três últimas décadas. Para quem ainda consegue nutrir uma visão otimista de futuro, esse instável mundo multipolar provavelmente será só uma fase transitória para uma ruptura civilizatória que possa nos desviar do colapso. Mas a verdade é que as consequências dessa transição ainda são muito desconhecidas. O máximo que se pode afirmar é que ela se consumará, com ou sem a humanidade, talvez ainda neste imponderável século XXI.
É preciso agora, portanto, apostar numa nova emergência, a possibilidade de ruptura civilizatória que possa nos desviar do colapso socioambiental e das ameaças nuclear e tecnológica. Se queremos ter um futuro reconhecível, devemos abrir mão dos ideais do Ocidente que alimentam e amplificam nossa dimensão egoica. Não temos muitas escolhas diante do abismo civilizatório que se avizinha. Ou sucumbimos junto com o Ocidente, que já se encontra numa avançada fase agonizante, ou abrimos mão de seus ideais antrópicos e restauramos as ancestralidades que permitiram aos hominídeos coabitarem a Terra por milhões de anos.
Democracia, alteridade e tolerância – “cunhas” restauradoras do humano
Se a longa evolução dos primatas hominídeos que deram origem ao humano datam de milhões de anos, sem que tenha havido uma ruptura cultural similar à que pode ter ocorrido no neolítico (considerando a hipótese das invasões kurgan, sustentada por Maturana, Gimbutas e outros), o brevíssimo tempo de aproximadamente seis milênios da cultura europeia de apropriação e dominação, que forjou a ilusão do Ocidente de moldar o mundo segundo seus ideais greco-judaicos, é insignificante demais para imaginarmos que temos algum privilégio evolutivo ou divino. Portanto, é uma miragem conceber que alcançaremos algum Télos ou alguma redenção dos males causados pelo conflituoso modo de viver ocidental, cujo tempo de duração é inexpressivo diante dos milhões de anos de formação do humano.
Nessa perspectiva, parece mais razoável pensar que a humanidade é, mais do que qualquer outra coisa, um conceito antropocêntrico, criado e alimentado no curso do longo sonho Ocidental. No âmbito da teologia, a humanidade está atrelada à existência de Deus, a partir da qual ela foi divinizada. No âmbito da teleologia, a humanidade está associada a uma suposta natureza humana racional, com um Fim em si mesma. Tudo o mais que compõe o universo ficou em segundo plano, a serviço dessa “humanidade”, que, inclusive, opõe radicalmente a condição humana à sua inarredável condição animal, como bem ressaltou o antropólogo francês Edgar Morin: “a disjunção homem/animal é tão profunda em nossa cultura que esquecemos que somos ao mesmo tempo e indissoluvelmente animais e humanos.”
Daí o nosso profundo condicionamento cognitivo ao antropocentrismo gerado no seio dos ideais do Ocidente, que estão nos arrastando para o abismo. Portanto, precisamos de uma nova metamorfose cognitiva para podemos restaurar nossa ancestralidade perdida. Por isso, vale apostar que o ocaso do Ocidente neste século XXI e as mudanças culturais nele implicadas podem representar a derradeira fase do desvio da cultura patriarcal europeia, o encerramento de seis milênios de agonia ocidental e o retorno ao curso natural da complexidade do real, que é cooperativa, consensual, adaptativa e não-hierárquica.
Mas há brechas que podem sugerir que há uma possibilidade, ainda que muito improvável, desse retorno ancestral. Os ideais de democracia, alteridade e tolerância, embora conceitualmente desenvolvidos e experimentados no curso do projeto civilizador do Ocidente – uma vez que constituíam o fundamento-guia da cidade-estado (ou da pólis), do cristianismo e do liberalismo, respectivamente –, nunca fizeram parte dos seus atributos. Eles representam apenas uma nostalgia do modo de viver em coexistência observado nas culturas matrísticas pré-patriarcais da Europa Antiga, como sustentava Maturana: “acredito que essa nostalgia pelo respeito recíproco constitui o fundamento emocional do qual surgiu a democracia na Grécia, como uma cunha que abriu uma fenda em nossa cultura patriarcal”.
A democracia ateniense, a alteridade cristã e a tolerância liberal emergiram em oposição à cultura patriarcal ocidental, que passou a aceitá-las, porém dentro da sua lógica de apropriação e dominação, isto é, limitando-as, negando-as e, nos momentos de profunda agonia civilizatória como o atual, suprimindo-as, por meio das conversações patriarcais recorrentes (que valorizam a guerra, competição, luta, hierarquias, autoridade, poder, procriação, crescimento, controle e outras formas de apropriação), que moldam o modo de vida do mundo ocidental. Vale lembrar que, segundo Maturana, “conversações são redes de coordenações de coordenações comportamentais consensuais entrelaçadas com o emocionar”.
Portanto, no atual momento agônico em que a humanidade ingressa numa crise existencial, decorrente desse longo processo de embate Homem versus Natureza, patrocinado pelos ideais ocidentais, é preciso vislumbrar a possibilidade de encerrar esse longuíssimo condicionamento cognitivo para frearmos o colapso socioambiental iminente. Isso só será culturalmente possível, se restaurarmos as conversações (entrelaçamento de emoções e linguagens que sustentam uma cultura e seu modo de viver) que reforçam a democracia, a alteridade e a tolerância, desapropriando-as dos ideais ocidentais. Por isso, precisamos de transformações culturais numa perspectiva de restauração e não de salvação pela apropriação como sempre fez o Ocidente.
Impõe-se, assim, apostarmos que o ciclo anti-vida do Ocidente se encerrará antes que ele arraste consigo as sociedades e todas as formas e condições de vida e habitabilidade planetária que ainda nos sustentam. Por isso, como não é possível antever se restará humanidade após esse irrefreável decesso do Ocidente, talvez seja pertinente não considerar a cautela ocidental de aguardar o voo crepuscular da Coruja de Minerva e sim antecipar autópsias como esta que possam alertar da premente necessidade de substituirmos a fantasia da salvação ocidental pela sensatez da restauração das nossas ancestralidades. Parece residir nisso – e talvez somente nisso – a nossa, ainda que muito remotíssima e imponderável, possibilidade de futuro.
Teremos a necessária abertura cognitiva e, sobretudo, tempo para tal restauração cultural?
“Todos nós saboreamos o mal do Ocidente.
Sabemos demasiado da arte, do amor, da religião,
da guerra, para acreditar ainda em alguma coisa;
e depois, tantos séculos foram gastos nisso…
A época do acabamento na plenitude está terminada.
A matéria dos poemas? Extenuada.
Amar? Até a plebe repudia o “sentimento”.
A piedade? Esquadrinhe as catedrais.
Nelas só se ajoelham os ineptos.
Quem ainda deseja combater? O herói está superado;
só a carnificina impessoal continua na moda.
Somos fantoches clarividentes,
capazes apenas de fazer caretas ante o irremediável.
O Ocidente? Um possível sem futuro.”
Emil Cioran (1952)
NOTA: Registro aqui meu agradecimento aos colaboradores do Outras Palavras, o pacifista Ruben Bauer Naveira e o pesquisador da Unicamp Luiz Marques, que se dispuseram a fazer uma leitura preliminar deste texto, cujo tema é muito abrangente e controverso. Suas impressões, mesmo com alguma divergência, foram muito úteis.
Leitura recomendada
ATTALI, Jacques. Os judeus, o dinheiro e o mundo. Rio de Janeiro: Record, 2001.
ATTALI, Jacques. Uma breve história do futuro. São Paulo: Novo Século Editora, 2008.
ATTALI, Jacques. 1492: os acontecimentos que marcaram o início da era moderna. São Paulo: Novo Fronteira, 1992.
BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a história. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.
BRAUDEL, Fernand. História e ciências sociais. A longa duração. In: Revista de História, Vol. 30, nº 62, abril-junho, 1965.
CIORAN, E. M. História e utopia. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 2011.
CIORAN, E. M. Silogismos da Amargura. Lisboa: Letra Livre, 2009.
EISLER, Riane. O cálice e a espada: nosso passado, nosso futuro. São Paulo: Palas Athena, 2007.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: formação do estado e civilização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.
GEE, Henry. Uma história (muito) curta da vida na Terra: 4,6 bilhões de anos em doze capítulos. São Paulo. Fosforo Editora, 2024.
GRAY, John. A anatomia de Gray. Rio de Janeiro: Record, 2011.
GRAY, John. Missa negra – religião apocalíptica e o fim das utopias. Rio de Janeiro: Record, 2008.
GRAY, John. The new leviathans – thoughts after liberalism. London: Allen Lane, 2023.
MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da Unicamp, 2018.
MARQUES, Luiz. O decênio decisivo: propostas para uma política de sobrevivência. São Paulo: Editora Elefante, 2023.
MATURANA, Humberto R. Conversações matrísticas e patriarcais. In: ______; VERDEN-ZÖLLER, G. Amar e brincar: fundamentos esquecidos do humano. São Paulo: Palas Athena, 2004.
MATURANA, Humberto R. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.
MORIN, Edgar. Rumo ao abismo? Ensaio sobre o destino da humanidade. Rio de Janeiro, Brasil: Bertrand Brasil, 2010.
RUSSELL, Bertrand. História da Filosofia Ocidental. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1957.
RUSSELL, Bertrand. História do Pensamento Ocidental. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.
SCHOPENHAUER, Arthur. O mundo como vontade e representação. São Paulo: Editora UNESP, 2005.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


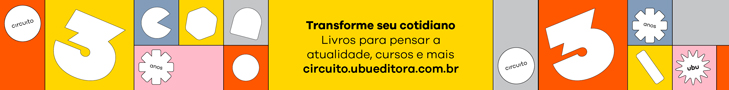
Parabéns pelo esforço de fazer uma necessária abordagem do todo. Porém, se me permite, uma abordagem ainda demasiado julgadora, ou seja, ela é presa dos efeitos do fruto da “árvore do conhecimento do bem e do mal”, que nos trouxe discernimento, mas nos tornou cegos para o todo buscafo, onde reside a “verdade”, que está além da mera compreensão racional.
O ser humano nunca decidiu nada, foi conduzido por forças que ignora, para um ponto que ignora. Logo, não é culpado nem meritório de nada. Só poderá se colocar a cavaleiro do processo histórico quando olhar para ele sem julga-lo, de modo a compreende-lo num sentido que vá além da mera compreensão da racionalidade presente, que não é a única possível. “É possível o caminho seguro de uma ciência para a metafísica?”. E “o que é metafísica” afinal? Essa é a questão. Mas dois dos essenciais que vc não citou foram justamente Kant e Heidegger, se li direito.
Fantástico seu trabalho! Parabéns pela lucidez!
Tu só fala merdA