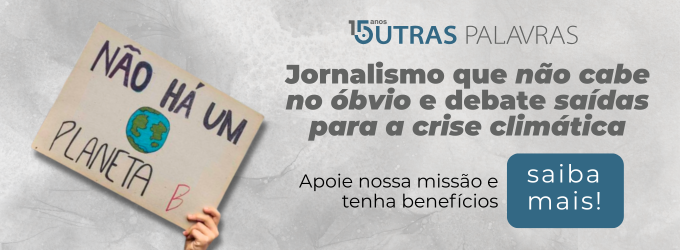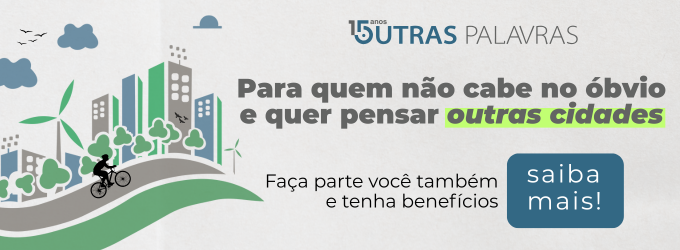Balanço da tragédia no RS, um ano depois
São 2,3 milhões de atingidos. A maioria, empobrecidos. Terras de indígenas flagelados foram invadidas. O impacto sobre os não-humanos ainda é pouco falado. Mas negacionismo sofreu derrota: hoje, 70% da população acredita que a tragédia foi fruto da crise climática
Publicado 28/04/2025 às 19:04 - Atualizado 28/04/2025 às 19:34

27 de abril de 2024 – o estado do Rio Grande do Sul, localizado ao extremo sul do Brasil, fazendo fronteira com Argentina e Uruguai, foi invadido por uma forte onda de chuvas. A primeira região afetada foi a de Santa Cruz do Sul, localizada no Vale do Taquari, já fortemente afetada por eventos climáticos em 2023. Aquilo que parecia um evento recorrente daquela região foi se alastrando por todo o estado. No dia 29 de abril, a chuva ganhou força e alagamentos, enxurradas e inundações passaram a afetar praticamente todo o estado, chegando à capital, Porto Alegre. Em seis dias foi registrada uma média de 500 a 700 mm de chuvas. Em algumas regiões, esses poucos dias acumularam 1.000 mm de chuva, o que corresponde a cerca de 30% do esperado para um ano inteiro. No dia 1º de maio já havia mais de 100 municípios atingidos. As inundações afetaram pelo menos 298 municípios, o que representa mais de 90% do estado e uma área equivalente à do Reino Unido, desalojando 581.638 pessoas e causando 179 mortes.
O Rio Grande do Sul é fortemente conhecido por ser um dos principais expoentes do agronegócio, produzindo especialmente soja para exportação. Biomas importantes, como o Pampa e o Cerrado, vêm sendo destruídos por esse tipo de plantação e transformados em verdadeiros desertos verdes. Ou seja, historicamente, seguindo a lógica dos países capitalistas periféricos, o foco dos governos e produtores rurais não foi o de preservação do meio ambiente, mas de esgotamento máximo da natureza. De acordo com o MapBiomas, 97% da devastação ambiental no último ano no Brasil ocorreu para a expansão do agronegócio. Em análise de imagens de satélite, a organização também apontou que as áreas de produção agropecuária foram as mais afetadas pelas enchentes. Somado a isso, temos no âmbito do governo local, Eduardo Leite, um expoente defensor de políticas ultraneoliberais que enxerga na classe empresarial e de produtores rurais o verdadeiro potencial de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
A velocidade e a força com que a água tomou conta do estado foi a mesma que acarretou na rápida destruição de cidades, bairros, casas, famílias e outros seres como animais, ecossistemas e natureza. Quase 200 vidas humanas foram levadas e um sem-número de outros animais, silvestres e domésticos. Enquanto a classe média e alta de Porto Alegre pegava seus carros e corria para suas casas no litoral gaúcho, milhares de pessoas perdiam tudo o que havia sido construído ao longo de uma vida: suas casas, seus bens, suas memórias e referências socioculturais, pois muitas cidades e bairros simplesmente deixaram de existir. Casas, em sua maioria, chefiadas por mulheres pobres e negras. Essa dinâmica também evidencia que refugiados climáticos têm raça, gênero e classe social, além de ser vivenciada de forma completamente diferente de acordo com espécie, sexualidade e idade, revelando de forma gritante aos olhos: o racismo ambiental é também estrutural.
Uma pesquisa da Datafolha nas cidades atingidas pelas inundações mostrou que quase metade (47%) das famílias que ganham até dois salários mínimos respondeu ter perdido casa, móveis, eletrodomésticos ou o próprio sustento, enquanto entre aqueles que ganham de cinco a dez salários só 13% informaram ter tido algum tipo de prejuízo. Mulheres, crianças e pessoas negras são proporcionalmente mais representadas entre pessoas de classe baixa, tendo sido elas as mais atingidas.
Já os povos indígenas tiveram diversas outras preocupações além das perdas materiais. Oito mil famílias foram atingidas, sendo que algumas delas vivem em territórios ainda não demarcados. Um exemplo é o da comunidade Guarani Araçaty, que vive a cerca de 60 quilômetros de Porto Alegre há mais de 40 anos, e que não aceitou deixar o local e ir para os abrigos pelo risco de perderem a terra, já que ela ainda não foi demarcada como território indígena. Por outro lado, uma aldeia indígena Guarani, Tekoa Pekuruty, foi destruída pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit) enquanto a comunidade estava se protegendo em um abrigo, e os indígenas foram deslocados para outro território. Considerando que a presença indígena em territórios constitui um óbice à instalação de empreendimentos, como os da mega mineração, os povos indígenas temem que as enchentes sejam usadas como uma desculpa para que suas terras sejam tomadas por empreendimentos destrutivos.
No dia 9 de maio de 2024, a idiossincrasia da imagem de um cavalo ilhado em pé sobre um telhado tomou conta das redes sociais, até ele ser resgatado três dias depois. A imagem, tão absurda como toda a situação, inaugura uma nova iconografia da era do aquecimento global, vivido no aqui e agora. O absurdo apenas se aprofunda quando analisamos as diversas respostas propostas à crise climática. Com a mesma velocidade com que as águas inundaram o Rio Grande Sul, reagiu a sociedade civil que, de forma imediata, tomou nas mãos a tarefa de resgate e acolhimento de pessoas e animais. Foram arrecadadas doações em dinheiro e bens materiais, imediatamente necessários para prover os abrigos que iam sendo criados de forma improvisada. Pessoas de todo o país participaram de ações voluntárias de ajuda mútua e solidariedade às pessoas afetadas.
Todo o processo de ajuda mútua foi transmitido ao vivo em redes sociais de pessoas comuns, políticos, influencers e subcelebridades. E foi nessa confluência de solidariedade que a extrema direita tentou cooptar e capitalizar a tragédia. Nas redes sociais de apoiadores da extrema direita, as notícias eram de que o presidente Lula havia propositadamente determinado a abertura das comportas do rio Guaíba, para que o Rio Grande do Sul se prejudicasse financeiramente. Também de que o governo federal estava impedindo o envio de donativos de outras partes do país, uma vez que, segundo eles, era sabido que o presidente odeia o Rio Grande do Sul. Surge nas redes sociais de extrema direita o mote “o povo pelo povo” – a ideia de que o Estado, tanto na esfera federal quanto estadual, é ineficiente e , de certa forma, desnecessário. O movimento de solidariedade e ajuda mútua é então cooptado e transformado numa alegoria da tese do estado mínimo e da eficiência da classe empresarial e bolsonarista como solucionadora eficaz de problemas sociais e ambientais. Imagens produzidas por inteligência artificial começaram a circular na forma de fake news visuais, de forma também a enaltecer grandes empresários que supostamente estariam ajudando as vítimas. Um caso icônico envolveu a circulação de imagens falsas que mostravam helicópteros com a marca da Havan realizando mais resgates do que o próprio estado do Rio Grande do Sul. As imagens, geradas por inteligência artificial, foram atribuídas equivocadamente à empresa cujo proprietário é o empresário Luciano Hang, um dos símbolos do empresariado conservador da extrema direita.
Já do ponto de vista do Estado e prefeituras locais, houve uma tentativa clara de amenizar a dimensão da tragédia, com discursos e chamadas por vezes ingênuas em suas redes sociais. Assim foi que o governador do Estado, em suas redes sociais, chegou a pedir que os voluntários parassem de enviar mantimentos, pois isso estaria atrapalhando o comércio local. Da mesma forma também sugeriu que não seria o caso de “encontrar culpados” e “politizar a tragédia”, como resposta às críticas de sua gestão neoliberal. Em entrevista a um programa de televisão no canal Cultura, em rede nacional, o governador afirmou que havia sido advertido dos riscos da falta de investimento na área climática, mas “tinha outras pautas”, como o ajuste fiscal do Estado. Contudo, sua participação na gravidade do colapso do Estado não foi apenas por omissão. Ao longo de sua gestão, o governador trabalhou junto ao parlamento estadual para alterar quase 500 itens do código ambiental do Estado, precarizando a proteção ambiental ao flexibilizar as regras. E foi da soma de decisões políticas pautadas em princípios neoliberais que a água finalmente invadiu completamente Porto Alegre, a capital do estado.
A capital do RS ficou conhecida internacionalmente nos anos 90 e no início dos anos 2000 como a capital do Fórum Social Mundial, do Orçamento Participativo e do passe livre aos domingos, mas tornou-se a capital das políticas de gentrificação urbana, de higienismo social e de total abandono do patrimônio público. A cidade é circundada por um rio que foi transformado no lago Guaíba, justamente para atender as demandas da especulação imobiliária. Uma enchente histórica já havia ocorrido no ano de 1941. E foi em razão dessa enchente histórica que um sofisticado sistema de muros, comportas e diques foi construído. Acontece que, ao invés de a experiência do passado ter servido de alerta para a frequência e a intensidade da destruição provocada por fenômenos climáticos extremos na atualidade, ela serviu mais ao negacionismo climático multiplicado pelas redes sociais. O argumento – com fotos e memes acompanhados – seria o de que se trataria de um fenômeno natural, sem causa humana e que se repete de quando em vez.
Mas, apesar do enorme esforço da extrema direita para capturar também essa agenda, uma pesquisa de opinião pública da ProQuaest, divulgada em 9 de maio, mostrou que 7 em cada 10 brasileiras(os) acreditam que as enchentes no Rio Grande do Sul possuem ligação direta com as mudanças climáticas. Isso mostra, por um lado, que o negacionismo climático tem como um de seus limites a materialidade da catástrofe, a sua proximidade geográfica e, assim, também a identificação. Tal relação com as mudanças climáticas e sua causa originalmente humana tem sido cientificamente demonstrada e, neste caso específico, um estudo publicado pelo Imperial College London revelou que apesar de o fenômeno climático El Niño ter sido um importante fator para que o volume de chuvas fosse muito acima da média para o período, as mudanças climáticas aumentaram ao menos em duas vezes a probabilidade de que um evento devastador como esse ocorresse neste período.
Assim, para além das mudanças no regime de chuvas ocasionado pelo El Niño, avolumado pelas mudanças climáticas, a política neoliberal do estado contribuiu diretamente para a proporção da tragédia, especialmente na capital. A falta de manutenção do sistema de comportas, a qual deveria suportar até os 6 metros de água, cedeu quando ela atingiu 4,6 metros. A população de Porto Alegre ficou sem abastecimento de água durante vários dias, algo que também decorre da falta de investimento público, neste caso, em uma empresa pública municipal, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto. Funcionários da empresa vêm há alguns anos denunciando o sucateamento, a não realização de concursos para repor as vagas daqueles que se aposentam e a falta de investimento com a manutenção de recursos em caixa. O objetivo: seguir a agenda da privatização. O colapso do sistema mostrou, contudo, a importância de esses serviços essenciais estarem nas mãos do poder público.
Passado um ano da maior catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, para além dos números aberrantes da tragédia, que apontam para 2,3 milhões de pessoas atingidas, 183 mortos, 27 desaparecidos, 98,6 mil desabrigados e 701,4 mil desalojados, existe um trauma coletivo a ser elaborado e uma série de danos a serem reparados. De acordo com o Movimento do Atingidos por Barragens, que esteve presente no território durante todo o ano que sucedeu a enchente, existe ainda o desafio de os atingidos serem reconhecidos como tais, pois o critério para definir quem foi atingido e, portanto, ter acesso aos programas de reparação do governo federal não pode ser restringido somente àquelas pessoas que sofreram danos materiais como a perda da moradia. Essa lógica ignora outras dimensões subjetivas e coloniais dos danos ambientais, a exemplo dos impactos das vitimizações sobre os seres mais-que-humanos como animais, plantas, florestas e ecossistemas inteiros. Durante o período crítico das enchentes, mais de 20 mil animais, domésticos e silvestres, foram salvos. Mas, enquanto os animais domésticos de raça, resgatados de canis clandestinos, são adotados rapidamente, os animais das enchentes estão sem lar até hoje.
Apesar de serem fundamentais para a sobrevivência humana e para o equilíbrio do planeta, os seres mais-que-humanos seguem sendo ignorados nos planos de reparação pós-desastres. O especismo, baseado na discriminação de espécie, contribui para que animais e ecossistemas inteiros não sejam reconhecidos como vítimas, desconsiderando tanto sua existência quanto seu sofrimento. Essa exclusão também reflete as heranças do colonialismo, que historicamente define quais vidas importam e quais podem ser descartadas dentro da lógica de custo-benefício do capitalismo. A esse processo, o filósofo caribenho Malcolm Ferdinand dá o nome de “fratura colonial da modernidade”, uma estrutura que, no contexto das enchentes no Rio Grande do Sul, se revela na forma como o sistema capitalista encara a natureza: um recurso a ser explorado, instrumentalizado e destituído de agência. A própria emergência climática que intensificou as enchentes é consequência direta dessa lógica de devastação ambiental.
Uma pesquisa divulgada no mês de junho de 2024 mostrou que 3 de cada 10 moradores do Rio Grande do Sul pretendiam se deslocar para lugares mais seguros, e que 80% deles temiam outras tragédias do mesmo tipo em razão das mudanças climáticas. Isso tudo mostra um cenário, por um lado, de maior sensibilização popular às questões ambientais climáticas, e, por outro lado, de total despreparo – para não dizer má-fé – dos governantes quanto à adoção de medidas preventivas de curto, médio e longo prazo. A começar pela superação da economia baseada na monocultura para a exportação de commodities e em combustíveis fósseis, e partindo para a preservação dos biomas e das culturas que os protegem, esses são alguns caminhos para cultivar uma esperança ativa. Porém, sem a construção de mecanismos de participação dos diversos povos que compõem a população brasileira na elaboração de políticas que superem a dissociação moderna entre natureza e cultura, e, portanto, de contradição direta aos interesses do capital e do ultraconservadorismo que lhe tem acompanhado, os obstáculos serão cada vez mais intransponíveis.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras