O que pensam os programadores da IA
Uma análise de sua subjetividade, para além das condições de trabalho. Como encaram desvios éticos, apesar do acordo de confidencialidade. Suas ideias sobre a geopolítica da IA e soberania digital do Brasil. E as visões contrastante sobre o futuro das tecnologias
Publicado 30/04/2025 às 19:21
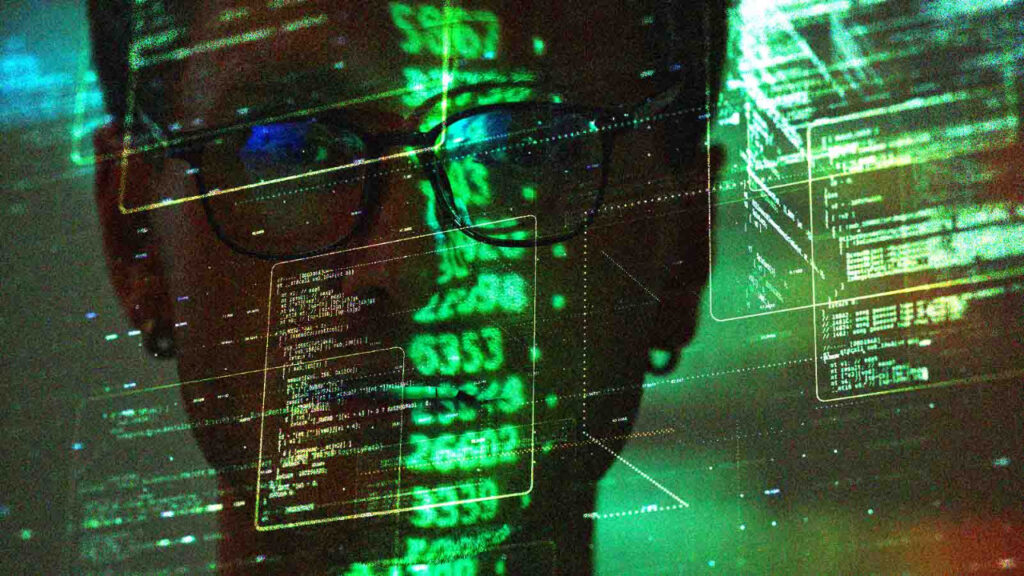
A Estratégia Latino-Americana de Inteligência Artificial (ELA-IA), em parceria com o Outras Palavras, inaugura um novo espaço de entrevistas com pesquisadores, pensadores e ativistas que se debruçam sobre as questões éticas no desenvolvimento da IA. Esses encontros buscam iluminar as zonas de sombra entre as perspectivas técnica e humanística do capital humano que desenvolve a tecnologia, convocando uma escuta atenta ao que a IA faz de nós — e ao que ainda podemos fazer da IA.
Na abertura, Henrique Pinto Coelho, Leandro Modolo e Fabiana Cunha entrevistam Kenzo Soares Seto sobre sua tese de doutorado que aborda os imaginários dos tech workers brasileiros, como isso impacta a plataformização da política e os dilemas da esquerda, as resistências algorítmicas dos trabalhadores, a guerra fria por IA entre China e EUA, e o lugar do Brasil nesse cenário.
Kenzo Soares Seto é fellow do Institute for the Cooperative Digital Economy da The New School, e inicia seu pós-doutorado na Escola de Direito da Universidade de Yale, além de ex-professor na Escola de Comunicação da UFRJ, onde se formou doutor.
Função social da tecnologia: “ A pessoa que programa o jogo do Tigrinho, ela dorme à noite? ”
ELA-IA: Poderia nos contar o que o motivou a fazer a sua pesquisa de doutorado sobre o imaginário dos trabalhadores de tecnologia?
Kenzo: Venho da área da economia política da comunicação, em que muitas vezes se trata os trabalhadores da tecnologia da informação (TI) apenas como peças na engrenagem da produção de valor. Eu brincava: “trabalhador só produz valor, não produz ideias?” Faltava a perspectiva desses trabalhadores, como eles pensam suas próprias atividades. E aí a minha pesquisa demonstra um abismo entre os discursos sobre IA nas humanidades digitais e o imaginário dos trabalhadores que desenvolvem tecnologias digitais.
A academia fala de inteligência artificial decolonial, indígena, mas esses debates passam muito longe da maioria dos trabalhadores de tecnologia. Muitos deles estão envolvidos em mentoria para mulheres, há muita iniciativa de mulher em dados, alguma iniciativa LGBTQI, outras para pessoas racializadas no Brasil. Mas a maior parte dos trabalhadores tem uma visão muito pejorativa sobre a capacidade das humanidades de compreender a IA tecnicamente: “Como é que o algoritmo vai ser racista? Isso é matemática, IA é multiplicação de matrizes, como é que você vai dizer que isso é colonial?”. É como se fossem ordens epistemológicas muito distintas. Me pareceu fundamental investigar essa desconexão, essa provocação.
Além disso, comecei a carreira acadêmica tardiamente. Durante uma década, fui assessor parlamentar: da Câmara Municipal à Assembleia Legislativa do Rio e no Congresso Nacional. E o que me motivou academicamente foi perceber como essas casas legislativas aprovam regulamentações sobre temas complexos dos mercados digitais sem o domínio técnico, e sem ouvir a voz dos trabalhadores da área de tecnologia.
Outra lacuna que identifiquei na literatura brasileira foi o foco no trabalho plataformizado. A maior parte dos estudos se concentra nos trabalhadores de aplicativos, Uber e Ifood, ou em plataformas como Amazon Mechanical Turk (MTurk).
Só que o Brasil tem cientistas de dados, dev’s [desenvolvedores de software e programadores], tem dois milhões de trabalhadores de Tecnologia da Informação (TI). Mas as pesquisas na área são focadas na reestruturação produtiva: como é o seu regime de trabalho? Você se sente empreendedor? Esse debate é muito válido, mas não havia uma reflexão sobre o que esses trabalhadores pensam sobre o fruto do trabalho deles, sobre a função social das tecnologias que desenvolvem. Será que ele realmente não faz ideia dos objetivos dos sistemas que cria? Isso importa na vida dele? A pessoa que desenvolve o jogo do Tigrinho, ela dorme à noite?
Minha motivação surgiu muito dessa constatação da pesquisa etnográfica, do debate estar concentrado no regime de trabalho e pouco na função social da tecnologia.
Na sua avaliação, os tech workers brasileiros têm plena dimensão do impacto do uso de conhecimentos de economia e psicologia comportamental embutidos no design dos sistemas que constroem?
A realidade do Brasil é distinta do Vale do Silício, em que saltam os olhos as Big Techs, grandes plataformas. No Brasil, é a Petrobras que possui os maiores supercomputadores integralmente destinados a treinar IA, por exemplo.
Por que falo isso? Porque a compreensão do impacto dessas tecnologias nos usuários depende muito do tipo de projeto que esses trabalhadores desenvolvem.
Aqueles que trabalham em redes sociais, e-commerce e videogames demonstram uma consciência maior sobre os efeitos nos usuários. Por exemplo, o Brasil possui uma indústria relevante de jogos para mobile e profissionais que prestam serviços (outsourcing) para estúdios internacionais de jogos triple A. Nesse contexto, as equipes de desenvolvimento têm psicólogos e incorporam conhecimentos baseados em ciência comportamental.
Então, acho que sim, existe a consciência. O designer de UX, por exemplo, sabe que explora ansiedade e sensação de escassez. É parte do core business dessas plataformas: a exploração das vulnerabilidades e heurísticas humanas para a extensão da jornada do usuário, maximização de interação e compras, etc. Isso é evidente em videogames, mas também se dá na gamificação de processos de trabalho para intensificar e estender a jornada, ou nas estratégias para acelerar o consumo dos usuários no varejo, inclusive reforçando padrões compulsivos.
E aí você pergunta: “Qual é a lógica por trás disso?” Não é, “queremos que as pessoas fiquem mais viciadas”. É “teste A/B”. É uma abordagem instrumental focada na otimização de resultados. Então, a gente testa esse layout “A” com um senso de escassez (um relógio em contagem regressiva) contra um layout “B” sem esse elemento. Se o layout “A” gera mais cliques, conversões e, finalmente, mais compras, a reflexão ética muitas vezes para por aí. A métrica validou a escolha porque otimizou o resultado para o modelo de negócios. Curiosamente, alguns desses designers também se veem como se fossem “advogados” dos usuários no desenho das plataformas, buscando facilitar suas interações e, em teoria, diminuir efeitos negativos de “falhas” do design de interface. Existe, portanto, contradições nessa atuação.
Há um discurso e até departamentos voltados para o bem-estar (“wellbeing”) e o uso ético da tecnologia (“AI for Good”) nas companhias; contudo, essas iniciativas e debates costumam ocorrer em departamentos separados daqueles responsáveis pelo desenvolvimento central dos produtos.
Como esses profissionais lidam com as implicações éticas de seu trabalho? Você observou alguma tensão entre os objetivos comerciais ou de engajamento das plataformas e as possíveis consequências para o bem-estar dos usuários?
Há os trabalhadores do topo da carreira que participam do desenvolvimento e planejamento de grandes plataformas e tem uma forte preocupação com os acordos de confidencialidade (NDAs). Eles têm uma visão mais crítica, mas em função dos NDAs, os riscos são maiores em compartilhá-las. Atualmente, não existem canais anônimos públicos para esses trabalhadores compartilharem denúncias sobre os sistemas que desenvolvem.
Isso difere da realidade dos trabalhadores de empresas terceirizadas, mesmo que estas prestem serviços para as mesmas plataformas. Esse grupo muitas vezes está completamente apartado, alienado no final da cadeia: trata-se de uma empresa brasileira contratada por uma agência local, que por sua vez foi subcontratada por outra agência que está no Paquistão e que, no fim dessa cadeia, atende a uma plataforma como o TikTok.
Alguns cientistas de dados compartilham suas preocupações. Eles sabem que estão trabalhando com muito mais dados do que seriam necessários e sabem que são dados sensíveis. Além dos efeitos psicológicos, esses profissionais têm consciência de outras vulnerabilidades dos usuários. Entrevistei um trabalhador que me disse: “Cara, se eu quisesse, pegava o CPF e os dados financeiros de todo mundo. Tenho acesso aos dados bancários por atuar em uma empresa terceirizada que presta serviços de segurança”.
É importante ressaltar que os próprios programadores e desenvolvedores vivenciam essa dinâmica também como usuários. Eles têm essa visão dupla: reconhecem os mecanismos de gamificação e extração de dados aplicados a eles mesmos em suas longas jornadas de trabalho (de 10, 12 horas) dentro das empresas, ao mesmo tempo que os implementam para os usuários finais.
Considerando que todas as crianças que ingressam hoje no sistema educacional já estão imersas em uma educação permeada por IA, e pensando naquelas que demonstrarão aptidão para áreas de exatas (futuros engenheiros, cientistas de dados e desenvolvedores), o que pode ser feito para cultivar um pensamento ético e humanístico como parte integrante de sua formação? Como podemos redesenhar currículos e abordagens pedagógicas para que a consciência sobre os impactos da tecnologia seja desenvolvida naturalmente, lado a lado com as habilidades técnicas, e não apenas como um complemento tardio?
É excelente você abordar esse ponto. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que o debate sobre a função social da tecnologia está mais presente entre profissionais de TI do que em outras áreas. Metalúrgicos e engenheiros agrônomos discutem os impactos dos produtos que ajudam a criar? No setor tecnológico, há uma maior consciência crítica, embora ainda insuficiente.
Agora, na tecnologia, esse debate é essencial. Lembro-me da época de Paulo Freire como secretário de educação em São Paulo, quando priorizou a informatização das escolas públicas com uma visão clara: não bastava apenas instalar computadores, era necessário promover a apropriação tecnológica. Hoje isso seria: não se trata de ‘ensinar todas as crianças a programar’, mas de desenvolver pensamento crítico e capacidade de solução de problemas.
Houve um entrevistado da minha pesquisa que disse: “O problema do Brasil é que as pessoas estão se formando em História! Precisamos focar em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática)“. Existe sim uma deficiência de acesso à educação de qualidade em exatas, mas a solução não está na desvalorização das humanidades.
Preocupa-me o que chamo de ‘algoritimização da vida’ — essa lógica de pensar a sociedade e os indivíduos como sistemas em constante otimização é desumanizadora, pois ignora os limites inerentes ao ser humano.
Acredito que o caminho é investir na prototipagem e na produção de conhecimento dentro da escola. Nosso sistema educacional ainda opera com uma lógica de mera reprodução, a ‘educação bancária’ criticada por Freire. Precisamos incentivar a dimensão etnográfica, a investigação da própria comunidade, desenvolvendo tecnologias em nível local com a escola como polo de integração. O data-labe, no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, já demonstra que é possível envolver as comunidades na produção de seus próprios dados.
Finalmente, é urgente debater a redução de danos e os impactos da IA desde cedo. Quando vemos crianças produzindo deepfakes pornográficos de colegas adolescentes, percebemos que não basta uma resposta repressiva. Precisamos de uma educação com forte componente ético para que as novas gerações compreendam tanto o potencial criativo quanto destrutivo dessas ferramentas.
Resistências algorítmicas dos trabalhadores
Considerando que as iniciativas corporativas formais de ética parecem ter um efeito limitado, gostaria de saber sua opinião sobre uma abordagem diferente.
Minha pesquisa revelou um caso interessante: um profissional se recusou a desenvolver uma solução em um projeto milionário para uma grande empresa brasileira por considerar que era eticamente questionável: “Isso aqui é para as pessoas se endividarem, é algo predatório“.
Essa atitude aparece na literatura que descreve como esses trabalhadores da tecnologia têm muito a atitude de “votar com os pés” – que é deixar o cargo quando discordam do direcionamento ético de um projeto. Lembro de dados do Reino Unido indicando, por exemplo, que cerca de um terço dos profissionais envolvidos com desenvolvimento de inteligência artificial já abandonaram uma empresa em algum momento devido a discordâncias éticas.
É preciso considerar o contexto disso. Estamos falando de um mercado de trabalho muito aquecido, especialmente para os talentos que desenvolvem tecnologia de ponta, mesmo após as demissões pós-pandemia e com a atual corrida pela IA. Então as pessoas têm uma cultura de mobilidade, de rodar muito de empresa, e a questão ética é um fator presente nessa dinâmica.
Além dessa resistência individual, há um segundo elemento que vai na direção da sua pergunta: o movimento de organização política e sindical dos trabalhadores da tecnologia, principalmente nos Estados Unidos. Muitas vezes, a mobilização é motivada por questões éticas. Vimos recentemente campanhas contra o uso militar de tecnologias da Alphabet.
No entanto, a dimensão específica dos impactos na saúde mental, embora apareça como reflexão individual dos trabalhadores em minha pesquisa, ainda não parece ter ganho a mesma força como pauta de mobilização coletiva. Porém, acredito existir um potencial enorme para que isso aconteça no futuro devido ao histórico de outras campanhas éticas que foram massivas e, em alguns casos, bem-sucedidas – levando à rescisão de contratos da Alphabet tanto com o Pentágono, quanto com a China – porque tinham relações com censura ou com fins militares.
E aí é preciso discutir um programa para a questão da saúde mental. Quantos brasileiros usam o ChatGPT como psicólogo? Qual o impacto disso na subjetividade das pessoas? Isso remonta aos primeiros chatbots, ainda na década de 70, que apesar de muito rudimentares já eram usados como psicólogos. Hoje temos milhares, talvez milhões de pessoas que estão pensando a gestão do seu selfie a partir do ChatGPT.
Essas pessoas estão em sofrimento, então claro que isso é perigoso. Porém, quantos Centros de Atenção Psicossocial têm no SUS por município do Brasil? São muito menos do que o necessário. Nesse cenário, é melhor que uma pessoa fique sem nenhum tipo de tratamento ou que fale com o ChatGPT? O certo seria a gente lutar por psicólogos em centros de atenção psicossocial para cada, não sei, 100 habitantes? Mas enquanto isso…
De qualquer forma, no Brasil, essa mobilização ética dos trabalhadores ainda é menos expressiva do que nos Estados Unidos. Existem algumas iniciativas relevantes de organização de trabalhadores da tecnologia (como o núcleo de tecnologia do MTST, Maria Lab, data-labe), mas a discussão, especialmente sobre saúde mental, ainda é pouco presente nesses espaços. Nos sindicatos do setor, essa discussão é praticamente ausente.
A plataformização da política e os dilemas da esquerda
A sua pesquisa destaca uma citação impactante de um entrevistado sobre usar neurociência para ‘explorar as fraquezas humanas ao máximo‘. Como debater o uso de ciências na Política? Movimentos sociais, por exemplo, usam aplicativos com gamificação e ranqueamentos para mobilização. Como navegar nessa fronteira entre usar ferramentas sociotécnicas para conquistar direitos e reproduzir lógicas manipulativas?
Tem um desafio aí: a perspectiva de um sujeito político iluminista pressupõe muitas vezes que a política é feita apenas a partir do processo emancipatório de tomada de consciência. Mas a política também é feita a partir de emoções, afetos e gatilhos mais imediatos. Inclusive a tradição de Agitprop reconhecia isso. A diferença hoje é a escala: as eleições viraram celeiros de uso massificado de inteligência artificial, e isso abre um debate. Em vez de contratar profissionais de maneira digna, se recorre à automação. A questão é: podemos abrir mão disso disputando uma eleição com uma extrema direita que utiliza essas técnicas de forma muito mais sofisticada?
A plataformização da disputa política aprofundou uma crise nos métodos da esquerda tradicional não só de propagar suas ideias, mas, sobretudo, na sua teoria da organização, em contraste com a direita. A minha opinião pessoal, que extrapola o lugar de pesquisador, é que, diante dessa realidade, precisamos construir mediações que utilizem técnicas computacionais para a disputa de hegemonia na sociedade brasileira. Não podemos naturalizar a precarização do trabalho político, mas também não podemos ser ludistas. Se não soubermos usar esse instrumento, como teremos condições de disputa? Nossa diferenciação tem que passar pelo estabelecimento de marcos legais, éticos e políticos mínimos em relação a isso.
Isso é uma discussão que me apaixona muito. Na tradição da esquerda, existiu uma convergência muito grande entre as vanguardas tecnológicas, estéticas e políticas.O cinema soviético tinha uma relação de tentar utilizar o máximo as novas tecnologias para fazer propaganda da revolução, compreendendo que essas novas tecnologias envolviam novas linguagens e novos métodos organizativos. Então, acho que é isso. Existem potenciais que a gente vai ter que pensar: o que é uma ética, o que é um processo pedagógico de adoção e desenvolvimento tecnológico? Meu debate sobre os “algoritmos dos oprimidos” é pensar nessa direção.
Então, para concluir, dá para usar gamificação em algum grau? Dá, mas a assembleia ainda tem que ser um mecanismo soberano, não o algoritmo. Minha resposta seria essa. Pode até contar pontos e a pessoa pode ter “perfil diamante” no aplicativo do movimento social, mas a assembleia continua soberana.
Um exemplo é o do “Señoritas Courier“, uma plataforma cooperativa de entregas em São Paulo composta por mulheres e pessoas trans que falam mais ou menos assim: “Olha, a gente divide a tarefa de entrega a partir do algoritmo, mas aquilo é uma sugestão”. A palavra final é do coletivo, é da instância. Acho que é um passo, um caminho a se pensar.
Outro ponto é como as organizações de esquerda se tornaram dependentes das plataformas. Nos anos 80, essas organizações tinham seus próprios meios de comunicação, com gráficas e jornais impressos. Hoje em dia, a presença delas online depende da governança das plataformas – e isso entra no design. Pode-se ter um perfil com vinte milhões de seguidores e perder o alcance da noite para o dia se a plataforma sair do ar ou banir o perfil. Além disso, as plataformas impõem padrões, inclusive estéticos e políticos. O designer militante pode fazer uma arte linda, mas se ela não tiver um determinado padrão visual e textual estipulado pela plataforma, ele não consegue utilizar para ilustrar um anúncio na Meta.
EUA x China e soberania tecnológica brasileira
Percebe-se, entre os trabalhadores de TI brasileiros, a manifestação de opiniões sobre o conflito tecnológico entre China e Estados Unidos? Há alguma discussão entre esses profissionais sobre a tecnologia como parte de um projeto nacional?
O campo da inteligência artificial tem uma dimensão geopolítica óbvia porque estamos entrando em uma corrida protecionista. Quem trabalha na área sabe das repercussões da ordem executiva do Biden regulando IA e, agora, da nova gestão. Muitos trabalhadores têm consciência de que os Estados Unidos estão tentando preservar as enormes vantagens que possuem no momento, enquanto a China busca alcançá-lo: para cada 10 dólares destinados à IA nos últimos dez anos, 6 foram para startups chinesas e 4 para norte-americanas. É uma nova corrida espacial, e isso é claro para quem está na área.
Dentro desse contexto, há diferentes imaginários. Existe o perfil dos “fanboys” do Elon Musk. Atualmente, ele é o intelectual orgânico e propagandista maior da ideologia californiana. Tem um fascínio que é muito técnico: “O cara fez o foguete descer e dar marcha ré!” É um feito, e tem uma dimensão de oferecer uma grande narrativa de futuro civilizatório que disputa pessoas no vazio utópico atual, sobretudo aquelas que olham para a realidade cotidianamente e sempre pensando em soluções técnicas – “vamos levar o homem a Marte”. E uma parte desses trabalhadores são nerds, então tem um fascínio aí até sci-fi com isso. Também tem uma dimensão muito pragmática e tecnocentrada: é menos sobre comunismo e capitalismo como grandes ideologias, e mais sobre quem desenvolve a melhor tecnologia.
Já a consciência sobre geopolítica e o debate de soberania de dados, por exemplo, se manifesta de maneira mais elaborada entre os trabalhadores de empresas estatais, como a Petrobras. Se você é um cientista de dados da Petrobras, sabe que os EUA “grampearam o celular da Dilma” para saber onde eram as jazidas do pré-sal. E a Petrobras tem enorme contradições. Sempre dou esse exemplo: a licença de uso da OpenAI para a Petrobras é específica e pressupõe uma série de camadas de segurança para evitar ao máximo o vazamento de dados da empresa e seu uso para o treinamento dos modelos. Por quê? Porque todo mundo aprendeu com o vazamento da Samsung a partir da mesma OpenAI. Por outro lado, a Petrobras usa Microsoft Teams. Tem informações sobre jazidas de petróleo circulando na Microsoft sem estarem criptografadas. É uma contradição.
Quanto ao projeto nacional, há uma diversidade de visões. Existe muito a ideia de uma fuga de trabalho qualificado do Brasil. A fuga de cérebros é algo normalizado. A pessoa quer morar em uma sociedade que ela considera melhor, e onde pode ganhar mais. Existe muito fascínio com os Estados Unidos e menos com a Europa, a não ser com a Suíça, onde se ganha bem.
Em contrapartida, está surgindo uma parcela de tech workers brasileiros que começa a ter um certo deslumbramento pelo “sonho chinês”, diria assim. E isso se dá muito pelo fascínio técnico no sentido de que, se o foguete do Elon Musk dá marcha ré, a BYD está deixando a Tesla para trás. A percepção é que a China ainda está atrás, mas o fascínio sociotécnico é de como a sociedade chinesa conseguiu implementar tecnologia no cotidiano.
Há um setor dos trabalhadores da tecnologia que tem um grau de preocupação com segurança e privacidade muito maior do que a média de nós usuários. Tem essa tradição muito criptoanarquista. E tem um outro que nutre esse fascínio com uma sociedade que é o inverso. O Black Mirror é a utopia. Então, a pessoa quer ir viver em Shenzhen para poder pagar tudo com reconhecimento facial e ter um robozinho no quarto que entrega a Coca-Cola.
Por fim, entre a minoria mais politizada, tem o debate do Brics. Existe uma tradição no Brasil que vem da herança do quanto a informática no Brasil foi desenvolvida a partir do Estado. A gente tinha a política de reserva de mercado, os computadores brasileiros, a Cobra e tal. Então, a velha-guarda, ou os programadores que hoje em dia são relativamente “velhos”, e que conviveram com programadores que trabalham na IBM — uma empresa mais tradicional, por assim dizer — estes têm mais essa herança de uma geração que pensou informática como política nacional de desenvolvimento, que teve contato com os militares, com gente que estudou no ITA, que desenvolveu tecnologia na Marinha. É uma minoria, mas existe.
Em termos percentuais, dá para pensar em uma pizza nesse sentido?
Metade da pizza não tem opiniões sobre isso. Na metade em que isso aparece, a maior fatia se identifica muito fortemente com os Estados Unidos. O Vale do Silício continua sendo visto como uma espécie de “Meca”. Uma segunda influência, consideravelmente menor, vem da China. E uma fração bem pequena demonstra uma perspectiva mais voltada ao Brasil e à geopolítica, geralmente associada a estatais como Serpro e Dataprev.
No entanto, mesmo dentro das estatais, essa visão não é uniforme. Identifiquei a Petrobras como um polo onde essa consciência geopolítica ou de soberania apareceu com mais força. Em contraste, encontrei profissionais no Serpro cuja motivação principal era a estabilidade conquistada via concurso público, sem uma reflexão geopolítica associada.
Um outro grupo distinto, embora minoritário, são aqueles que seguem carreira acadêmica. Digo minoritário porque, economicamente, não é uma escolha racional no Brasil para essa área; é quase vocacional, pois sabem que estão abrindo mão de ganhos financeiros significativos – uma bolsa da CAPES de R$ 5.000, por exemplo, é irrisória para um cientista de dados qualificado.
Você comentou sobre a Petrobras usar o Microsoft Teams. Fiz um estágio na UNCTAD em Genebra e fiquei surpreso quando vi que a ONU inteira funciona com Microsoft 365. É realmente chocante.
Quantas patentes a universidade pública brasileira produz? Quanto do processo de troca de mensagem, de armazenamento dos projetos técnicos é criptografado? Está tudo no Google Drive, as universidades e secretarias estaduais, municipais de educação de ciência e inovação, todas dependem de serviços de nuvem da Microsoft e Alphabet! As pessoas pensam muito na vigilância no sentido político, mas essa é uma dimensão fundamental: a da espionagem industrial. Ou, diria Marx, em termos mais teóricos, espoliação do conhecimento. Então, tem uma dimensão do colonialismo de dados digital que acho que é pouco abordada: essa dimensão de espionagem industrial/espoliação de conhecimento. É algo para pensarmos.
Exatamente! Por exemplo, a ONU funcionando com Microsoft 365 significa que se uma equipe está discutindo uma pauta para negociar na assembleia geral…
Sim, os Estados Unidos sabem a posição de todo mundo. E a China — muito provavelmente. Tem todo o debate das Backdoors chinesas.
Uma última pergunta: pensando na atual disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, você vê espaço para o Brasil, ou mesmo a América Latina, aproveitar essa tensão para buscar maior autonomia tecnológica e econômica?
O Brasil era uma grande fazenda até a Revolução de 30. A industrialização pesada do Brasil, com a criação da CSN [Companhia Siderúrgica Nacional] sob o governo Vargas surgiu da capacidade de barganhar entre os interesses dos EUA e do Eixo durante a Segunda Guerra. A industrialização brasileira emerge de um governo brasileiro relativamente autônomo, que foi capaz de jogar com as tensões entre dois dois blocos econômicos concorrentes em ascensão. Esse é um exemplo histórico relevante.
O Brics, por exemplo, oferece caminhos com iniciativas como centros de transferência tecnológica, o plano de parceria digital, o plano de trabalho sobre ciência, tecnologia e inovação. A presença da Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento [Banco do Brics] sinaliza esse espaço.
Os chineses são muito pragmáticos. Eles obviamente querem construir uma nova hegemonia. Se não existe uma política de multilateralismo, se não existe uma pressão desde baixo a partir de alianças no nível do Brics não só entre burocracias, mas entre os trabalhadores dessas sociedades, a disputa se resume a escolher de qual monopólio externo você quer se tornar dependente. O que os chineses buscam é expandir a esfera de influência de uma internet com características chinesas — algo que já está ocorrendo na África, no sudeste asiático.
A chave está na capacidade de barganha. Se dependemos exclusivamente de uma plataforma como o WhatsApp, como ocorre hoje no Brasil, a ponto de ser inviável bani-la, não temos poder de negociação. Mas com alternativas chinesas e norte-americanas competindo, o cenário muda. A Índia, por exemplo, implementou políticas de localização de dados que nós não temos, exigindo que empresas estrangeiras mantenham dados em servidores locais e incentivando data centers indianos.
Penso que sim, o Brasil tem condições de, nessa mediação entre a tensão dos Estados Unidos e a China, tentar abocanhar ao máximo a capacidade de desenvolver a sua autonomia tecnológica, transferência de tecnologia, reverter a fuga de cérebros e inclusive atrair talentos qualificados de todo o mundo que estão sendo barrados por políticas de imigração ou que querem sair devido a radicalização das tensões políticas internas lá fora.
Isso remete à nossa própria história, como a política de reserva de mercado nos anos 70 e 80 que, apesar das críticas, forçou certo grau de transferência de tecnologia para a instalação de empresas como a IBM.
Acho que a sua pergunta é muito interessante para pensar isso. E dá para pensar em outras parcerias. Não devemos nos limitar ao eixo EUA-China. A Europa, embora perdendo terreno em plataformas digitais, ainda possui peso regulatório significativo e poderia ser um parceiro em iniciativas conjuntas, apesar dos acordos atuais muitas vezes reforçarem nossa dependência. Iniciativas Sul-Sul e dentro da própria América Latina, como o desenvolvimento de infraestruturas digitais federadas, também são possibilidades.
Países como Japão e Coreia do Sul, que têm menor dependência de plataformas americanas (pense no aplicativo LINE no Japão), são exemplos interessantes. Temos um histórico centenário de cooperação técnica com o Japão (Embrapa, Usiminas) que poderia ser mais explorado.
Até mesmo a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) possui um diálogo sobre regulação de mercados digitais do qual o Brasil não participa por falta de uma entidade regulatória própria nessa área. Isso mostra que países como Angola, Moçambique e Cabo Verde estão, em certo sentido, avançando em arenas onde nós estamos ausentes.
Por fim, a industrialização brasileira dependeu também de imensa mobilização popular: não existiria a Petrobras. Imagina o impacto, em termos de desenvolvimento tecnológico brasileiro, dessa ausência sem a campanha do Petróleo é Nosso que, para derrotar o status quo, precisou unificar de generais a estudantes. Os trabalhadores da tecnologia podem cumprir um papel fundamental nessa discussão e oferecem as condições de conhecimento para amplo desenvolvimento local brasileiro diante da potencial fragmentação das cadeias globais de produção atuais, mas essa discussão não avança sem um debate e mobilização mais amplo.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras


