Os sinais que o ocidente não vê
Após as manifestações no mundo Árabe, quatro governantes apareceram nas televisões para dizer que não se candidatarão à reeleição, reagindo diferentemente a Síria salvou se como a única exceção
Publicado 09/02/2011 às 16:51
Por Sami Moubayed, Asia Times Online | Tradução Coletivo Vila Vudu
DAMASCO. Em menos de um mês, quatro governantes árabes apareceram nas televisões para dizer que não se candidatarão à reeleição quando expirarem seus mandatos constitucionais.
Começou com Zine el-Abidine Ben Ali da Tunísia, que tentou entrar numa batalha perdida com jovens tunisianos irados e foi derrubado do poder dia 14 de janeiro, apenas 24 horas depois de pronunciar o hoje famoso discurso “Eu vos entendo”. O velho Ben Ali, 74 anos, estava no poder desde 1987 e planeja continuar, reeleito em 2014.
Depois foi o decadente, Hosni Mubarak, 83 anos, senil, presidente do Egito. Enfrentando revolta semelhante – que prossegue e chega hoje ao 16º dia, nas ruas do Cairo – Mubarak anunciou que não se candidataria a um sexto mandato presidencial ao final do atual mandato que expira em setembro.
Mubarak demitiu o governo de Ahmad Nazzif, prometeu reformas e anunciou que não passaria o poder ao filho, Gamal, 50 anos, empresário influente. Depois de governar com mão de ferro desde 1981, as reformas de Mubarak são fracas demais e vêm tarde demais, face às aspirações do indignado povo egípcio.
Depois, dia 2 de fevereiro, foi a vez de Ali Abdullah Saleh, 69 anos, presidente do Iêmen, que também anunciou que deixará o poder em 2013 e não passará a presidência ao filho, Ahmad Saleh. Ali Abdullah Saleh governa o Iêmen há 33 anos, desde 1978.
E por fim (até agora), o primeiro-ministro do Iraque Nuri al-Maliki, 61 anos, declarou que não se candidatará à reeleição, quando os iraquianos voltarem às urnas, em 2014.
Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, e em menos de um mês, o poder das ruas no mundo árabe derrubou o governo do primeiro-ministro da Jordânia Samir al-Rifaii; e, no Líbano, caiu constitucionalmente o governo de Saad al-Hariri.
Alguma coisa está mudando, muito depressa, no mundo árabe; mais depressa, talvez, do que o ocidente e seus déspotas senis conseguem digerir. As multidões que ocupam as ruas e derrubam regimes – ou os forçam a fazer reformas sérias – são jovens, homens e mulheres, a maioria com menos de 25 anos de idade.
Em Túnis, Ben Ali tentou conter os tumultos à força; depois, com prisões em massa. No Egito, os capangas de Mubarak espancaram manifestantes, com porretes e chicotes e os atacaram com espadas. Quando nada disso funcionou, homens à paisana, misturados à multidão, abriram fogo contra os manifestantes. Nada disso conseguiu conter o decidido movimento das ruas, nem fez arrefecer a ânsia por mudanças.
A menor diferença de idade entre os manifestantes e os ditadores aconteceu no Iraque, e é de mais de 35 anos. Mubarak tem idade suficiente para ser avô da maioria dos que protestam na praça Tahrir no Cairo, todos evidentemente fartos de enfrentá-lo.
Mubarak diz coisas que o povo já não quer ouvir e fala língua que a praça já não entende. Acrescentando insulto à injúria, os jornais informam que Mubarak, por exemplo, acumulou fortuna pessoal de 70 bilhões de dólares – riqueza de proporções astronômicas, em país no qual milhões têm de sobreviver com menos de 2 dólares por dia. Por três décadas, o regime de Mubarak recebeu aproximadamente 30 bilhões de dólares dos EUA, nenhum dos quais chegou ao bolso dos egípcios comuns, porque todos foram diretamente embolsados pela oligarquia reinante que cerca o presidente.
A maioria dos manifestantes é solteira, não têm mulheres ou filhos pelos quais temer, e estão fartos de viver cercados por corrupção, miséria, nepotismo e total descaso com suas repetidas demandas.
Chama a atenção também que nem na Tunísia nem no Egito, há líderes para orientar as manifestações, como aconteceu quase sempre nas grandes revoluções. Não há Vladimir Lênin como houve na luta contra o absolutismo russo, nem há aiatolá Ruhollah Khomeini como houve no Irã, nem há Gamal Abdel Nasser para liderar os jovens árabes, agora.
No Egito, não há motivação ideológica ou religiosa: o movimento não é islamita, nem comunista, nem marxista, nem capitalista. Não se viram clérigos de turbante pondo abaixo um monarca autocrático, como no Irã em 1979. Tampouco se viram galantes jovens oficiais do exército derrubando um igualmente galante jovem rei, como no Egito em 1952.
Não se vêem, no Cairo, tanques americanos ocupando capital árabe para derrubar ditador que os mesmos tanques americanos puseram e mantiveram no poder durante anos, como no Iraque em 2003.
Ao que parece, os manifestantes da Praça Tahrir não foram arrastados à ação política contra a tirania movidos por qualquer tipo específico de literatura. Não houve manifestos clandestinos, tipografias clandestinas imprimindo cartazes em porões, rodando panfletos que militantes ‘conscientizados’ tenham distribuído para a população, nem discursos incendiários que se divulgavam por rádios clandestinas ou estúdios de televisão estatal ou comercial temporariamente ocupados.
O movimento do Cairo foi disparado por mensagens de SMS e tweets que circularam por grupos das redes Twitter e Facebook. Todos produzidos no contexto da efêmera literatura “virtual”, que é rapidamente apagada ou esquecida para sempre no mundo das relações online.
Acabou-se o mundo árabe que o ocidente conheceu, no qual as massas eram hipnotizadas e arrastadas à adesão cega a regimes autoritários. Está acabado e não ressuscitará. Por mais de 40 anos, três gerações nasceram e envelheceram convencidas de que não conseguiriam alterar a realidade miserável que conheciam, porque eram governados por governos impostos e preservados pelos EUA.
Esse “fator EUA” é o denominador comum que liga entre eles os ditadores Mubarak, Hariri, Ben Ali, Makiki e Saleh. Todos trabalharam servilmente para consecutivos governos nos EUA, combatendo o comunismo durante a Guerra Fria, o “Khomeinismo” no Irã depois de 1979 e o fundamentalismo islâmico depois de 11/9.
Todos adotaram posições impopulares contra movimentos muito populares a favor da resistência na Palestina e no Líbano, e essas posições foram levadas para todos os lares árabes, por canais de televisão árabes como a rede al-Jazeera. Resultado daquelas atitudes que todos esses ditadores tomaram em todo o mundo árabe, sempre contra a resistência e a favor de Israel e dos EUA na Palestina e no Líbano, todos esses ditadores enfrentam destinos semelhantes em um único fatídico mês de janeiro de 2011.
Única exceção talvez seja a Síria. Semana passada, ativistas convocaram, pelo Facebook, o que chamaram de um “Dia de Fúria” em Damasco, semelhante aos que se convocaram na Tunísia, Jordânia e Egito. Jornalistas ocidentais voaram rumo à Síria, para presenciar o drama do povo sírio que estaria “derrubando o governo”.
Perderam a viagem. Não houve sequer uma manifestação de rua em toda a Síria. No ocidente, houve quem esperasse que as ruas fossem ocupadas por manifestantes e que houvesse confronto com o governo sírio. Não viram sequer um confronto, pequeno que fosse – e por várias boas razões.
Uma dessas razões é que, diferente nisso de Mubarak ou Ben Ali, o presidente Bashar al-Assad, 44 anos, da Síria, é governante muito popular, sobretudo entre os mais jovens.
Os jovens sírios, diferentes dos jovens tunisianos ou egípcios, confiam em seu presidente e o vêem como seu próximo, como um deles, como alguém que trabalhou muito, por dez anos, para melhorar a renda do país, para criar novos empregos, para criar uma sociedade mais moderna, enfrentando e superando as mil e uma armadilhas que os EUA lançaram em seu caminho.
Em resumo, Assad é o homem que promoveu universidades privadas e bancos privados, mas que, simultaneamente, elevou os salários e lançou as sementes de uma hoje emergente classe média síria, que floresce nos esportes, na Internet, na mídia privada diversificada, em sociedade na qual as ONGs têm espaço e voz realmente independentes do Estado.
Recentemente, por exemplo, o governo de Assad criou um fundo para financiar a assistência a 450 mil famílias que viviam em situação de miséria, e aprovou aumentos de 100% no salário mínimo ao longo da última década. Além disso, enquanto Mubarak vive num bunker no Cairo, Assad é presidente acessível, que é seguidamente é visto entre os sírios comuns, jantando com a mulher e os filhos, dirigindo seu carro pela cidade, que freqüenta teatros, cinemas, exposições e shows.
O presidente al-Assad anda próximo ao povo, pelas ruas, quase diariamente, ouve a rua, conhece as preocupações e trabalha para atender as demandas da rua. A posição de apoio ao Hamás em Gaza e ao Hezbollah no Líbano o fazem muito admirado e popular na rua síria, prestígio que só aumenta por al-Assad não se ter rendido à violenta pressão dos EUA durante os difíceis anos do governo de George W Bush.
As posições do presidente Assad sobre o arabismo e a resistência explicam, por exemplo, que o jornalista egípcio al-Tahrir Rahaf Talaattenha dito em Midan, recentemente, que esperava que “algum dia o Egito tenha um presidente como Bashar al-Assad.”
O fato de ser jovem o torna ainda mais popular em país no qual mais de 60% da população tem menos de 25 anos.
Por fim, também diferente do que se vê no Egito e na Tunísia, a oposição síria não encontrou nenhum nome que se aproxime de Assad em termos de inteligência política, carisma, visão e popularidade. Mubarak e Ben Ali e os demais são velhos demais, senis. A oposição síria é ou marxista ou Ba’athista, discursos que já expiraram entre os jovens sírios; ou são islamitas que, na Síria, são desorganizados ou impopulares.
Por fim, a rua síria vê Assad como estadista e líder político inteligente – o homem que enfrentou Bush dos EUA e Jacques Chirac da França, derrotou-os e sobreviveu para contar a história.
Sami Moubayed é editor-chefe da revista Forward, Damasco
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras



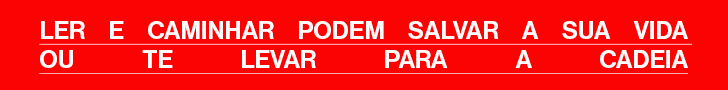
Amigos brasileiros que são netos e filhos de sírios ao contar sobre a viagem à Síria há algunes anos atrás, relatam que sentiram um autoritarismo que os lembrou os anos de chumbo no Brasil! Então eu pergunto; há possibilidade deum cidadão sírio criticar o governo e não ser preso?