A revolução e a aurora
Um almirante negro, uma peça-cortejo encenada no Rio e um poeta sugerem refletir sobre valor das “cheganças”, na tradição popular e na História
Publicado 19/11/2014 às 09:15
Por Theotonio de Paiva
—
Assista à peça:
Chegança do almirante negro na pequena África
23 de novembro de 2014, às 17h
no Cais do Valongo
Zona Portuária do Rio de Janeiro – RJ
—
Seria toda revolução uma aurora?
Oswald de Andrade, Um homem sem profissão
Ao longe, vemos se aproximar um grande cortejo. São atores, bailarinos, músicos, que surgem da direção do cais. São tantos que a vista se perde em contar. Em seus passos cadenciados, embalados por uma velha melodia, atravessam uma larga via expressa. Talvez nos queiram dizer que aquela caminhada começou nos desvãos do mundo. No alto, trazem um caixão envolto com a bandeira do Brasil. Parece tratar-se de um herói. Mas que herói seria esse que entidades míticas reverenciam dessa maneira, a ponto de virem à frente, abrindo os caminhos?
O destino do teatro é andar. Assim, muitos se erguem às alturas, caminhando em pernas de pau, equilibristas de um destino, como os gigantes das velhas fábulas. Observados mais de perto, julgamos, pela doçura dos seus olhares, dos seus meneios, que, ao trazerem costumes religiosos antiquíssimos, aliados às fontes pagãs, não reverenciam uma personagem qualquer.
E isso nos faz pensar que também o tempo é outro e precisa ser mais bem compreendido, pois se divide em diversas possibilidades e criações. Desse modo, na narrativa da Chegança do Almirante Negro no Mar da Pequena África, sobressai de imediato o tempo da celebração.
Dança dramática revisitada pela Grande Companhia Brasileira de Mysterios e Novidades, sob a direção de Ligia Veiga, numa dramaturgia a partir de textos da diretora em parceira com Edmilson Santini, espetacularmente a ela se une um outro tempo, aquele da história concreta.
O primeiro é um tempo arcaico, ao passo que, no último, estamos distantes apenas de um século, num Rio de Janeiro, capital do país na época, que se transformava rapidamente. E é por aí que o sagrado e o profano se entrelaçam.
Naqueles primeiros anos de uma era dos extremos, a cidade, capital de uma jovem república, tendo dobrado a sua população na década anterior, contabilizava a marca de um milhão de habitantes. O impacto disso no papel a que se destinava o Rio de Janeiro irá se potencializar com as obras da reforma do porto e a construção do cais.
E essa ação não acontecia de forma a levar em consideração os interesses de amplos setores da população, sobretudo das classes subjugadas. Muito ao contrário. E se dava a conhecer através dos morros arrasados, das avenidas cortadas para darem vez somente aos moços e moças bem trajados da belle époque, pela destruição de abrigos e casas populares, curiosamente no suporte da lei que constrangia cidadãos.
Essa calculada ação do Estado, que ficou conhecida como bota-abaixo, foi ordenada a partir de um conceito visando a implantação do progresso e da civilização em termos definitivos. Se quisermos entender um pouco mais o que estava acontecendo, precisaremos levar em consideração o processo que as regiões periféricas ao desenvolvimento industrial iriam experimentar, num quadro que consagrava a hegemonia europeia por todo o planeta.
Assim, ao se transformar numa capital que se queria majestosa, com ares parisienses, abandonando os antigos contornos mouriscos, herdados da cultura ibérica, a cidade, inconsequentemente, via seus filhos serem expulsos do seu próprio mundo.
Num contraponto a esse estado de coisas, curiosamente se ergue o cortejo na antiga porta de entrada da cidade. Exatamente ali, naquele trecho da nossa costa, onde os navios estrangeiros outrora atracavam e despejavam levas de homens e mulheres d’outras terras. Interessante lembrar que foi exatamente essa condição uma das armas de convencimento para a grande transformação urbanística daqueles primeiros anos.
Encenado numa tarde de outono, num domingo, na antiga Praça Mauá, em frente ao Museu de Arte do Rio – MAR, a Chegança do Almirante Negro deixa claro que irá nos revelar, melhor, tirar o véu das nossas sabenças confusas e mais estupidamente imediatas. E é aí, quando aquela rude pergunta repousa de novo: quem é esse almirante negro? Talvez fosse melhor começar sabendo o que ele não é.

Marinheiros amotinados no couraçado “Minas Gerais”, em 1910. “Revolta da Chibata” foi comparada por Oswald de Andrade a levante russo na revolução de 1905
Estamos distantes daquelas figuras que, num passado não muito remoto, rapidamente se transformavam em efígies de poderosos, lambidas pelos dedos infantis nas páginas dos livros escolares. Nada de presidentes engalanados, donos da pátria, acadêmicos, marechais de ferro, poetas de sobrecasaca, ou heróicos bandeirantes que se glorificaram em “adquirir o tapuia gentio-brabo e comedor de carne humana”. Nada disso encontraremos nas vestes brancas de um estranho chamado João. A bem da verdade, a imagem do herói é cerzida no manto de uma fidalguia popular.
E o espanto que nos faz admirar tão velha criação humana, em parte, se dá por conta dos seus realizadores tomarem para si o papel de presentificar o mito, numa vasta e portentosa celebração/representação. E, assim, na sua alegria descomunal, acenam todos aqueles marujos de araque, dando vivas como quem re-apresenta o que poderia ter sido e não foi. Orgulhosos de si e da fantasia que expulsam do ventre. Nela, veremos, adernando em navios espetaculares, o episódio da Revolta da Chibata e de seu líder João Cândido Felisberto, o almirante negro.
Trata-se, provavelmente, de um dos movimentos políticos mais significativos da era moderna do Brasil. Como se sabe, a Revolta foi organizada por militares da Marinha do Brasil, cujo planejamento, por cerca de dois anos, viria a explodir num intenso motim, durante a semana de 22 a 27 de novembro de 1910, na baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Fundamentalmente, ocorre numa reação aos intensos castigos corporais e ao oferecimento forçado do consumo de carne podre a que eram submetidos os marujos.
Não é difícil entrever, nesse quadro, uma espécie de renitência dos tempos do escravismo. Curiosamente, o escritor Oswald de Andrade, uma das mais expressivas testemunhas daquela revolta, irá comparar, em seu livro de memórias, Um homem sem profissão, a experiência narrada no filme Encouraçado Potemkim, de Sergei Eisenstein, às reivindicações dos marujos brasileiros. Vamos lá.
Como se fossem pelos ares, em galopes de pernas de pau, os atores e bailarinos criam embates, em danças e contradanças. Igualmente pelo ar, os músicos plantados no chão fazem revoar uma antiga toada dos marinheiros. Por anos seguidos, a canção fora associada a um verde-amarelismo ufanista, espécie de devotamento cívico, que mascarava dores e chibatas, quando não ostentava toda a sorte de opressão. No entanto, agora, toma-se novamente gosto por ela. Como se a velha melodia fosse devolvida aos seus legítimos senhores, duramente arrancada que fora por mãos inábeis, para dela cuidar de forma perversa e molestá-la. Isso talvez equivaleria a dizer que o nosso navio, ao menos numa vaga esperança, também flutua.
Mais à frente, desce o corpo à terra. Se o almirante está morto, é nesse momento que a sua história tem início. Contada por bufões, que se desdobram em inúmeros atores-narradores, é essa reinvenção que dará suporte ao mito, levando-nos a pensar naquela linha tênue, a separar toda a fantasia da história, e retornando pela imaginação em voos surpreendentes.
Mas, do quê exatamente eles falam? A chegança, que serve de suporte à narrativa, ao invés de contar a história de mouros e cristãos, como versa a tradição dos folguedos, inverte a roda. Dessa maneira, a tradição imemorial é posta a serviço de uma recriação sensível daquilo que originalmente pertencia a um mundo ibérico e que nos chegou pela audácia, o destemor e a violência dos colonizadores, abrasileirando-se indelevelmente, unificada que fora pelo trabalho marítimo.
Quando paramos para observar a Chegança do Almirante Negro, notamos, contudo, em sua narrativa, a presença de uma história de tempos profanos misturados a uma transcendência que se liga aos ritos dos antepassados negros, negros assim como o nosso herói. E exatamente por isso se diferencia, ainda mais, das cartilhas e murais canônicos. Cândido, aliás, nos é apresentado ainda menino, como um antigo negrinho do pastoreio, que um dia irá se juntar às armas, por força da precisão e de algum oculto desejo heróico.
Mas a sua história seria outra, de um outro heroísmo. Assim, nesse auto popular brasileiro ocorre toda a sorte de violências, castigos corporais, lutas e revoltas, compondo um quadro extremado e violentamente poético de esperanças de um novo tempo, naufragadas em novas esperanças desesperadoras. E será João o grande líder que irá conduzir aquela pequena frota e os homens.
O embate decisivo, quando as armas dos navios apontam para a cidade, traz clamores e revoltas de toda sorte, em torno daquela epopeia. Parte da população civil se vê convidada a se envolver e a decidir de que lado está, ou identificada com os marinheiros, ou com o poder do Estado. Não há meio termo.
Dessa maneira, a cena é invadida por personagens que medem forças políticas e indiretamente repensam o estado civilizatório em que nos chafurdamos. São populares, jornalistas, políticos e artistas. E ditadores disfarçados, marechais, representantes do grande capital, altas patentes. Bem-intencionados, cretinos, puros d’alma, malfazejos, oportunistas e covardes. Alguns cabem na história como maioria. Outros têm os seus nomes reduzidos a lembranças incômodas.
E, em meio a todo esse conflito, surge como um bálsamo do futuro o relato sereno e vigoroso de Oswald de Andrade. Numa noite, ainda jovem, ao sair da casa de amigos, em meio à Avenida Central, mais tarde Rio Branco, o poeta ouviu falar em revolução. O coração maravilhado e sedento de aventuras, pergunta: onde? E apontaram o mar. E do mar se escutava um “prolongado soluço de sereia”.
E novamente no cais, ao admirar uma baía que “esplendia com seus morros e enseadas”, o escritor, lá pelas quatro da manhã, naquela hora shakespeariana em que tudo pode acontecer, qualquer levante, qualquer virada radical no enredo, é acordado por um reles ladrão.
Encontrava-se nos jardins da Glória, perto da Praça Paris. Em frente, navios de guerra, todos de aço. Naquele momento, reconhece o encouraçado Minas Gerais, que conduzia a marcha, o São Paulo e mais um outro. E, simbolicamente, todos ostentavam, “numa verga do mastro dianteiro, uma pequenina bandeira triangular vermelha”.
E, assim, conduzido por um destino zombeteiro, o poeta estava “diante da revolução”. E ali, muito provavelmente, ainda distante do que aquilo efetivamente significava para a história do país, semearia a pergunta que um diria conseguiria exprimir, numa notável poética: “Seria toda revolução uma aurora?”
Os dois movimentos se integravam. A esperança dos homens por uma radical transformação do mundo, ainda alicerçada, segundo alguns, numa categoria mítica, e a expressão do próprio mundo que se revigora em seus nascimentos e mortes, em suas noites de frio e suas manhãs ensolaradas. E aí, desembocamos nas cheganças.
Em alguma medida, as cheganças, duramente construídas por séculos de sabedoria popular e semi-erudita, se combinam com uma tradição muito antiga, que envolve a dialética vida e morte.
Espantosamente, nelas testemunhamos um registro humano das expressões dos ciclos vitais. Surgem enquanto possibilidade de compreensão do homem diante de um mundo tão fascinante quanto assombroso. E ele próprio, homem, sujeito e testemunha dessa transformação, chega (de chegança), para lutar e contemplar. E era (e ainda é) esse o mundo do folguedo popular, considerado como um ato divinatório, a considerar a própria criação como uma expressão que se perde em tempos arcaicos.
No entanto, se olharmos bem, na Chegança do Almirante Negro no Mar da Pequena África esse ciclo é diverso da tradição popular. Vai além. Nem melhor, nem pior, mas opera num minuano que sopra para outros lados, provocando um refazimento daquilo que herdamos para aquilo que potencialmente somos enquanto nação brasileira. E se deixa levar, ao final, num novo cortejo que se encaminha para um outro tempo, de ressurreição do herói, cujos cantos ensejam o romper de uma nova aurora.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.



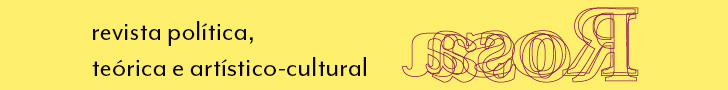
relato precioso. me senti transportada para esta recontação histórica. este outro olhar são mesmo outros quinhentos. valeu, theo.