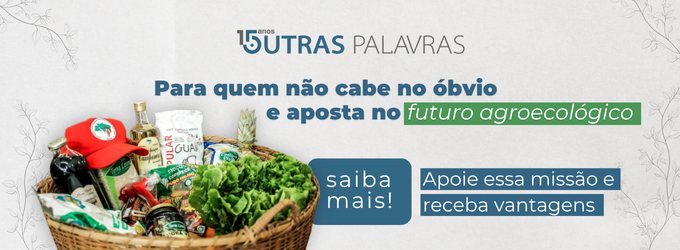Por um futuro exu-benjaminiano
Futuristas e aceleracionistas viam o porvir a partir do frenesi do “novo” – por vezes, de forma conservadora. E se o caminho fosse interpelar o passado, a partir das cosmovisões dos “vencidos”, para repensar os afetos, o tempo e as tecnologias?
Publicado 20/02/2025 às 19:30 - Atualizado 20/02/2025 às 19:36

Este texto integra o dossiê 312, O Lento Cancelamento do Futuro, da revista Cult, parceira editorial de Outras Palavras

Muito antes que Mark Fisher, lendo Bifo Berardi, anunciasse o lento cancelamento do futuro, Filippo Tommaso Marinetti apregoava em alto e bom som: “Estamos no promontório extremo dos séculos! Por que haveríamos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível?”. Turbinado por um aguerrido desprezo pelo passado, seu vigoroso Manifesto futurista se lançava na contramão do moralismo, do feminismo e da “gangrena fétida” de professores, arqueólogos e antiquários, propagando, aos quatro ventos, a obsolescência de museus, bibliotecas e academias, comparados a funerárias e cemitérios.
O ano era 1909. Contra a tradição, a memória e a História, Marinetti e seus compatriotas entoavam loas ardentes a uma nova beleza disparada pelo culto onipresente da velocidade. Segundo eles, “a literatura exaltou até hoje a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono. Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo de corrida, o salto mortal, o bofetão e o soco”. Não por acaso, sua ode viril e militarista à combatividade da arte levaria seus jovens e fortes adeptos a uma grandiloquente apologia da estética da guerra como única higiene do mundo. E avisavam: “É da Itália que nós lançamos este nosso manifesto de violência arrebatadora e incendiária, com o qual fundamos hoje o ‘Futurismo’ ”.
Vislumbrando na atitude pirômano-futurista o melhor exemplo de estetização da política posta em marcha pelos propagandistas da guerra, Walter Benjamin chama atenção para as desastrosas ressonâncias entre a iconoclastia poética defendida pelo movimento e o ideário bélico que tantos estragos iria causar nas mãos dos líderes do fascismo italiano – ao qual Marinetti posteriormente viria a se filiar – e, da mesma forma, do nacional-socialismo alemão dos anos 1930. No famoso ensaio “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”, Benjamin escreve: “ ‘Fiat ars, pereat mundus’ [que a justiça seja feita, ainda que o mundo pereça], diz o fascismo e espera que a guerra proporcione a satisfação artística de uma percepção sensível modificada pela técnica, como faz Marinetti. É a forma mais perfeita do art pour l’art [arte pela arte]. Na época de Homero, a humanidade oferecia-se aos deuses olímpicos; agora, ela se transforma em espetáculo para si mesma. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Eis a estetização da política como a pratica do fascismo. O comunismo responde com a politização da arte”.
Enquanto Walter Benjamin via no cinema a chance de atualizar a vocação política da arte para tocar as massas por meio de uma sensibilidade transformada pela técnica, Fredric Jameson, já no final do século 20, iria questionar tal prognóstico de renovação da humanidade, levando em conta o esgotamento do “novo” diante da persistência pós-moderna de uma certa tendência retrô mesmo em filmes altamente tecnológicos, como Star Wars. Para o crítico de arte estadunidense, películas como essa foram concebidas como sintoma patológico do declínio da historicidade responsável por camuflar seu anacronismo pelo uso abundante de efeitos especiais encarregados de proverem uma roupagem hipermoderna a uma forma estética irredutivelmente arcaica. Portanto, nada menos revolucionário. Em vez de modificar radicalmente a percepção da realidade, o resultado é a promoção de uma espécie de “modo nostalgia” a indicar nossa incapacidade de focar no aqui e agora e, assim, alcançar uma representação estética da nossa própria experiência presente.
Nesse ponto, podemos entender Mark Fisher quando ele afirma que, ao contrário da atmosfera moderna, dinâmica e criativa do século anterior, a cultura do século 21 é marcada pelo anacronismo e pela inércia. Sinalizando uma diferença fundamental em relação à atitude radicalmente inovadora das vanguardas artísticas, ele adverte: “Mas essa estase foi sepultada, enterrada embaixo de um frenesi superficial no movimento perpétuo da ‘novidade’. A ‘desordem do tempo’, a combinação de outras eras, não é mais digna de comentário; prevalece tanto que deixou de ser notada”. Se, em 2009, citando Jameson, Fisher havia postulado que “é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”, em Fantasmas da minha vida: Escritos sobre depressão, assombrologia e futuros perdidos, de 2016, ele constata: “A memória cultural não parece capaz de encontrar novas formas – é como se a música, o cinema e a arte estivessem agora presos em loops infinitos de reciclagem e repetição. A sensação é a de que o tempo parou e o futuro desapareceu”.
Assim, o resgate do futuro e o libelo contra a estagnação do presente não permanecem circunscritos à aurora do século 20, ecoando, mais de 100 anos depois, na voz metálica, veloz e furiosa do não pouco heterogêneo movimento aceleracionista. Redigido em 2013, o #Acelerar Manifesto reclama a si a tarefa de recuperar futuros possíveis perdidos para o neoliberalismo, revisitando o clamor dos futuristas pela velocidade, a partir de então, a serviço de uma nova hegemonia assentada em uma plataforma tecnossocial pós-capitalista em condições de lidar com problemas globais como a deflação das expectativas revolucionárias, a hegemonia do trabalho precarizado e o implacável colapso ambiental, entre outros.
Daí postularem sem concessões: “O futuro precisa ser construído. Ele foi demolido pelo capitalismo liberal e reduzido a uma promessa barata de grande iniquidade, conflito e caos. Esse colapso na ideia de futuro é sintomático do status histórico retrógrado de nossa época. […] O que o aceleracionismo estimula é um futuro que é mais moderno – uma modernidade alternativa que o neoliberalismo é inerentemente incapaz de gerar. O futuro deve ser aberto mais uma vez, ampliando nossos horizontes para as possibilidades universais do Lado de Fora”.
No entanto, ainda que o apelo a um futuro alienígena constituído por formas mais dinâmicas, fluidas e indeterminadas de existência coletiva seja um clamor partilhado também por pós-humanistas e xenofeministas, o aceleracionismo, tomado em conjunto, se assemelha menos a um movimento organizado do que a um desconexo e incoerente “balaio de gato”. Tanto que podemos falar em um aceleracionismo de esquerda, representado por Alex Williams, Nick Srnicek e Benjamin Noys, mas também é possível identificar em seu bojo uma ala de direita, ou mesmo de extrema direita, bastante ativa, sobretudo nos Estados Unidos.
Um dos expoentes mais importantes da facção antidemocrática é Nick Land, que aborda a relação entre capitalismo, tecnologia e futuro de forma bastante pessimista. Para ele, não há soluções fáceis para uma situação inescapável em que o mercado e os dispositivos tecnológicos se sobrepõem à agência de sujeitos autônomos dispostos a assumirem o controle sobre suas próprias vidas. “O futuro não é um lugar para o qual nos movemos, mas algo que está sendo puxado em nossa direção pelo aumento da aceleração do capital e da inovação tecnológica. É um processo de descontrole, não um destino”, pondera ele com base em um horizonte pós-humano, no qual a inteligência planetária se desacopla da vida orgânica como nós a conhecemos. Em seu influente The Dark Enlightment [O Iluminismo das trevas], ele é enfático: “A modernidade 2.0 é a principal estrada do mundo para o futuro. Isso depende de o Ocidente parar e reverter praticamente tudo o que vem fazendo há mais de um século, com exceção apenas da inovação científica, tecnológica e empresarial”.
A consequência mais imediata desse pletórico estado de coisas é, paradoxalmente, a aposta na construção de um futuro conservador, ou mesmo reacionário, acionado pela perspectiva de restauração de formas de governo mais permanentes e estáveis como a monarquia e a ditadura tecnocrática. Essa é a visão de Mencius Moldbug, pseudônimo de Curtis Yarvin, personagem envolvida na invasão do Capitólio no fatídico 6 de janeiro de 2021. Cientista da computação, Moldbug se apresenta como o próprio “anti-Chomsky”, ou seja, como o belicoso porta-voz de tendências assumidamente antidemocráticas e antimodernas como o Neorreação (NRx) e a Alt-Right estadunidense. Já na introdução de seu blog Unqualified Reservations, ele proclama: “A essência de qualquer reação do século 21 é a unidade destas duas forças: a mentalidade da engenharia moderna e o grande legado histórico do pensamento pré-democrático antigo, clássico e vitoriano. O adepto, para alcançar a iluminação reacionária, observa que ambos produzem o mesmo resultado. O que pode ser, senão a verdade, que todos os homens bons procuram? Armada com essa fé segura e destemida, a Reação vence tudo”.
A propósito, um contundente posicionamento crítico, contrário, ao mesmo tempo, ao historicismo narcótico e à ideologia do progresso, é, de novo, o de Walter Benjamin – sim, o “velho” materialista dialético associado ao Instituto de Pesquisa Social, que redigiu derradeiramente suas célebres teses Sobre o conceito de História. Nesse escrito que já foi considerado seu testamento intelectual, o pensador marxista defende a tarefa de escovar a História a contrapelo. Isso para que o presente responda às interpelações do passado a fim de reunir vestígios, registros e narrativas perdidas sobre futuros pretéritos a partir da perspectiva dos vencidos, e não mais dos vencedores.
Nessas teses, esboçadas em 1940 – portanto, no auge da campanha hitlerista em prol da construção de um novo tipo de homem –, Benjamin já se dava conta das insuficiências do combate ao fascismo alemão com base apenas na rejeição de seus aspectos mais regressivos, como o culto às tradições germânicas e ao mito da superioridade da raça ariana. Em vez disso, o autor ressalta o imperativo de pôr em xeque não apenas a tentativa de reconstituição de um Império de mil anos, mas a própria temporalidade linear, progressiva e homogênea sobre a qual é traçada uma linha do tempo horizontal orientada, unidimensional e irreversivelmente, do passado em direção ao futuro – o qual é visto com grande otimismo, já que melhor e mais desenvolvido, porque mais avançado e moderno.
Se na conhecida tese de número nove o filósofo se vale do quadro Angelus Novus, de Paul Klee, para elaborar uma instigante alegoria do progresso como fenômeno natural ou tempestade que sopra em direção ao futuro, na tese de número oito ele contesta a premissa de o progresso ser um irrevogável destino histórico: “A tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ no qual vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de História que dê conta disso. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceção; e graças a isso, nossa posição na luta contra o fascismo se tornará melhor. A chance deste consiste, não por último, em que seus adversários o afrontem em nome do progresso como se este fosse uma norma histórica. O espanto em constatar que os acontecimentos que vivemos ‘ainda’ sejam possíveis no século 20 não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no início de um conhecimento, a menos que seja o de mostrar que a representação da História de onde provém aquele espanto é insustentável”.
O autor nos mostra, pois, que é preciso abandonar a própria ordem temporal de passado-presente-futuro para interromper o continuum dos opressores preservado e transmitido por uma cultura hegemônica alheia à barbárie da qual se mostra indissociável. Com tal propósito em mente, Denise Ferreira da Silva, lendo Walter Benjamin, argumenta sobre a urgência de demolir os pilares que ainda sustentam o que ela se refere como ontoepistemologia moderna – estruturalmente colonial, racista e ecocida – para que sejamos capazes de imaginar outros mundos para além do enquadramento capitalista desenhado com base na falácia de uma dívida impagável.
Mesclando a dialética benjaminiana com o afrofuturismo de Octavia Butler, ela busca com a (po)ética negra feminista desmantelar “a lógica perversa que oclui a maneira como, desde o fim do século 19, a racialidade opera como um arsenal ético em conjunto – por dentro, ao lado, e sempre já – a/diante das arquiteturas jurídico-econômicas que constituem o par Estado-capital”. Desse modo, Ferreira da Silva nos leva a lidar com múltiplas temporalidades entrelaçadas em estratos ou camadas em que passados não realizados interpelam o presente com vistas a um futuro saturado de agoras. Atento aos cruzamentos de tempos e espaços abertos ao que nunca foi, Luiz Antonio Simas situa Benjamin na encruzilhada de Exu, que acertou uma ave ontem com uma pedra que só atirou hoje: “O pássaro do passado só pode ser alcançado com a pedra que lançamos hoje; seu voo é incessante. Exu não vai ao ontem porque sabe que (nas espirais do tempo) é no presente que a pedra é lançada em busca do pássaro que, em seu voo incerto, pousará no futuro”.
Ou seja, o resgate de ancestralidades quase apagadas pela modernidade ocidental não é de modo algum incompatível com a preocupação por um futuro sustentável para todos os seres humanos e não humanos que coabitam a Terra. Pelo contrário. Talvez seja essa a nossa única saída dos impasses que hoje tanto nos angustiam, como as mudanças climáticas ou as catástrofes ambientais.
Assim, numa atualização do fragmento pré-socrático “tudo flui, nada permanece o mesmo”, poderíamos tomar o rio sinuoso de Heráclito, que a tudo transforma, como o próprio fluxo do tempo. Com isso, quem sabe, chegaríamos de volta ao Futuro ancestral de Ailton Krenak: “Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Gosto de pensar que todos aqueles que somos capazes de invocar como devir são nossos companheiros de jornada, mesmo que imemoráveis, já que a passagem do tempo acaba se tornando um ruído em nossa observação sensível do planeta”. Portanto, contra o antinaturalismo tecnocrático de futuristas e aceleracionistas, e com o legado exu-benjaminiano e a sabedoria prática dos povos originários, “sejamos água, em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar o rumo, ou estaremos perdidos”.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras