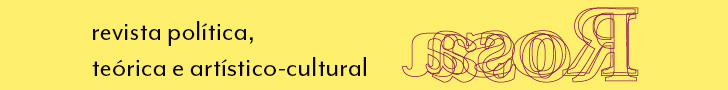Comuns e patrimônio: contra a privatização do futuro
O avanço tecnológico deflagra novas zonas de confronto entre a mercantilização e o bem comum. Os diretamente atingidos soam o primeiro alarme, a indicar onde está a fronteira da luta pelo que é valioso para o conjunto da humanidade
Publicado 16/03/2022 às 20:40

Por Antonio Lafuente | tradução de Maurício Ayer
Falar dos bens comuns se tornou tão frequente quanto necessário. Sendo assim, cabe perguntar qual o motivo desse redescobrimento. A resposta mais rápida tem a ver com o fato de que até não muito tempo atrás esses bens eram confundidos com os bens públicos. O Iluminismo e o primeiro liberalismo trataram de nos convencer de que os bens comuns jamais estariam tão seguros como nas mãos do Estado. E mais ou menos todos nós acreditamos neles até testemunharmos os primeiros grandes processos de privatização a partir da década de 1980. Margaret Thatcher se esforçou em tornar impraticável por mais tempo a confusão entre os bens legislados para todos e os bens que foram construídos entre todos.
A defesa do público tornou óbvia a existência oculta do comum. Exigir a escola, um teto, a atenção primária ou as praças nos ajudou a entender que não podíamos considerar esses bens como meros recursos. Também aprendemos que, embora esses bens fossem geridos por interesses privados, o Estado não poderia inibir-se, pois afora a propriedade do bem havia muitas outras coisas para regular, proteger e implementar. O comum, então, afastado da obsessão pela titularidade e mais próximo da ideia de responsabilidade, podia ser imaginado como uma forma de nos relacionarmos sem mediação, auto-organizada e orientada à convivialidade. Aquilo que as crianças faziam no parque, os velhos nos bancos públicos, as mulheres nos mercados, os trabalhadores na cafeteria, os paroquianos no átrio e as pessoas na festa conformavam um mundo que não apenas estávamos aprendendo a valorizar, como também logo sentimos que estava ameaçado.
Hoje temos até uma maneira de nos referirmos a todas essas atividades informais. Conformavam a chamada economia dos cuidados e já nem se discute a sua importância. A pandemia deixou mais evidente que nunca essa riqueza oculta das nações. E é estranho que, com tudo o que aprendemos sobre os confins do universo, os mais ínfimos recônditos da matéria ou as mais intrincadas conexões neurais, genéticas ou bioquímicas no corpo, saibamos tão pouco a respeito dessa argamassa relacional que nos mantém unidos e que é uma construção anônima, histórica, inalienável, ubíqua, frágil e, hoje diríamos, essencial. É tão importante que deveríamos começar a considerá-la uma espécie singular de patrimônio a se cuidar. Chamamos de Procomum, para resgatar uma palavra antiga que caiu em desuso e que é preferível à noção de bem comum, porque não evoca uma coisa bem delimitada, mas sim um processo em marcha.
As relações entre o Procomum e o patrimônio estão diretamente vinculadas ao sentido que damos à ação de patrimonializar, um termo sempre associado à ideia de atribuir propriedade(s) às coisas e, entre elas, as que identificam os titulares de direitos. Assim, patrimonializar um objeto implica uma dupla mobilização: inseri-lo na ordem jurídica que reconhece seus donos e, paralelamente, inseri-lo em uma ordem simbólica, científica para expressar maior precisão, que determina seu valor ou, em outras palavras, que especifica em que sentido se trata de uma peça singular ou valiosa. Dito de outro modo, conhecemos o valor de uma coisa quando ela circula por duas redes diferentes e, frequentemente, complementares: uma que apura suas propriedades técnicas e outra que protege os seus proprietários legais. Um objeto, enfim, está bem definido quando pode transitar sem obstáculos (sem ser barrado por suas impurezas, irregularidades ou ambiguidades) e correr com facilidade pelas redes do mercado (que põem, ao seu valor, um preço) e as redes de especialistas (que codificam sua relevância). Definir um objeto então é reduzi-lo às cifras: primeiro, parametrizá-lo e, depois, monetizá-lo.
O processo descrito relata a metamorfose que a modernidade reclama para que um objeto possa ser autenticado e depois incluído em suas múltiplas coreografias da beleza, verdade, bondade ou conforto. São muitas configurações que nos são propostas, mas aqui vamos nos centrar nas duas menos discutidas: a museológica e a pedagógica. Ambas cumprem indubitáveis funções socializadoras, sendo sua principal missão fazer chegar até os leigos o cânone do que importa e do que nos interessa.
Nada ocorre porque sim, e também neste campo se requer um exército de curadores e pedagogos revoluteando sobre os objetos para inseri-los em uma proliferação de relatos possíveis e críveis: o museu nos fala com coisas e a escola, com casos; o primeiro com objetos e a segunda com exemplos, mas a formação discursiva que compõem é compartilhada. E não é difícil resumi-la em uma frase: tudo isso que compartilhamos nos museus representa o melhor que somos enquanto integrantes da humanidade. Visitá-lo e amá-lo nos ajuda, mesmo com tantas atribulações, a experimentar uma espécie de orgulho de origem. E é por isso que tanto insistimos em levar os nossos filhos ao museu ou em animá-los a ler nossos clássicos.
Não é raro então que esse imperativo imaginário que transmite ao conjunto dos cidadãos e cidadãs o valor e o mérito das coisas desde os centros do saber seja problematizado por sua mal dissimulada função disciplinar. O museu e a escola conformam valores, expandem habilidades e adestram sensibilidades. Ambas instituições se ocupam de fomentar o bom gosto e as boas práticas. E desde logo, para falar de bons costumes, valores estéticos, qualidades provadas ou ordem moral é imprescindível deter-se nas propostas dos mestres e nos conselhos dos professores; e isso sempre atravessa os santuários do patrimônio e os manuais de estilo, embora desemboque indubitavelmente nas indústrias culturais, projetadas para tirar proveito do enorme esforço por estabelecer as propriedades do que nos rodeia.
Com tal deriva, não é difícil entender os motivos pelos quais o patrimônio se tornou sustentável extrapolando as paredes que o confinavam em um espaço seguro. Sua expansão bulímica impôs a lógica da rentabilidade e, como consequência, a porosidade das fronteiras que queriam protegê-lo do mercado. Mais que preservá-lo para uma degustação refinada, minoritária e seletiva, o processo se ressignificou para inserir-se plenamente na oferta das indústrias do ócio, mesclando as paixões do bon vivant com as pulsões do consumista.
O efeito foi devastador pois nenhum valor pode resistir com vigência por várias temporadas. A cada ano é preciso reconfigurar os espaços ou, melhor dizendo, os conteúdos. É preciso renovar a oferta e atrair clientes. Poderíamos questionar a verticalidade dessas práticas, sempre um assunto de especialistas e de comitês, mas vamos manter o foco no desvio em direção à privatização do patrimônio: um desvio que converte os antigos especialistas públicos em técnicos de marketing, os curadores em agentes comerciais, os públicos em visitantes e, desde cedo, transforma os objetos em recursos, as exposições em performances e os museus em entertainment.
Não há volta atrás e deveríamos ser céticos em relação aos projetos que nos convidam à nostalgia. O que mais surpreende é o quão pouco lutamos para defender um modelo de cultura estruturado pela noção de patrimônio e seus santuários de referência. Houve lugares em que muitos cidadãos, nem sempre radicais, começaram a ser vistos como cúmplices do imperialismo, do racismo, do machismo e do elitismo em nossos países. O desinteresse cresce e cada vez fica mais difícil entendê-lo.
O patrimônio já não é o que era. Começamos por descrevê-lo como resultado de um processo que desvinculava as coisas de seus contextos. O importante era desenraizado e, com frequência, guardado longe de sua origem. Formavam parte de uma liturgia severa e distante, laica e abstrata, nacional e burguesa. Mas o número de museus não parou de crescer e sua manutenção reclamava outros modelos de gestão menos nacionalistas e mais tecnocráticos. E o gerencialismo impôs seus modos.
Os velhos patrimônios se reinventaram como objetos de desejo, formas inovadoras, coisas projetadas e propostas criativas. Desse modo, os velhos patrimônios, obrigados a mostrar-se em uma passarela de vaidades, devem aprender com a moda e dialogar com os comentaristas (dá vergonha chamá-los de críticos), assim como produzir emprego, atrair turistas e ser glamorosos. Os velhos patrimônios são tendência, estilo e novidade. De fato, estão já inseridos plenamente nas lógicas do mercado. Os museus não produzem conhecimento, vendem experiências.
Mas há novos patrimônios, emergentes associados à nossa capacidade de resistir à deterioração das formas coletivas de vida em comum. Os novos patrimônios têm a ver com o cuidado com o entorno, a aparição de novas patologias, a defesa da privacidade, a mercantilização do corpo, a injustiça espacial, a privatização de nossos dados, a expansão da desigualdade, a cronificação dos males, a precarização do trabalho, o maltrato animal, o cercamento da ciência, a mercantilização da cultura e a irrefreável degradação dos oceanos, do ar, da água, do solo, dos bosques ou do ciclo dos nutrientes. Acabaremos declarando patrimônio da humanidade o clima, as selvas, as montanhas, os rios, a polinização, a biodiversidade, a luz do Sol e o ângulo de rotação do eixo da Terra?
Os novos patrimônios não cabem em um edifício: não são musealizáveis. Em seu conjunto são garantias da vida coletiva e por isso provocam o surgimento de comunidades (de afetados) que se mobilizam em sua defesa. São comunidades emergentes que operam como sensores de alerta precoce, nos avisando de que algo está se deteriorando de forma inadmissível. O valor dos novos patrimônios é reclamado pelos impactados, que se associam na forma de movimentos sociais, coletivos cidadãos ou comunidades de aprendizagem. Sua emergência como grupos organizados é chave, mas não é suficiente. Para lutar por esses nascentes bens comuns precisamos entender melhor como podem surgir esses novos patrimônios.
Faremos isso com um exemplo. Quando pensamos no genoma humano como um bem comum estamos evocando indiretamente a existência de tecnologias que o tornaram acessível, primeiro para estudá-lo e depois para torná-lo alienável ou convertê-lo em um recurso dentro do mercado ou, alternativamente, para preservá-lo juridicamente das lógicas do custo /benefício. O exemplo vale também para introduzir a ideia de que os novos patrimônios podem ser reivindicados em todas as escalas da vida em comum (local, nacional, global), assim como nos servem para mostrar a profunda relação existente entre novos patrimônios e novas tecnologias.
Na realidade, o que aconteceu durante o nascimento dos velhos patrimônios não foi muito diferente do que estaria acontecendo agora. Também naquele tempo foi crucial a ciência moderna e toda sua parafernália de ferramentas de experimentação, conceituação e validação do saber. Sem o concurso desses instrumentos sofisticados nunca teríamos descoberto a miríade de propriedades (naturais) a registrar. Sem a ciência não saberíamos os muitos motivos pelos quais apreciar ossaturas enterradas, minerais ignorados, plantas projetadas, alimentos desconhecidos, remédios ocultos, conexões inesperadas e, enfim, todos esses signos até então inauditos, invisíveis ou inefáveis. O que agora temos é muito parecido, mas se move em uma escala gigantesca.
Podemos ir mais longe e virar o argumento do avesso, pois sempre que surja uma nova tecnologia assistimos, ao menos potencialmente, à possibilidade de novos acessos a parcelas do entorno desconhecidas ou inabordáveis e, em consequência, à provável identificação de outros recursos apropriáveis que poderiam ameaçar parcelas imprevisíveis da vida em comum. Se, por exemplo, alguém lograsse enviar satélites que orbitassem o espaço com a dupla propriedade de ver sem ser visto, estaríamos assistindo no mínimo à expropriação simultânea de dois bens: a privacidade e o espaço, para não mencionar um uso da ciência que a coloca em confronto com a ideia de bem comum. Se alguém imaginasse como combater as mudanças climáticas modificando o ângulo da rotação do eixo da Terra, acabaríamos nos questionando a respeito do direito de fazer isso e sobre qual autoridade concederia a permissão. Acabaríamos, com toda probabilidade, reivindicando a cifra que define o ângulo de rotação como um bem comum, como algo que é de todos e de ninguém ao mesmo tempo. E, de fato, os exemplos são infinitos: pois todos os dias poderíamos estar ingerindo alimentos produzidos com substâncias ou processos insuficientemente avaliados sem que estejamos em condições de afirmar sua inocuidade. Os bens comuns não são moda efêmera, são vida que se esfuma. Não são nosso passado, estão em nosso futuro. E reivindicam um novo pacto social pela ciência, porque ao mesmo tempo que são coisas de engenheiros, também são de humanistas.
Na realidade, só detectamos bens em perigo quando surgem comunidades de afetados que se mobilizam porque necessitam tornar crível ou visível sua queixa ou ameaça, mostrando a relação existente entre a introdução de um novo dispositivo ou produto e a aparição de novos danos ou males. Recapitulemos. Os novos patrimônios, os bens comuns, estão associados à convergência de um triplo movimento: a aparição de uma nova tecnologia, emergência de uma comunidade ameaçada, mobilização de um coletivo em luta. Por fim, os bens comuns não nascem para satisfazer certa nostalgia de um paraíso perdido, mas sim estão conectados com o mais avançado no campo do conhecimento, assim como o mais inovador no âmbito da política.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras