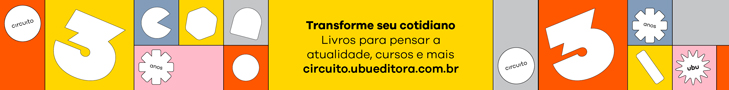Os oito odiados, réquiem pelos Estados Unidos
No novo filme de Tarantino, o parece nascer é uma nação dilacerada, de todos contra todos, em que cada um se move apenas pelo ódio e cobiça
Publicado 08/01/2016 às 18:02 - Atualizado 15/01/2019 às 17:52
No novo filme de Tarantino, o que parece nascer é uma nação dilacerada, de todos contra todos, em que cada um se move apenas pelo ódio e cobiça
Por José Geraldo Couto, no blog do IMS
Pois bem, falemos de Tarantino e de seu Os oito odiados. No Brasil, para começar, temos uma experiência mutilada do filme, pois não há mais no país cinemas capacitados a exibir películas de 70mm, formato em que a obra foi concebida. Há também a tradução infeliz do título, uma vez que o hateful original está mais para “odiosos”, “detestáveis” ou, alternativamente, “cheios de ódio”.
Passemos ao largo disso tudo. Segue a carruagem, aliás, a diligência. Assim começa o filme: uma diligência no meio do nada, ou melhor, da neve. Nela vão se juntar homens singulares: caçadores de recompensas, uma criminosa procurada, um renegado sulista prestes a virar xerife numa cidade do norte, um cocheiro mal-humorado. Fugindo da nevasca que se avizinha, param numa espécie de restaurante de beira de estrada, onde se juntam a outro punhado de estranhos.
De Ford a Tarantino
Não cabe entrar em detalhes do enredo. Por superstição numérica, ou por pura preguiça, andaram dizendo que o novo western de Tarantino era uma homenagem a “clássicos do gênero” como Sete homens e um destino e Os doze condenados (este último ambientado na Segunda Guerra!). Mas, pela situação de personagens díspares forçados ao confinamento numa carruagem e depois numa estalagem, me parece mais frutífero cotejá-lo com um faroeste realmente clássico, fundador: No tempo das diligências (1939), de John Ford, por sua vez vagamente inspirado no conto “Bola de sebo”, de Guy de Maupassant. O mesmo esquema, diga-se de passagem, foi aproveitado também por Ettore Scola em Casanova e a revolução (1982). Ou seja, é quase um gênero à parte.
Sim, é conversa de gente grande. No filme de Ford, os personagens obrigados a conviver são um pistoleiro foragido da cadeia, uma prostituta, um médico bêbado, um jogador almofadinha, um banqueiro ladrão, um vendedor de uísque, um xerife e a mulher de um oficial da cavalaria. (Só agora me dou conta de que são oito.) Numa atitude tipicamente fordiana, os inicialmente mais desclassificados – a prostituta, o pistoleiro, o bêbado – acabam revelando sua fibra e sua nobreza de caráter.
O importante, porém, é que com esse microcosmo John Ford cria uma ideia de comunidade, de nascimento de uma nação, apesar – ou por causa – das diferenças sociais, psicológicas e morais. (Só que são todos brancos: os índios são o “outro” irredutível, os negros estão ausentes, mas esta é outra questão, que Ford encararia de maneiras diversas em obras posteriores.)
No filme de Tarantino, ao contrário, o que parece nascer (se “nascer” é um verbo que se aplica) é uma nação dilacerada, de todos contra todos, em que cada um se move apenas pelo ódio e pela cobiça. O negro, o mexicano, a mulher, o ianque, o sulista – todos são sujeito e objeto do ódio homicida em algum momento, se não o tempo todo. Não há sentimento possível de comunidade. É o precoce ocaso de uma nação.
Para quem quiser ver ou rever o clássico de John Ford citado, ele está disponível com legendas clicando aqui.
Sentido lúdico
Houve quem dissesse que Tarantino se repete, requenta velhas fórmulas, plagia a si mesmo. Discordo frontalmente. Em Os oito odiados, a meu ver, ele leva ao extremo a segurança narrativa, a integração orgânica entre roteiro e mise-en-scène, com absoluto controle do ritmo e das mudanças de gênero: faroeste (clássico e espaguete), suspense, comédia, mistério à Agatha Christie etc.
Claro que o que permeia o conjunto, o que lhe confere uma espinha dorsal, é o sentido lúdico do cinema, o prazer de jogar com as formas consagradas e surpreender o espectador com a subversão delas. Mas estamos longe do exibicionismo de referências, do fetichismo cinéfilo de outras obras do diretor. A brincadeira aqui sempre serve a um propósito maior.
Em vários momentos há uma reversão daquilo que foi dito antes, obrigando a uma releitura do que se passou. Uma sequência, em especial, é memorável nesse sentido: aquela em que vemos do lado de dentro da estalagem o que vimos antes do lado de fora. Agora só podemos ouvir, fora do quadro, o que antes vimos, e vemos agora o que nem suspeitávamos. O efeito é vertiginoso.
Terreno movediço
O chão em que pisamos não é seguro, como se revelará literalmente a certa altura. Essa constante puxada de tapete sob os pés dos personagens e do espectador está em perfeita sintonia com a ideia de que não há fatos, apenas versões (“imprima-se a lenda”, já dizia o outro). Cada um constrói o seu relato, elabora seu passado, erige o país de seus sonhos ou pesadelos.
Há uma passagem em que Tarantino chega à fronteira da metalinguagem. O personagem negro (Samuel L. Jackson) descreve em detalhes ao filho de um general sulista (Bruce Dern) como foi seu violento encontro com o filho do velho. Olha então para a câmera (como se encarasse o general, mas falando também com a plateia): “Você está imaginando a cena, não está?” Se o que ele narra é verdade ou mentira, pouco importa: é algo que existe na tela e na imaginação do espectador. Estamos diante de uma obra de ficção, não da “realidade”.
As fraturas raciais e sociais, o individualismo feroz, as tortuosas noções de lei e direito, tudo isso está presente no filme, mas em perpétuo movimento, como num carrossel. Não há discurso político pronto, nem lição de moral.
Tudo somado, Os oito odiados pode ser visto como uma comédia cruel, mas com um final melancólico, onde a leitura de uma célebre carta mencionada ao longo de toda a narrativa tinge-se de uma triste ironia. É quase um réquiem pelo país que poderia ter sido.
Diplomacia
Sobrou pouco espaço para falar de outro filme notável que está entrando em cartaz, Diplomacia, de Volker Schlöndorff. Seu tema é o mesmo de Paris está em chamas?, realizado em 1967 por René Clement: os dias de tensão, em agosto de 1944, em que os alemães, preparando-se para abandonar Paris diante do avanço dos aliados, estiveram prestes a explodir e incendiar a cidade.
Mas se o filme de Clément se dispersava numa porção de focos narrativos, com dezenas de personagens (decerto para acomodar seu elenco estelar internacional), Schlöndorff se concentra no embate entre dois homens, o general alemão Dietrich von Choltitz (Niels Arestrup), governador nazista da Paris ocupada, e o cônsul-geral da Suécia, Raoul Nordling (André Dussolier), que tenta demovê-lo da decisão de destruir a cidade.
A ação toda se passa no interior do luxuoso hotel Meurice, transformado em quartel-general nazista. Embora com breves flashes dos confrontos entre alemães e membros da resistência nas ruas e subterrâneos, o filme não esconde sua origem teatral (peça de Ciryl Gely) e não perde nada de sua força por isso.
A concentração dramática se revela um grande acerto: a precisão de enquadramentos, a densidade dos diálogos e, sobretudo, a soberba atuação dos protagonistas garantem um filme eletrizante e inteligente, que faz pensar nas razões bélicas de cada nação e no papel essencial, justamente, da diplomacia. Em tempos de tensão internacional e corrida armamentista, nada mais pertinente.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras