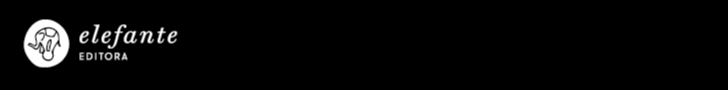Os Condenados: sexto trecho da trilogia de Oswald
“Ela sentiu que Luquinhas ia-se embora. Balbuciante, disse-lhe o nome. – Não deixem ele ir sozinho! Não! Não! O enterro ordenou-se no meio da rua”
Publicado 29/06/2014 às 08:08 - Atualizado 15/01/2019 às 17:39
Por Oswald de Andrade | Imagem: Ricard Canals
____
No âmbito da série “Oswald 60″, Outras Palavras publica semanalmente, em formato de folhetim, a trilogia “Os Condenados”, obra perturbadora que Oswald de Andrade escreveu entre 1922 e 1934. Acesse aqui os capítulos já publicados.
____
Na sequência anterior, Alma cuida do recém-nascido e a vida segue com batismo, travessuras e a descoberta do mundo. No longo recolhimento, perde o antigo gosto pela vida. Ela precisava amar: pensa em rever Mauro e procura na criança os traços do amante. O telegrafista não se decide. Alma encontra Camila, que tem um rapaz que a adora e um ricaço que a veste. Alma conhece Artur, dono de uma garçonnière. João é envenenado pelas palavras de Dagoberto. Lobão leva João do Carmo ao bordel. Pressentimentos confusos o atordoam: onde Alma estaria? Dormindo ao lado do outro, o que a comprara. Alma se muda com o filho para outro bairro. João compõe um livro de sonetos. (Theotonio de Paiva, editor de “Oswald 60”)
____
Na Semana Santa, Alma quis que ele fosse prestar a homenagem da sua presença de querubim, numa procissão, de madrugada.
Na multidão silente, entre teorias irregulares de anjos que andavam, a aia solene seguia-o.
E, pelas ruas, a mãe não o largava com os olhos verdes da cor sentimental da esperança, sob um largo feltro branco.
*-*-*-*-*
Um dia, porque Luquinhas derramasse, na toalha pura e bordada, uma terrina fumegante, o “lambisombem” zangou-se.
Alma recriminava-o de não ter contido a tempo a criança.
– Ser pajem também, não! – respondeu ele.
Ela levantou-se, cheia de insultos. Levou o filhinho para o quarto, sem terminar o jantar.
*-*-*-*-*
Reconciliaram-se friamente. E à noite, Alma saiu com Camila. Não se deixavam, numa sensacional camaradagem de risos e passeios.
Alma tinha sempre sono, um sono de felicidade. Quase adormecia, nas toilettes ricas, ao choro das valsas, nos cinemas do centro.
*-*-*-*-*
Luquinhas ganhara imunidades. Na casa rica, propunha a toda gente esconde-esconde e cavalgadas. Quebrava tudo. Batia com a colher cem vezes regulares na mesa. Um bulício reinava por onde aparecessem os seus cachos loiros. Quando Alma se demorava, chorando de sono, no colo compassivo da governante sisuda, queria trocar de mãe.
Outra vezes, ela não saía. E brincavam juntos, num renovado paraíso de surpresas, de beijos e de gritos.
Ele ocultava-se atrás de uma bandeira de porta e gritava.
Ela, sorrateira, estava ali ao seu lado. Descerrava o esconderijo. E, num deliciado susto, ele tombava-lhe nos ávidos braços.
*-*-*-*-*
Ensinaram-no a ler num grande livro de figuras: A-za, E-ma, I-lha, O-vo, U-va.
*-*-*-*-*
O bicho caratetu vinha nas noites tétricas espiá-lo.
*-*-*-*-*
Crescia. E, crescendo, tentava o mistério de todas as portas, de todos os móveis, de todas as gavetas; buscava o inédito de todas as janelas; explorava a floresta florida do jardim. E procurava, além do portão, a rua que levava aos mundos longínquos dos parques.
Davam-lhe todos os brinquedos, todos os doces, todos os livros bonitos.
E, parado, ouvindo a grande fonola que o engenheiro comprara no dia de seus anos, era um padre de camisola, sacrificando ante a missa musical dos discos.
*-*-*-*-*
Ela pusera o seu chapéu cor-de-maravilha.
Tinha encontrado Mauro no Triângulo. Estava mais alto, mais forte. E falara-lhe com a voz metálica, num velho desembaraço. Ia vê-lo.
*-*-*-*-*
Ele esperava-a na Praça da República, entre hermas cinzentas e repuxos japoneses de flores vermelhas.
E ela convidou-o a ir até o longínquo bungalow das Perdizes.
Tomaram um velho táxi. Estavam cerimoniosos, bons, alegres. Ele entrou, como numa fita de cinema. Admirou o gosto das laças, dos tapetes, dos cretones.
Ela mostrou-lhe o quarto de Luquinhas, todo branco. E levou-o para o hall, onde havia convites de poltronas macias.
Fumavam conversando. Uma animação começou a agitá-los. Teles Melo partira para Uberaba: voltaria daí a dez dias.
Mauro andava pelo Rio. Falou-lhe das mulheres que tivera, numa naturalidade. Ela relatou-lhe a vida rica e fácil. Mostrou-lhe uma pulseira delgada de safiras e brilhantes que ganhara no Natal.
E, súbito, ele levantou-se excitado. Achava-a diversa, outra. Libertada do chapéu de passeio, ela parecia esplêndida na inteira toilette, em crepe tête de negre com punhos fartos de skunks e a gola provocante no contraste do cabelo acaju.
As pernas revelavam-se até o ouro das ligas monogramadas nos fechos.
Ele baixou-se. Beijou-lhe a testa alva de creme, depois sugou-lhe os lábios entreabertos e carminados.
Ela tinha os bicos dos seios duros, de pau. Veio-lhe um grande riso, histérico e desigual.
Uma curiosidade criminosa, naquele ambiente, onde um estranho reinava, impelia-os um para o outro, juntava-os.
Excitaram-se, disfarçando com vozes altas. De dentro, vinha um barulho de criados…
*-*-*-*-*
Partira o grande macho retornado, risonho e recurvo. Deixara-a num desmantelo de toilette, a boca inchada de lascívia, sentada numa seriedade de crime, os olhos fundos nas olheiras lutuosas, a carne vencida de gozo.
*-*-*-*-*
E ela ergueu-se na sala deserta. E foi descobrindo a cor de tudo, o sentido espetaculoso de tudo.
*-*-*-*-*
Mauro tomou um bonde do Braz. A voz dos cabarés cantava-lhe vitoriosamente nos ouvidos alegres. Lembrava-se de uma noitada no Rio. No tilintar das fichas, gritavam: trinta e cinco! Era o número da casa antiga de seu pai.
*-*-*-*-*
Encontrou apenas a criada da infância, morando perto. Estava velha, toda branca. Pôs-se a chorar ao vê-lo. Tinha perdido os dois filhos num ano. O destino estraçalhava-lhe as últimas escoras da vida. Queixou-se lamentosamente. Sentia-se lavada em água fria, nas costas, nos ombros. Pediu-lhe um agasalho. Ele deu-lhe dinheiro e partiu.
*-*-*-*-*
A queda rápida de Alma fazia entrever um futuro favorável ao cáften, onde a fortuna de Teles Melo rodava.
Voltou imprudentemente ao bungalow das Perdizes.
Uma tarde, o engenheiro, avisado, chegava quando ele saía. Os dois homens adivinharam-se à entrada do jardim, rodaram como dois boxeurs na arena, perscrutando-se.
Ele partiu num sorriso de desprezo soberano, os músculos tesos e prontos.
O outro entrou: tinha uma psicologia insultada de capenga.
*-*-*-*-*
Numa cena dilacerante e rápida, fez a amante confessar e expulsou-a.
Ela ia sair, serena, linda, acostumada à festa trágica da vida. Pressentia a existência com Mauro, a ruína, o descalabro certo. E achava natural aquele repentino desamparo da sorte. Era o ser humano na queda abismal, sem fundo.
*-*-*-*-*
Vestira Luquinhas. Tirou-o da cama rica de pau-laqué, nevada de filó.
E ele procurou levar nas mãozinhas gordas um bebê de celuloide, o balde e a pá com que revolvia a terra fofa do jardim.
*-*-*-*-*
Ao sentir aquela tenacidade, o homem pensou em tornar atrás. Tentou agarrá-la. Ela quis dar-lhe uma bofetada, num desprezo de olhos verdes.
Luquinhas sufocou-se de choro e de medo.
Teles Melo juntou do chão o balde que caíra das mãos da criança, correu ainda ao portão.
Ela ia, num vento de loucura, rua abaixo, clara, fulva, carregando o filhinho cujos cabelos flutuavam.
*-*-*-*-*
– Que hás de ser quando fores grande?
– Santo.
E um jorro de riso claro partiu da boquinha de dentes iguais, envolvida nos cachos de espiga que se embaraçavam pescoço abaixo.
– Não, Luquinhas, não brinco mais então – fez a mãe supersticiosa, repreendendo-o. Que hás de fazer quando fores homem grande?
– Fazer santo…
– Ah! Não brinco…
Ela deixou-o pensativo, sentado ao banco quebrado da horta dos fundos de D. Genoveva, e foi ninar o bebê idiota que os olhava, braços de celuloide erguidos entre verduras. Pôs-se a cantar:
– Nana ne-nê! Nana ne-nê! Você sim é bonitinho, não é como Luquinhas, esse feio…
– Mamãe! – gritou a criança que acordara, de olhos vivos, pestanudos, na tarde que invadia as aléias estreitas e dourava a casa baixa… –Mamãe! Eu vou ser pára-raio!
*-*-*-*-*
Das jóias antigas, ela conservava apenas um medalhão negro de ônix, preso a um fio invisível de platina.
*-*-*-*-*
Saíra num desespero, deixando o filho adormecido com a mulher de chinó.
Andara à-toa pela cidade noturna e agora deixava-se ficar ali num banco quieto da esplanada do Municipal, esperando, numa desorientação calma, que as horas passassem. E as horas custavam a passar, como a vida.
Homens farejavam-na como cães. Dois rapazes que desciam pela ruela de areia, perguntaram-lhe se viera do teatro. Tinham parado no Anhangabaú claro e deserto. Ela levantara-se. Eram ambos bem vestidos, tinham dinheiro decerto. Chamaram-na.
Um barulho de táxi estrugia pela Rua Formosa. Eles fizeram o chauffeur estacar. Ela estava ali, junto ao carro parado, na rua silente.
– Não vou. Ir onde?
Entrara. Sentou-se entre ambos. Deram um endereço vago. Apalpavam-na no escuro.
Nas paredes de um quarto, havia um espelho e obscenidades em cartão colorido. A um canto, um divã.
Saíra um. O outro fechou a porta, veio para ela. Quis deitá-la. Uma alucinação tomara-a. Estava de pé, tinha os olhos severos e fixos e os belos braços nus sob a claridade.
O homem ia abrir a porta, despedi-la sem lhe dar dinheiro. Ela murmurou que ficava. Esbelta, em dois pulos, desfez-se das calças de rendas.
Mas o macho relutava, desconfiado. Foi até a porta, chamou o outro. Riam-se. Excitado e indeciso, voltou. Alma disse que já haviam pago duzentos mil-réis pelo seu corpo.
Ele parecia inundado subitamente de fúria sexual. Mordeu-a nos lábios de desafio. Ela enroscava-se toda no homem de acaso, cerrando os olhos, recostando a cabeça, perdoando…
Puseram-na para fora, deixando-lhe na mão sete mil-réis. Desceu na direção do centro, num passo sonoro. Encontrou guardas e retardatários.
Bebeu cognac num bar aceso do Largo da Sé. Um homem alto falou-lhe com delicadeza. Ela andou ao lado dele, muda, inerte. Numa polidez recurva, o homem propunha-lhe sentimentos.
Tomou um bonde para a Luz. Junto ao Jardim Público, através das árvores, viu uma fita longa de sangue cercar a madrugada citadina.
Galos cantavam, acordando as estréias dos seus últimos êxtases. A cidade martelava os seus primeiros ruídos.
A fita de sangue enrubescia, amarelando-se de tons novos. E, por cima, o céu era todo azul-claro. A terra girava como ela no espaço sem apoio.
Aquietou-se ali nos lençóis da cama alugada.
Não podiam esplender sobre a cabeça de seu filho as miragens diletas da infância… Ele era uma pobre sombra no colchão emprestado. Trapos e carne… sofrimento.
*-*-*-*-*
A noite, sonora caiu. Crianças brincavam na calçada, cantando em frente à casa baixa.
Num vestido antigo de cetim, Alma, de pé, vigiava o filhinho.
Soropango da vingança
Toda gente passarão!
E ela sentiu, num obscuro instinto, que estava sendo castigada. Recordava o telegrafista dedicado, o cãozinho morto sob um caminhão, o sobrado trágico da Rua dos Clérigos, onde fora feliz.
Uma menina suja, de grandes olhos, veio acordá-la dizendo que Luquinhas não queria brincar.
Ele estacara a roda-viva na calçada. Alma foi buscá-lo, trouxe-o num choro de desabafo, as mãos fechadas no rostinho quente.
Com o coração amedrontado, perguntou-lhe o que sentia. Levou-o para o quarto num alvoroço, aumentou-lhe os agasalhos. Ele cessara de chorar: permanecia sentado, ao colchão, olhando-a.
As crianças vieram até a porta espiar com risinhos e silêncios. Ela gritou mandando-as embora e foi buscar D. Genoveva.
A velha notou-lhe a febre do ventre. Disse. Ele cerrou os olhos miúdos num choro sentido.
– Que é, meu bem? Que é, meu bem?
Lá fora, as crianças reorganizadas continuavam em roda:
Soropango da vingança
Toda a gente passarão!
Arranjou ao lado, numa cadeira, a sua roupinha de homem. Esticava os braços moles de brim, as perninhas moles. Era a farpela pequenina, com que ele devia carregar a cruz da vida.
*-*-*-*-*
Noite alta, Luquinhas agitou-se no travesseiro único e velho. Alma não conseguia dormir, olhando-o.
Se morresse! Ela sabia que nada podia resultar daquela mísera existência humana.
Sentou-se no leito, os grandes cabelos desmanchados.
A boquinha que se lamentava na penumbra do quarto cerrado enriquecer-se-ia de sorrisos, para quê? Para beijar prostitutas como ela e depois comer a lama da vida.
Levá-lo-iam mãos estranhas, por caminhos incertos. E dela, ele carregaria somente o ódio maravilhoso.
Lá dentro, no corpo torcido de desgosto, a anexite adquirida trabalhava. Era um beliscão repentino do lado esquerdo que amortecia o ventre todo.
*-*-*-*-*
D. Genoveva mandou chamar o médico grisalho. Numa serenidade cênica, ele examinou demoradamente a criança agitada. Falou em colerina, disse que era grave, receitou e partiu.
*-*-*-*-*
Uma goteira inundava lentamente o quarto. Lá fora, um dilúvio tomara conta do céu e das ruas.
A noite envolveu-os. Uma lamparina empalidecia a um canto.
Alma escutava o barulho da chuva. De hora em hora, pisava com os tacões altos o quarto alagado, ia buscar a colher de remédio e trocava os panos imundos.
*-*-*-*-*
Oh! as promessas da vida! A procissão em que ele se vestira de anjo e fora tropeçando as perninhas roliças no cortejo sacro, entre padres e virgens, com banda de música atrás. Havia um rei… ele era o reizinho de mamãe… o reizinho da caminha de pau-laqué…
*-*-*-*-*
Vira-o piorar na madrugada seguinte. Todos os falsos valores, todas as sombras ladras que a prendiam, tinham fugido. Só ficavam na penumbra os remorsos, serenos como carrascos tártaros.
Espectros dos crimes passados estacavam ao ar, como chicotes imóveis.
Ela desdobrara as asas ao convite flexuoso da terra, sem se importar com as existências idas, com as existências que viriam.
*-*-*-*-*
Mas todo o ridículo trágico de sua vida voltou… o drama diário da sua maternidade obscura, da sua maternidade incompreendida, apesar de se terem rachado os seios na amamentação… Oh! o sangue que perdera, e as lágrimas ! Tudo consolado por um pequenino riso que não vinha mais.
*-*-*-*-*
O médico apareceu inutilmente na quinta manhã.
*-*-*-*-*
O enterro saiu da casa pequena às quatro horas.
A tempestade passara e fazia calor.
Alma, de olhos secos, fora levada para os fundos, pela velha compassiva. Duas vizinhas de preto seguiam-na. Ficou sentada a uma cadeira de palha, sob a telha-vã da cozinha.
Ouviram-se pelo corredor os passos arrastados dos que saíam, crianças levando flores, homens carregando o caixão.
Ela sentiu que Luquinhas ia-se embora. Balbuciante, disse-lhe o nome entre soluços, tremendo, toda torcida. E agarrou-se nervosamente às outras. A sua pobreza vital transfigurou-se de tragédia. As pupilas marinhas, entre os grandes cílios, suplicavam indizivelmente.
– Não deixem ele ir sozinho! Não! Não!
Depois, os cabelos desfeitos pelo rosto, fulvos e molhados, dobrou-se, caiu pesadamente nos tijolos, muda e selvagem.
O enterro ordenou-se no meio da rua, num começo resoluto de marcha. Um menino de boca aberta, tropeçando, juntara, sob o braço, os chapéus dos vizinhos piedosos. As outras crianças conversando, abriam o préstito, de vermelho, de azul, de branco.
*-*-*-*-*
Pressurosos, grandes e pequenos apedrejaram o caixão humilde e azul, com grandes pedaços de terra mole. Os primeiros punhados bateram ruidosamente sobre as tábuas que fechavam lá embaixo, para sempre, o cadaverzinho coroado.
O coveiro de bigodes hirsutos e grisalhos despejou pás cheias na cova. O barulho abafou-se: ficou o barulho de terra atirada sobre terra.
*-*-*-*-*
Ela guardava dele um pequenino retrato carbonado pelo tempo. Fora tirado por um fotógrafo ambulante, numa tarde de sol, no Jardim Público, entre coqueiros trêmulos e gritos espaçados de aves invisíveis.
*-*-*-*-*
Sumia como um rato arisco. Estava aqui, ali, desaparecia…
Iam encontrá-lo trepado no caixote de sabão da cozinha ou afogando no banheiro vazio a desgrenhada Neca Caleluda…
Na sala antiga, D. Genoveva, de óculos, pedalava a máquina de costura.
*-*-*-*-*
A bordadeira redonda, embrulhada em cetineta e cheirando mal, cuspilhava insultos na noite branca.
– Não pagou o vestidinho de seda creme de seu filho! Ficou devendo a camiseta…
– Dele, eu paguei tudo. Só não acabei de pagar o meu vestido de filé… Dele, paguei…
– Não senhora. Enfim, deixemos a criança, ela está no País da Verdade… Mas a senhora não pode jurar com a mão sobre o livro do Evangelho…
Luquinhas estava no País da Verdade. Alma sentiu abrandar-se a ferida que a femeaça lhe abrira no peito, insinuando que devia roupas do mortinho. Luquinhas não devia nada, ele estava no País da Verdade…
– Não paga os vestidos…
Um homem passou, voltando a cabeça curiosa.
– Não grite, por favor…
– Grito… é o meu rico dinheiro que eu quero… Pague…
No fundo indeciso de Alma, uma revolta levantara-se em muletas cínicas. Teve ímpetos de negar que devesse. Notou que a uma janela das proximidades, na rua desolada, cheia de árvores, saíra gente para escutar a altercação.
– Se a senhora grita assim, não pago.
Então a víbora gorda cresceu, inundou-lhe os espantados olhos de cuspo.
Alma desvencilhou-se nervosamente e correu.
A mulher ficou esbravejando. À janela surgiu mais gente para ver. E a silhueta redonda, no tribunal conquistado do revérbero doméstico, acusou, desconchavando os gestos na calçada.
*-*-*-*-*
A procissão parou. E, do grupo em crepe das carpideiras, a mulher alta que faria de Verônica subiu à cadeira, cantou inexpressiva em meio do expressivo cortejo.
– Trec-trec-trec-trec-trec!
A matraca reencetava a caminhada noturna e heroica, que fazia, na cidade açulada de espanto convencional, o enterro de Cristo.
E, de novo, a música chorou pelos trombones em desfalecimentos exagerados, depois obstinou-se num ritmo de passos demorados e certos.
– Bum! Pá! Bum! Pá!
As lanternas em torno ao pátio, amachucado no alto dos varais, cabeceavam. Lá adiante, na frente, anunciando o cataclisma, ia a cruz de pau preto, a balançar um M enorme de linho. E fieiras vacilantes de tochas guardavam os andores.
Alma, enfiada num turbante velho, ia atrás da Virgem apunhalada que quatro homens, de togas como juízes, erguiam sobre os ombros impávidos.
E parecia-lhe que enterravam ali, gloriosamente afinal, o filhinho que ela trazia insepulto no coração.
Era o seu drama aquele, o drama obscuro de Maria em Jerusalém, de que as gentes da terra, numa condenação de remorsos, fixada num calendário implacável, renovavam o angustiado mistério por noites extáticas de lua.
– Bum! Pá! Bum! Pá! Pá! Pá! Pá! Pá!
Os trombones gargalhavam nos desmaios do pranto lutuoso.
E ela sentia, na cadência das luzes e das opas, ao som grave e cavo da matraca, que conduziam ali, atrás dela, o féretro desmesurado de Deus.
Mas o Senhor que aí vinha, gelado num caixão, era parecido com o seu filho que os homens haviam morto na cruz dos seus braços inúteis, dos seus braços inertes.
– Bum! Pá!
Nossa Senhora não fora como ela… No entanto, que haviam sido Madalena e a Samaritana? E ela era como Nossa Senhora porque tinha experimentado, do coração aos olhos, o gume das sete espadas! E sua criança não tivera, como o filho de Maria, senão o desprezo dos diabos felizes da terra.
Maria decerto andara assim, como ela, anônima, pisada, na multidão que seguia o charivari da cruz, na cidade negra de Jerusalém.
– Trec-trec-trec-trec!
Maria, porém, fora vendo de longe o filho doloroso, o filho santo. E ela não podia mais ver, nunca mais, o ser afetivo que lhe saíra das entranhas.
Num calmo tropel, a procissão desmembrava-se para penetrar na igreja grande e acesa do largo.
Afastaram-na do centro, junto com beatas e homens do povo, para deixar passar, aos solavancos, na glória funerária dos trombones, o filho ensanguentado de Maria.
*-*-*-*-*
Aquela manhã veio, numa sedução de luzes, acordar a casa baixa.
Ela vestira-se, saíra sem destino, longe, pela cidade.
Fizera Higienópolis a pé. Queria voltar. E nem um bonde aparecia no fim dos trilhos de aço. E o silêncio dourava a hora azul.
A avenida aristocrática dormia ainda nas residências defendidas e mudas entre árvores.
E todo o seu ser parara numa concentração irresistível de miríades de músculos anímicos.
Então, para o silêncio das altas nuvens, partiu uma escala de piano, vibrada invisivelmente de dentro de uma vivenda quieta.
O silêncio propositado de tudo, das árvores e das sombras, acolhera as notas numa ressonância extática.
Ela estava de negro, como um corvo, e o sol queimava-a.
E, de novo, a escala insistiu as sete notas, batidas por mãos de criança, regulares, iguais.
Ela pensou que, no fim, quando tudo se acabasse, esse momento de tristeza augusta falaria.
(Continua na próxima semana.)
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.