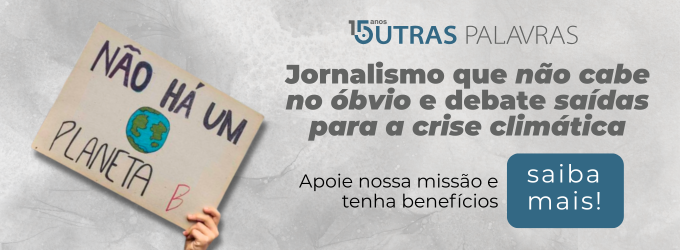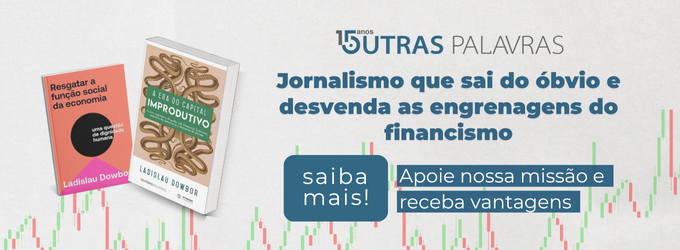SP: big techs e gameficação do ensino público
Desde 2020, avanço das chamadas EdTechs deixa marcas preocupantes na educação. “Enxuga-se custos”, atacando os docentes. Inclusive com plataformas de monitoramento, controle e gestão do trabalho, baseado em pontos e metas produtivistas e acríticas
Publicado 04/07/2025 às 17:50 - Atualizado 04/07/2025 às 17:51
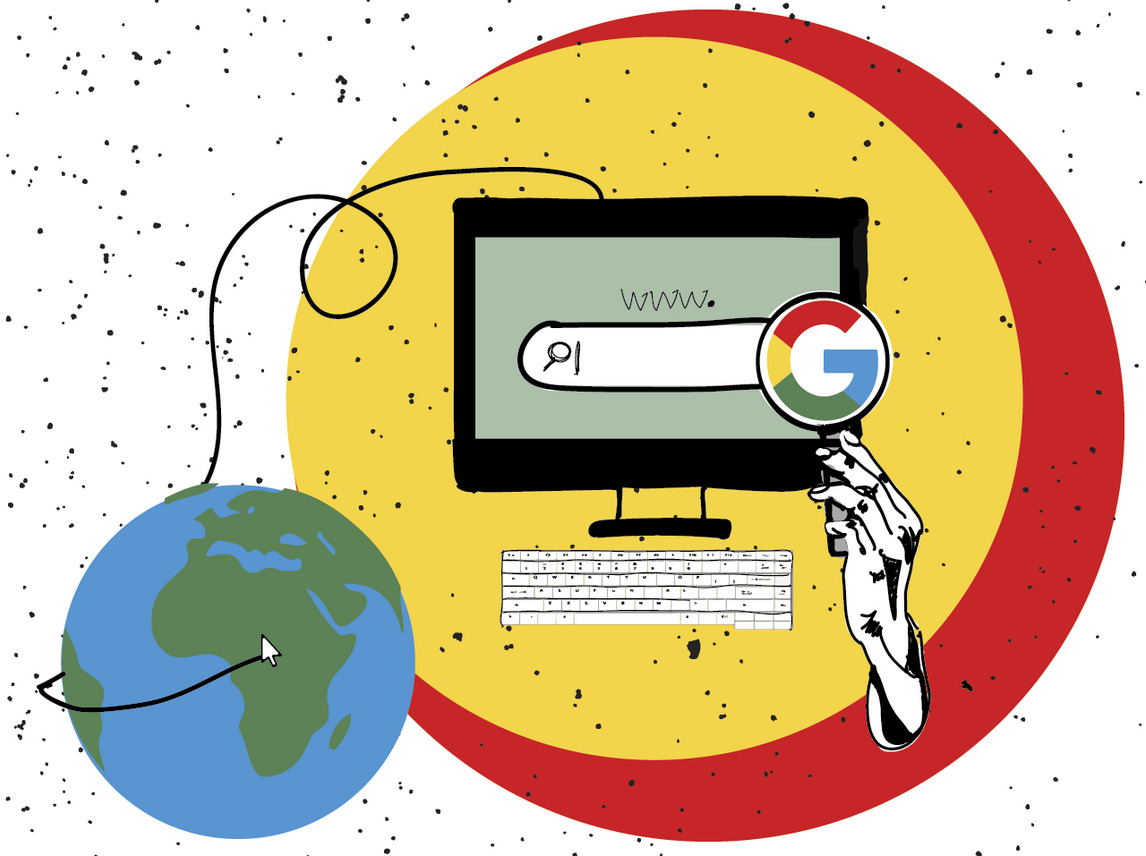
Por Ricardo Noronha, no blog da Boitempo
A contingente necessidade de soluções para a viabilização do ensino remoto emergencial durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19, em 2020, foi uma janela de oportunidade sem precedentes para que as Big Techs avançassem ainda mais no campo da educação, especialmente nas instituições públicas. Os impactos dessa invasão foram notáveis desde as primeiras semanas, trazendo repercussões importantes sobre o trabalho docente, na qualidade do ensino e na reprodução e aprofundamento das desigualdades. Mas outros elementos, menos visíveis no auge da crise sanitária, precisam ser melhor compreendidos, especialmente em relação aos desdobramentos dessa tomada de assalto promovida pelas grandes empresas de tecnologia.
De 2020 pra cá, o que se viu foi um avanço significativo das Big Techs sobre a educação pública e privada que, mesmo após o retorno às atividades presenciais, se entregaram ao canto da sereia do discurso hegemônico que envolve as tecnologias digitais em um verniz salvacionista e neutro. Nos anúncios das empresas de tecnologia para a educação — as chamadas EdTechs —, nas propagandas de escolas privadas e nas narrativas construídas pelas secretarias de educação em todo o país (e também do Ministério da Educação) o que se nota é um argumento pautado no pressuposto de que investimentos em tecnologia estão intrinsecamente relacionados às melhorias no desempenho escolar. Cabe ressaltar, nesse sentido, que a própria concepção de “desempenho escolar” precisa ser colocada em perspectiva, uma vez que, em geral, essa noção está atrelada aos critérios estabelecidos por instrumentos de avaliação externa, que, por sua vez, devem passar pelo rigoroso escrutínio da crítica comprometida com a qualidade da educação pública. Assim, os discursos em torno da questão são sustentados por presunções que raramente são colocadas em questão.
Todo esse processo de inserção das plataformas e tecnologias digitais na educação se dá, em grande medida, às custas da deterioração das condições de trabalho de professores, gestores e supervisores e da qualidade da educação pública. É claro que não se trata de um fenômeno absolutamente novo nem inaugurado pela pandemia. Sobretudo no setor privado e, especialmente, no ensino superior, a ampliação dos cursos EaD, capitaneada pelos grandes grupos privados de educação, contou com as tecnologias digitais como peças chave para um duplo movimento: ao mesmo tempo em que se apropriaram do discurso ideológico de que o progresso e a modernidade estão diretamente vinculados ao avanço tecnológico, lançando mão de plataformas digitais, aulas online e um ensino cada vez mais concentrado nos cursos EaD; também usaram as ferramentas tecnológicas como uma estratégia de redução de custo operacional dos negócios da educação, possibilitando a máxima lucratividade. Esse processo foi encabeçado por grandes grupos educacionais (Kroton, Virtu, YDUQS etc.) e, de certa forma, mimetizado por universidades e faculdades privadas de menor porte na tentativa de se manterem competitivas no mercado ou, simplesmente, para se adequarem aos padrões impostos pelos grandes grupos empresariais e se tornarem aptas a serem incorporadas por esses grupos. O crescimento do grupo Cogna/Kroton está baseado nesse processo.
Assim, mesmo antes da pandemia, já se observava na expansão do ensino superior privado a busca pelo aumento de lucros às custas da qualidade do ensino e da precarização do trabalho docente, como reforçam as análises do professor Lalo Watanabe Minto, da Faculdade de Educação da Unicamp. Nos sindicatos de professores da rede privada, a questão do ensalamento (agrupamento de salas e turmas diferentes, física ou virtualmente) e a demissão em massa de professores já era uma questão latente antes mesmo de 2020. Nesse sentido, a pandemia de Covid-19 aprofundou essas questões no ensino privado e permitiu a expansão dessa lógica para a educação básica e para o setor público, haja vista a necessidade de redução da circulação de pessoas impondo a necessidade do ensino remoto emergencial.
É importante refletir — e aqui, mais uma vez, menciono o professor Lalo Minto — que essa “necessidade” de manutenção das aulas durante o período mais crítico da pandemia também é uma construção permeada pelas demandas da própria acumulação capitalista. Nas escolas privadas, a questão explicitou a relação mercantil que atravessa a educação na rede particular. E nessa toada, o ensino público seguiu a mesma lógica, sob a alegação de que não podia ficar para trás. No estado de São Paulo, especialmente, foi notável como o governo já contava com uma estrutura pronta para o processo de digitalização do ensino. Pouco tempo após o início da pandemia, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo já estava funcionando a pleno vapor, com uma estrutura que certamente não surgiu do dia para a noite. Ou seja, pelo menos em São Paulo, sob o comando do então governador João Dória (PSDB), o projeto de digitalização e introdução de plataformas e tecnologias digitais na educação era anterior à pandemia, e se concretizou a partir da janela de oportunidade inaugurada pela crise sanitária.
A experiência do Centro de Mídias no período da pandemia se resumiu a aulas ministradas e gravadas por alguns professores, e reproduzidas para toda a rede estadual. Nesse momento já se nota um deslocamento da atividade dos professores e professoras responsáveis pelas turmas, que passaram a apenas mediar a interação dos alunos com as aulas gravadas. Os professores e professoras que conhecem a realidade de cada turma e que, portanto, teriam muito melhores condições de conduzir o processo de ensino-aprendizagem, foram apartados do processo. O Centro de Mídias foi um laboratório para o desenvolvimento do processo que vem sendo implementado a toque de caixa pelo atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pelo Secretário de Educação Renato Feder, com a imposição de plataformas e materiais digitais de uso obrigatório, atrelada a um sistema de métricas e metas a serem cumpridas e um esquema rigoroso de controle e vigilância. Nesse sentido, é notável que a partir da pandemia tivemos uma mudança substancial nos processos de deterioração das condições de trabalho docente que indicam de fato um processo de precarização. Essa precarização está associada a um processo de alteração profunda no conteúdo do trabalho docente. Processo esse que não é inaugurado com o uso de tecnologias digitais, mas que, sem dúvida, foi intensificado por elas.
Plataformas digitais na educação: precarização e controle do trabalho docente
A introdução de plataformas digitais em diversas atividades escolares e acadêmicas, fenômeno descrito por José Van Dijck e Thomas Poell como “plataformização da educação”, inscreve-se em um contexto mais amplo que caracteriza a fase atual da acumulação capitalista. O avanço das plataformas digitais é um elemento fundamental para compreendermos os processos de exploração do trabalho e de geração de valor do capitalismo financeirizado. E é importante ressaltar: apesar de todos os nomes e adjetivos que são usados para definir o capitalismo atual, o metabolismo social — ou antissocial, como diz o professor Ricardo Antunes — do capital é ainda aquele e se assenta sobre as mesmas bases descritas por Marx n’O capital, quais sejam, a propriedade privada dos meios de produção, a divisão da sociedade em classes e a exploração de uma classe por outra. Diante disso, na sua fase financeirizada, o capital avançou o processo de acumulação para a esfera especulativa/fictícia, sem perder o lastro na produção material. E as tecnologias digitais e plataformas têm sido os veículos privilegiados das novas estratégias de acumulação. O principal ativo das plataformas é justamente tornar ainda mais opacas as relações de trabalho que possibilitam a produção de riqueza e a acumulação de capital. Em diversos setores econômicos, esse processo de acumulação se dá por meio do expediente da chamada “uberização”, que no entendimento de muitos especialistas — entre os quais destaca-se Ludmila Abílio, é um fenômeno específico que diz respeito ao agenciamento, gestão e controle do trabalho sob demanda por meio de plataformas e aplicativos.
Nesse sentido, é claro que existem nexos formais entre a “uberização” de diversos setores da economia e o processo de digitalização da educação, mas é fundamental ressaltar as especificidades. Na educação pública, pelo menos até o momento, as plataformas não são agenciadoras do trabalho docente — no sentido que os professores e professoras continuam sendo contratados pelo estado (com diferentes tipos de vínculos, quase todos marcados por múltiplas precariedades), e a atribuição de aulas e escolas, embora até possa ser mediada por alguma ferramenta tecnológica, não está integralmente subordinada a elas. Mas as tecnologias digitais têm, de fato, assumido um papel preponderante na gestão e no controle do trabalho docente, especialmente quando notamos a existência de um “sistema fechado” que articula plataformas, materiais digitais, sistemas de avaliação externa e os mecanismos de monitoramento de acesso e de verificação de métricas, como o Super BI.
Outra especificidade do campo da educação é o fato de que esse processo de digitalização só foi possível após uma série de outros ataques engendrados à profissão docente, que foram descaracterizando o trabalho de professores e professoras e fragilizando a categoria. Só pra ficar restrito a dois exemplos dessas investidas contra o trabalho docente: primeiro, houve uma redução sistemática dos concursos públicos e o aumento do número de professores contratados na rede estadual, conhecidos como “Categoria O“, que possuem vínculos instáveis e precários; segundo, a Reforma do Ensino Médio fragmentou, flexibilizou e diversificou os currículos, esvaziando o conteúdo do trabalho docente, permitindo a introdução de plataformas digitais e aplicativos nas atividades pedagógicas e de gestão, intensificando a privatização do ensino. A adoção desses aplicativos e ferramentas digitais concebe processos pedagógicos estandardizados, impactando a organização do trabalho pedagógico, e abre espaço para uma participação cada vez maior de empresas privadas na educação pública. Essas e outras ofensivas contra o trabalho docente e a educação pública integram um projeto político mais amplo, que privilegia interesses privados em detrimento do direito à educação pública e democrática.
Big Techs, acumulação primitiva de dados e colonialismo digital na educação
A invasão das Big Techs na educação pública não se limita à substituição de práticas pedagógicas e administrativas por plataformas digitais: ela consolida um novo ciclo de acumulação capitalista, no qual os dados de estudantes e professores tornam-se a matéria-prima de um mercado ainda obscuro mas altamente lucrativo. A coleta indiscriminada de informações — desde hábitos de navegação até desempenho em exercícios padronizados — configura o que Walter Lippoldi e Davison Faustino chamam de acumulação primitiva de dados, um processo análogo à expropriação de terras e recursos naturais no colonialismo histórico, mas agora em escala digital.
Assim como as potências coloniais extraíam riquezas de territórios dominados, as corporações de tecnologia privatizam e mercantilizam dados educacionais, transformando-os em algoritmos preditivos, ferramentas de vigilância e produtos vendidos a terceiros — muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento da comunidade escolar. A falta de transparência sobre o armazenamento, o processamento e o destino desses dados revela uma nova face do colonialismo digital, em que países periféricos, como o Brasil, tornam-se fornecedores de informações brutas para conglomerados sediados nos países centrais do capitalismo, em especial nos EUA, sem qualquer contrapartida justa.
Esse mecanismo reforça a dependência tecnológica e aprofunda as desigualdades educacionais. Enquanto escolas públicas são pressionadas a adotar plataformas que coletam dados sensíveis, por meio de contratos milionários, essas informações são usadas para refinar sistemas de controle sobre o trabalho de professores e segmentar estudantes em perfis de consumo, por meio do desenvolvimento de microtargets para o direcionamento de anúncios de produtos e serviços.
Desafios e resistências
Há quase um consenso no senso comum em torno da ideia de que as tecnologias digitais são sinônimos de inovação, progresso e melhoria das condições de vida. É necessário e urgente nos contrapormos a essa visão ideológica sobre as tecnologias, sem cair em concepções tecnofóbicas e neoludistas. O recente debate em torno da necessidade de regulamentação das Big Techs precisa ser tratado com relevância.
No campo da educação pública do estado de São Paulo, outra dificuldade objetiva para consolidar uma resistência mais efetiva a esse e outros ataques à categoria docente é o fato de que grande parte dos professores e professoras da rede tem contratos precários e instáveis e está sob constante ameaça de perder seu vínculo de trabalho. Para os professores concursados e estáveis há riscos relacionados à atribuição de aulas, agravados pelas resoluções da secretaria de educação que avançam no sentido de avaliações punitivas dos docentes. Por sua vez, gestores se veem pressionados a garantir o cumprimento das metas de desempenho sob o risco de perderem seus cargos ou de serem transferidos para outras unidades, como já vem acontecendo. A cadeia de controle e pressão atinge também os supervisores de ensino que são assediados pela secretaria de educação para que garantam que diretores e professores cumpram as metas de uso das plataformas.
A resistência a esse cenário exige, além da organização sindical e da pressão por políticas públicas de regulamentação, uma conscientização ampla sobre os riscos da dataficação da educação. É urgente questionar: quem lucra com os dados gerados em nossas escolas? Quem define os parâmetros de “eficiência” imposto por essas plataformas? E, sobretudo, como descolonizar o digital, garantindo que a tecnologia sirva à emancipação, e não à exploração?
A saída, como sempre nos mostrou o processo histórico, passa, necessariamente, pela organização dos trabalhadores da educação e das comunidades escolares. Trata-se de um debate que não pode ser esquecido. Os ataques são tantos que muitas vezes as pautas se perdem diante da urgência de novas ofensivas. Vivemos sob uma Blitzkrieg na educação pública: militarização, plataformização, privatizações, arrocho salarial. É, contudo, fundamental continuarmos no esforço de entender a fundo o processo, ampliar e aprofundar o debate, garantir que estudantes e familiares se envolvam nessas discussões a fim de criar massa crítica capaz de fazer frente aos ataques.
A luta por uma educação pública democrática passa, necessariamente, pela defesa da soberania de dados e pelo controle social sobre as ferramentas digitais utilizadas nas escolas. Sem isso, a plataformização da educação não será apenas mais uma forma de precarização, mas a consolidação de um neocolonialismo algorítmico, no qual estudantes e professores são reduzidos a fontes de extração de valor — silenciosos, monitorados e cada vez mais apartados de seus próprios processos de ensino-aprendizagem.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras