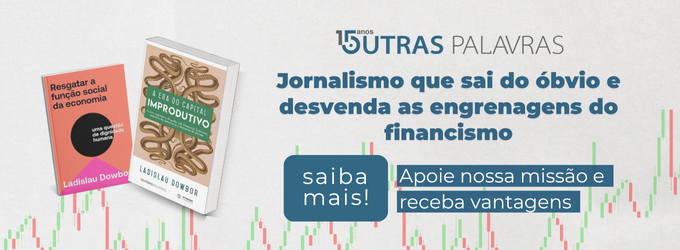Pochmann: A magia da financeirização
O parasitismo que esteriliza a economia real sepultou impérios e ameaça as economias periféricas. No Brasil, suas consequências sobre a decadência nacional são evidentes. E gastos públicos com juros – que podem atingir R$ 1 trilhão – são escamoteados pela grande mídia
Publicado 14/10/2025 às 18:58

Por Marcio Pochmann, em A Terra é Redonda
A financeirização, entendida como a crescente dominância de agentes, mercados, práticas e narrativas financeiras sobre a economia e a sociedade, tem sido um fenômeno mais evidente na contemporaneidade, embora possua raízes históricas profundas. Trata-se de parte dos ciclos de longa duração do capitalismo que alterna fases de expansão e contração material valorizativa do capital pela produção de mercadorias com a amplificação financeira parasitária dominada pelas finanças em acumulação rentista.
Do ponto de vista histórico, cada ciclo de longa duração tem sido marcado pela existência de um centro dinâmico no interior do sistema capitalista mundial. Assim, por exemplo, a Inglaterra respondeu pela centralidade do ciclo de acumulação de longa duração no período da segunda metade do século XVIII à primeira Guerra Mundial (1914-1918). Após o auge de sua expansão material transcorrido até a Grande Depressão de 1873-1896, a financeirização parasitária terminou marcando o fim do domínio inglês no mundo.
Em seu lugar, um novo ciclo de acumulação centrado nos Estados Unidos percorreu o século XX, cujo auge da expansão material teria se esgotado na década de 1970. Com isso, a financeirização parasitária tendeu a sinalizar cada vez mais o término do domínio mundial centrado nos Estados Unidos.
Em países como o Brasil que se encontra em posição periférica e dependente estrutural do sistema capitalismo mundial, o processo de financeirização adquire contornos especiais. Influência decisiva na sustentação do desenvolvimento diante do bloqueio ao dinamismo produtivo tecnológico, da degeneração da estrutura social, do comprometimento das instituições, entre outras importantes dimensões das esferas pública e privada.
Exemplificação disso encontra-se nos dias de hoje na forma alienante da comunicação dominante a apontar que o problema das finanças públicas no Brasil situa-se nas despesas primárias como saúde, educação e outras. Enquanto o déficit total nas contas públicas em 2025 deve atingir a cerca de 1 trilhão e 40 bilhões de reais, o foco termina sendo os R$ 40 bilhões de despesas primárias.
Dessa forma, os gastos públicos com juros que atingem RS 1 trilhão são escamoteados pela comunicação dominante, enquanto o processo de amplificação financeira parasitária segue praticamente intacto desde o final da década de 1990. Tudo isso porque o avanço das despesas públicas com juros segue enriquecendo o poderoso e minoritário “andar de cima” da população ao passo que a austeridade fiscal voltada aos gastos primários serve mais ao desorganizado e majoritário “andar de baixo” no Brasil profundo.
Em síntese, a dominância da lógica financeira esteriliza recursos públicos com a elevada rentabilidade do setor financeiro e desestimula a produção interna no Brasil por força das altas taxas de juros sobre o endividamento público concomitantemente com o movimento geral da financeirização no centro do capitalismo mundial. Por ser um processo amplo e complexo, suas consequências sobre a decadência nacional têm sido evidentes do período monárquico aos dias de hoje, salvo entre as décadas de 1930 e 1970, quando o Brasil perseguiu o projeto nacional desenvolvimentista.
Quebra da monarquia e República velha
A análise da financeirização no Brasil monárquico e na República velha permite revelar o cenário de constantes desafios econômico-financeiros e sociopolíticos. Por sua posição periférica e dependente estrutural no sistema capitalismo mundial centrado na Inglaterra, o país esteve exposto ao fim do ciclo de acumulação marcado pela expansão financeira parasitária desde a Grande Depressão de 1873-1896.
Em grande medida, as seis décadas de financeirização presente entre os anos de 1870 e 1920 tiveram origem convergente no endividamento público decorrente da Guerra do Paraguai (1864-1870) concomitante com o esgotamento dos cafezais fluminenses. Assim, a expansão financeira na monarquia soldou um conjunto de interesses no “andar de cima” ao reciclar a fortuna do baronato do café em decadência na província do Rio de Janeiro por meio dos títulos públicos que financiavam a dívida pública interna em conexão com banqueiros ingleses.
Também a indenização dos banqueiros na abolição da escravatura procedida pelo maior empréstimo obtido junto a bancos ingleses de todo o período imperial, em 1889, contribuiu para selar o próprio fim da monarquia. Sem conseguir romper com a financeirização herdada do antigo regime, a República Velha avançou fraquejada, pois soldada pelos interesses do antigo e novo baronato cafeicultor, cujo desempenho econômico foi marcado pelo atraso da semi-estagnação na economia primário-exportadora.
Sem alçar uma fase de expansão material que valorizasse suficientemente o capital pela produção de mercadorias, as crises do endividamento prosseguiram diante do descompasso das instituições liberais em relação à realidade social brasileira. Da crise do encilhamento (1890-1881) à política deflacionária ancorada nos empréstimos externos (Funding Loan de 1898) e na defesa da decadente produção de café, seja pelo Convênio de Taubaté (1906), seja pela Caixa de Estabilização (1926), a Repúblico Velha terminou também cavando a sua própria sepultura.
Desmonte da Nova República
Surgida na derrota da campanha das Diretas Já, a Nova República buscou se alicerçar na Constituição de 1988 que correspondeu a uma espécie de simbiose entre o ressentimento com o período autoritário e a frágil projeção de futuro. Guardada a devida proporção, parece lembrar a Constituição de 1891 por seu formalismo desconectado da realidade gerada por uma sociedade em mudanças, seja da escravidão para o capitalismo no final do século XIX, seja da industrialização para os serviços hiperconetados da Era Digital desde o final do século XX.
Com isso, a financeirização parasitária emergida da crise da dívida externa passou a moldar a economia e a sociedade desde a década de 1980. A adoção do receituário neoliberal pelo Brasil desde então esteve em sintonia com o fim do ciclo longo de acumulação centrado nos Estados Unidos, marcado pela amplificação financeira sucessora do esgotamento do expansionismo material valorizativo do capital pela produção de mercadorias.
A dominância da lógica financeira, impulsionada por altas taxas de juros e pelo endividamento público, compromete a sustentabilidade do desenvolvimento, bloqueia o dinamismo produtivo tecnológico e produz a degeneração da estrutura social, o enfraquecimento das instituições, as políticas públicas, entre outras dimensões das esferas pública e privada.
A superação dos desafios impostos pela financeirização exige um debate aprofundado e a formulação de um novo projeto nacional que priorize o investimento e a modernização do sistema produtivo, a distribuição da riqueza e constituições de novas instituições comprometidas com o futuro na era digital.
Sem isso, as já quatro décadas que acumulam a dominância financeira paralisante e decadente da nação tenderão a prosseguir. Uma excelente oportunidade para que o seu rompimento ocorra, sendo possível reconstruir outra maioria política em novas bases econômica e social para o segundo quarto do século XXI. Será possível?
Marcio Pochmann, professor titular de economia na Unicamp, é o atual presidente do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Autor, entre outros livros, de Novos horizontes do Brasil na quarta transformação estrutural (Editora da Unicamp). [https://amzn.to/46jSkQk]
Referências
ARRIGHI, G. O longo século XX: dinheiro, poder e as origens de nosso tempo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003.
BRAGA, J. Financeirização global – O padrão sistêmico de riqueza do capitalismo contemporâneo. In: TAVARES, M.; FIORI, J. Poder e dinheiro: uma economia política da globalização. Petrópolis: Vozes, 1997.
CARNEIRO, R. Financeirização e dinâmica produtiva-tecnológica: uma reflexão. Texto de discussão, 487; IE/Unicamp, 2025.
DOWBOR, L. A era do capital improdutivo. São Paulo: Autonomia Literária, 2017.
POCHMANN, M. O próximo Brasil. São Paulo: Ideias & Letras, 2025.
SOARES, R. Entre oligarquias. Rio de Janeiro: FGV, 2024.
VIANA, F. Instituições políticas brasileiras. Brasília: Senado Federal, 1999.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras