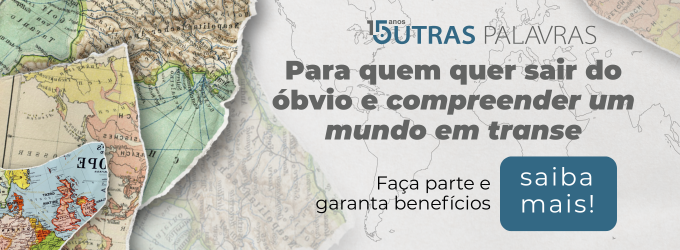Os dez anos do levante dos secundaristas
Em 2015, mais de duzentas escolas públicas foram ocupadas por estudantes em SP. Periferias sustentaram o movimento, que escalou nacionalmente. Uma década depois, é impossível dissociar um vasto legado de lutas a partir deste laboratório de pedagogia da insurgência
Publicado 14/11/2025 às 16:15 - Atualizado 14/11/2025 às 16:20

Por Andreza Delgado e Antonia Malta Campos, especial para a Ponte
Há dez anos esta semana, o que era para ser uma noite comum na Escola Estadual Diadema, na Grande São Paulo, havia deixado de ser. Depois de uma assembleia discutir como barrar a reorganização escolar que fecharia inúmeras salas e mais de 90 escolas — projeto do governador Geraldo Alckmin, então no PSDB e hoje vice de Lula, algo que na época ninguém sonharia dizer —, jovens tomaram para si a escola por meio de ferramentas concretas. Arrombaram cadeados na madrugada e, assim que os professores e funcionários chegaram para trabalhar, receberam a informação de que a escola estava ocupada.
Nessa jornada contra a reorganização, estudantes de todo o estado já vinham fazendo protestos de rua há semanas quando os estudantes da EE Diadema decidiram por uma tática mais radical contra o governo. Uma ideia que se disseminou rapidamente com ajuda de zines e a divulgação do documentário chileno “A Revolta dos Pinguins” (2006, de Carlos Pronzato).
Entre novembro e dezembro de 2015, mais de duzentas escolas foram ocupadas no estado de São Paulo. Um ano depois, a EE Diadema se mostraria não só a primeira escola ocupada na luta dos secundaristas de São Paulo contra a reorganização escolar, mas a primeira de um ciclo de luta estudantil em nível nacional que abrangeu múltiplas pautas de defesa da educação pública e durou mais de um ano, tendo em seu pico de mais de mil instituições de educação básica e superior ocupadas no país contra a Reforma do Ensino Médio e a PEC do Teto de Gastos.
Movimento que começa e termina na periferia
Produzir memória também são formas de finalizar histórias que sabemos não terem finalização, são processos contínuos. Mas o ato de produzir memória busca o que está no passado com a necessidade de um enredo que é sempre político. E aqui celebramos as ocupações mas também levantamos a história de que esse movimento só aconteceu porque os corpos socialmente mais marginalizados (negros, LGBTQIAPN+ e mulheres periféricas) lideraram e se organizaram. Se houve algum dia a “cara do movimento secundarista”, esta seria de uma menina negra não heterossexual de alguma quebrada.
Traduzindo ao leitor essa história em dados, a pesquisa nacional “Ocupações secundaristas no Brasil em 2015 e 2016: Formação e auto-formação política das e dos ocupas”, coordenada pelo professor Luis Antonio Groppo da Universidade Federal de Alfenas/MG, mostra como o movimento das ocupações de escolas foi composto por jovens da classe trabalhadora, tendo como lideranças principalmente meninas e com forte presença de jovens LGBTQIAPN+ e negros no corpo da luta.
Dez anos depois, é importante reconhecer que o engajamento estudantil foi fortemente orientado por estes marcadores, sem este reconhecimento não é possível compreender nem a força do movimento nem disputar seu legado, pois se este foi derrotado com avanço cada vez mais agressivo das políticas de desmonte da escola pública contra as quais os estudantes lutavam, ele também teve consequências transformadoras e forte impacto nas trajetórias de vida dos estudantes, na forma de deslocamentos e ressignificações das identidades raciais, de gênero e de orientação sexual.
Este é o tipo de impacto que se mostra muito mais difícil de ser mensurado por se dar de maneira pulverizada e atingir os jovens das periferias das cidades que não permaneceram em contato com nenhuma rede de militância, nem tiveram acesso às condições de produção de memória (como participar de documentários ou eventos), mas tiveram suas vidas profundamente afetadas. Pesquisadores também têm dificuldades para acessar jovens que ocuparam escolas de periferia por conta de uma reprodução da rede de contatos maior com escolas centrais que já havia durante as ocupações.

A História escolhe seus símbolos
Há uma escassez da memória das ocupações de escola nas periferias, embora estas tenham sido o grande sustento do movimento. Esse recorte não é inocente, ele revela o modo como a história escolhe seus símbolos e quase nunca escolhe as mulheres e a juventude LGBTQAPN+ e negra das periferias.
São dez anos de um movimento amplamente divulgado à época, pelos próprios números de escolas ocupadas, sua magnitude. Mas a história não pode ser contada do ponto de vista de uma mobilização estudantil esvaziada dos sentidos que vão além de suas pautas. Se, por um lado, houve uma mobilização estudantil abrangente e diversificada em seus atores (entidades estudantis, coletivos partidários, jovens da pastoral da juventude e coletivos autonomistas e anarquistas conviveram durante o ciclo de luta em 2016 no Paraná, por exemplo), por outro essa diversidade deve ser entendida sobre o prisma de raça, gênero e território, estas, sim, dando um corpo ao movimento.
O protagonismo dos jovens LGBTQAPN+, negros, meninas e da periferia nas ocupações da capital de São Paulo, por exemplo, foi um fato que se sobressaiu em todas as formas de organização política dos estudantes; algo que deve ser lembrado tendo em vista que as coupações que angariaram mais apoio foram as escolas dos bairros centrais, como a EE Fernão Dias ou o Centro Paula Souza, condição que posteriormente impactou o acesso a condições de produção de memória via redes de militância e/ou classe social que possam ter permanecido.
Durante as ocupações o país já olhava para determinada representação dos estudantes enquanto centenas de escolas nas bordas da cidade estavam resistindo sem câmera, sem imprensa, com o apoio das comunidades de mães e professores que montavam acampamentos em frente aos portões para garantir a segurança dos estudantes que ocupavam. É claro que a sociedade e a mídia darão mais visibilidade para escolas centrais, mas aqui a gente precisa estender essa conversa para qual foi o efeito disso, depois de dez anos.
Pedagogia da insurgência
As ocupações produziram na juventude uma politização progressista que não encontrou lugar na política institucional. Por outro lado, coletivos autonomistas também não conseguiram produzir a continuidade de estruturas organizacionais independentes que existiam durante as ocupações, em parte justamente pela dificuldade de absorver as contradições que as disparidades das condições de luta entre escolas centrais e periféricas produziram e as demandas trazidas pelos jovens ocupantes com relação ao protagonismo feminino, LGBTQIAPN+ e negro.
Imagine uma experiência política na qual onde você se entende enquanto sujeito político, num processo emancipador com outros milhares de jovens em diferentes territórios do brasil; enquanto você se dá conta da sua sexualidade, gênero, classe; e do fenômeno da representação e representatividade. E ver as possibilidades de engajamento desaguarem em um campo político que ainda evoca que este público é identitário ou deve se adequar à política institucional. É sobre o pano de fundo dessa politização que também podemos ver assim fenômenos de comunicação na esquerda como Chavoso ou Galo de Luta e fenômenos de produção cultural como a ColetivA Ocupação
Um dos maiores legados das ocupações esteve na pedagogia dessa presença: foi quando o corpo negro, dissidente de gênero e periferico decidiu existir em lugares onde ele não cabia — no centro da luta por educação — que as ocupações ganharam sua força.
As maiores marcas daquele movimento não estão nas pautas ou nem mesmo nos efeitos que ele produziu sobre a esquerda organizada quanto a seus repertórios; está nos jovens que se tornaram adultos com consciência crítica, nos projetos culturais que nasceram das ocupações e que foram capazes produzir uma memória que enfatiza o protagonismo de corpos dissidentes; e em lutas que se seguiram com lideranças de mulheres negras que continuam reinventando o significado de educar e resistir, como a ocupação preta na Universidade de São Paulo (USP) que radicalizou outra história, a história da batalha das entidades negras por adoção das cotas étnico-raciais quando estas decidiram que a ocupação seria uma forma de luta para pressionar a reitoria da universidade, que depois de muita pressão cedeu a pauta histórica.
E por que não falar do Breque dos Motoboys, das lutas feministas que ocuparam as ruas, do crescimento dos coletivos de cultura e das redes de solidariedade nas periferias? Todas essas mobilizações são filhas da pedagogia da insurgência da qual as ocupações foram paradigma. Uma pedagogia que ensinou uma geração a enfrentar o poder com o corpo, a construir política a partir da experiência e a entender que ocupar é também existir.
Dez anos depois, o legado das ocupações segue vivo em cada gesto de resistência cotidiana, em cada mulher negra, LGBTQIAPN+ e periférica que transforma a educação, a arte e a política com sua presença. Porque se as escolas foram desocupadas, o aprendizado da insurgência permanece.
Andreza Delgado é curadora, produtora cultural, escritora, apresentadora e diretora criativa. É cofundadora da PerifaCon, a primeira convenção nerd das favelas, e dirige criativamente o Beco dos Artistas. Trabalha com projetos de cultura pop e geek voltados para a periferia, como Gamer Perifa e Copa das Favelas — premiada como melhor projeto social geek em 2021. Foi reconhecida pela BBC como uma das 100 mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo (2023) e pela “Wired Magazine” como uma das 50 profissionais que transformaram a criatividade no Brasil (2021).
Antonia Malta Campos é mestre em Sociologia pela Unicamp e coautora do livro “Escolas de Luta” (Editora Veneta, 2016), ao lado dos pesquisadores Marcio Ribeiro e Jonas Medeiros.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.