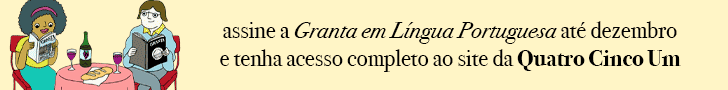O rap que reinventa a periferia
Nos últimos 30 anos, ele formou gerações de poetas suburbanos. A Academia reconheceu-o como essencial para compreender o Brasil de hoje. É ferramenta pedagógica em escolas e presídios. Agora, antropofagiza-se com o repente, griô africano, partido alto…
Publicado 09/02/2024 às 17:58

Por Carol Botelho, no Suplemento Pernambuco
Nascido nas ruas, criou-se nas quebradas das periferias. Sobrevive às dificuldades porque nunca anda sozinho. Traz consigo a consciência da força da coletividade. Com criatividade indócil, chegou ao mainstream sem tirar o pé do underground. Entrou nas casas e playlists da classe média alta, mas permanece periférico. Aos 50 anos, seu nome é rap, sigla em inglês para Ritmo e Poesia. Segue na luta conquistando espaços e travando batalhas – de MCs e slammers contra o preconceito, desigualdade, racismo e machismo, dando a letra através da oralidade e do corpo. Descobriu a performance como aliada na comunicação global. Ocupou as páginas dos livros e as teses e dissertações acadêmicas. O rap é a parte mais importante e literária do hip-hop, cultura tradicional urbana concebida nos anos 1970, nas periferias de Nova York, nos Estados Unidos, tendo a música como principal manifestação artística e na palavra sua fonte de longevidade. Palavra acompanhada pela paisagem sonora dos samples (trechos sonoros de uma música que são reutilizados) criados pelo DJ, diante do cenário colorido do grafite, embalando os b-boys no breakdancing.
“O rap positivou identidades periféricas, ressignificou a própria ideia de periferia, reconfigurou radicalmente os padrões estéticos, de modo que a MPB deixa de ser o principal modelo de compreensão, avaliação e juízo metodológico. Talvez o rap seja a mudança mais impactante na música brasileira nos últimos 30 anos”, opina o doutor em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), professor de literatura da Universidade de Pernambuco (UPE), Acauam Oliveira. Seu objeto de estudo do doutorado foi o maior grupo de rap do Brasil, o Racionais MC’s, formado em 1988 por KL Jay, Ice Blue, Edi Rock e Mano Brown. Recentemente, o grupo recebeu o título de doutor honoris causa concedido pela Universidade de Campinas (Unicamp), em São Paulo. Um dos álbuns da banda, Sobrevivendo no inferno (1997), figura na lista de leituras obrigatórias para o vestibular de uma das universidades mais importantes do país.
“A concessão desses títulos é um reconhecimento do quanto o grupo é importante no combate ao racismo e às desigualdades dentro de um país que confronta conceitos como cordialidade e democracia com aspectos coloniais e autoritários. Acho que a inserção do disco Sobrevivendo no inferno colocado em paralelo às obras literárias canônicas que vêm sendo indicadas para os vestibulares marca o reconhecimento da mudança de perfil dos estudantes – principalmente depois das cotas – e da própria universidade e de seus professores, querendo desenvolver as problemáticas sobre raça e desigualdade. Isso não quer dizer que, antes, não existiam pesquisadores pensando o rap, em particular, e o hip-hop, no geral. Mas as pesquisas não estavam muito conectadas 20 anos atrás. Agora eu acho que tem havido um projeto político de entender o hip-hop como possibilidade de pensar outras formas de conhecimento”, declara Daniela Vieira dos Santos, professora de Sociologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), no Paraná, e coordenadora do projeto A nova condição do rap no Brasil.
Do álbum Sobrevivendo no inferno nasceu, em 2018, o livro de mesmo título, prefaciado por Acauam, com as letras do “clássico” do rap nacional. Se os Racionais é unanimidade na produção musical, quando passou para o livro, enfrentou opiniões divergentes. “Retirar a dimensão musical e publicar letras de canções em formato de livro, assumindo o caráter poético, digamos assim, é interessante. Inicialmente, muita gente reclamava quando comprava o livro meio desavisado e via que não era um livro de crítica. Respondi às reclamações públicas afirmando que se tratava de um livro de poesia, que assume a linguagem dos Racionais enquanto uma linguagem poética. Esse questionamento vinha sempre da galera que não era da quebrada porque a galera da quebrada sempre entendeu que aquele era um livro de poesia. O pessoal da academia é que entendia como uma espécie de redundância”, lembra Acauam, complementando que pensar na ocupação do espaço-livro pelos Racionais e ocupar as salas de aula é mais importante que o reconhecimento acadêmico.
“O rap nunca dependeu de reconhecimento acadêmico para se consolidar. pelo contrário, se organiza em confronto com o caráter elitista das universidades, sobretudo no período pré-cotas. Entendo que não é um selo de legitimidade, como se a academia tivesse que validar a obra dos Racionais, que se organiza contra essa validação. É apenas mais uma conquista, assim como documentários, filmes, títulos de honoris causa. Costumo dizer que não foi o rap que correu atrás da academia. A academia teve que correr atrás do rap para poder dar conta de questões fundamentais da nossa época com as quais não estava sabendo lidar. Muita pesquisa já foi feita por questões levantadas pelo rap”, salienta Acauam.
O sucesso dentro do sistema regido pelo mercado já rendeu críticas aos Racionais. Mas essa é uma das contradições com as quais o gênero tem que lidar. “O rap enquanto música dialoga com o mercado, mas também sofre com as mazelas que o mercado produz, de opressão e exclusão. É importante que artistas de rap estejam no mainstream e façam retornar essa conquista para a cadeia produtiva, senão ela deixa de existir. Afinal, o mainstream não existe sem o underground, o rap não existe sem a periferia”, reflete o MC e produtor Pedro Valentim, do coletivo de hip-hop mineiro Famílias de Rua – que organiza duelos de MC’s além de eventos de dança e grafite, desde 2011.

Tema de livros, pesquisas, teses e dissertações dedicadas a esmiuçar o gênero que reflete o cotidiano urbano contemporâneo, o rap se inspira na literatura ao mesmo tempo em que é fonte de inspiração literária, seja oral ou escrita. Essa relação, segundo Acauam, é tensa, assim como é tensionada a relação entre literatura brasileira e literatura afro-brasileira. “Acho que é fundamental não cair no conto do vigário da representação literária como um guarda-chuva democrático onde todas as diferenças acabam convergindo e convivendo tranquilamente. Pensando em rap e literatura canônica é preciso olhar para a cisão. É importante para contrapor essa perspectiva liberal de que a literatura incorpora tudo. Me parece que o rap estaria muito próximo do experimento de linguagem da Carolina de Jesus, que não ocupa o cânone. Ela institui uma outra coisa que vai se tornar cada vez mais forte dentro do paradigma da literatura afro-brasileira”, opina Acauam.
O pesquisador diz ainda que a narrativa de Carolina não é compreendida com as mesmas lentes com as quais se entende Clarice Lispector ou Guimarães Rosa. “Carolina faz literatura com o papel que Clarice joga no lixo. É um outro paradigma que tensiona a ideia de representação que a gente tem dentro de uma concepção mais canônica. Acho fundamental demarcar essas diferenças porque elas representam a própria diferença da negritude, do que é ser negro na modernidade. Não é um significante nacional, não é erudito, é muito mais um bom sujeito. A impossibilidade de universalização está dada muito claramente. É a negação da própria ideia de autonomia estética”, define. Acauam acredita na proximidade entre literatura e rap, mas principalmente de uma literatura periférica brasileira que se constrói a partir de diálogo originado de paradigmas estabelecidos pelo rap e hip-hop. É como se fosse uma literatura hip-hop. Partindo do pressuposto de que a literatura é expressão da subjetividade moderna do ocidente, Acauam diz que o rap seria antiliterário “na medida que o negro é a impossibilidade desse sujeito se constituir enquanto tal, a não ser enquanto fratura, enquanto clivagem. Ao perder de vista essa diferença, estaremos falando de uma representatividade liberal que é muito mais conservadora do que radical, apesar de ter ares progressistas”, analisa Acauam.
Onomatopeias, efeitos rítmicos e rímicos, jogos de entonação, flexão de voz e timbre são informações estéticas das tradições da literatura oral, que têm o rap como sua representação mais contemporânea. “Acredito que o rap tem referências na oralidade, mas tem pessoas que discordam disso e leem o rap dentro da chave da poesia. Só que aí deixa de ser rap porque falta a música, a melodia. Se a gente olha só a narrativa, a letra, a composição, a poética, deixa de entender essa forma artística na sua totalidade que, sem dúvida, canta tendo como base e inspiração a linguagem falada. Pensando na forma, se olhar somente pra letra, pra poética, a gente tá cortando elementos que constituem aquela forma artística”, defende Daniela Vieira dos Santos. “Literatura sempre pressupõe a palavra escrita porque vem de letra, só que letra é a representação gráfica de um som, um fonema. Ela é uma espécie de partitura da fala enquanto som, uma dimensão sonora da língua que é transposta para o papel. Penso na importância do rap para fomentar manifestações literárias”, explica o professor-doutor em Ciência da Literatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcus Rogério Salgado.
Para ilustrar essa teoria, Marcus cita o romancista e poeta Ferréz, nome artístico do paulistano Reginaldo Ferreira da Silva, cuja relação entre periferia e literatura está no lead de sua narrativa escrita. “É um autor mergulhado na cultura hip-hop que usa a voz de uma forma muito semelhante ao de um MC, inclusive fragmentando fonemas, naquilo que chamo de oralidade técnica, com aparato do sampler, vocoder (instrumento que sintetiza a voz humana) atuando sobre a plasticidade da palavra enquanto som. Muito do que podemos identificar no rap como sendo literatura vem do diálogo com o que Renato Cordeiro Gomes (1943-2019), estudioso da literatura brasileira contemporânea, chamava de Novo Realismo em literatura. Seriam tentativas de representação documental e poética do real. Esse efeito de verossimilhança é buscado não só pelos samples, sirene de polícia, notícias sangrentas de telejornal. Os Racionais têm um sample famoso de uma narrativa televisiva sobre um incidente que aconteceu com eles durante um show na Praça da Sé. A gente tem a impressão contínua de que a voz do rap tá mergulhada no coração da ação. Uma narrativa frenética”, explica Marcus.
“O rap bebe na tradição e conecta com o que há de mais novo. Conheço muitos personagens da música brasileira que não saberiam da existência se não fosse pelo sample. Para criar bases é preciso ter conhecimento sobre música. É um movimento constante de inquietude, um lugar do presente que se conecta com o passado de olho no futuro. Não se contenta com algo que tem um fim em si mesmo”, define Pedro.
Propor a socialização do rap com outros gêneros orais como repente, cordel, partido alto, griô africano parece um caminho natural. O músico pernambucano Zé Brown ganhou notoriedade por aliar rap à embolada. “Defendo uma resistência da cultura nordestina em associação com o rap.” Mas, no começo, não foi fácil. Sofreu preconceito, ao propor essa mistura, para ele tão natural, pois berço de sua formação musical. “Ouvi muito maracatu, coco, ciranda, embolada, ouvia muito a palavra rima. E trouxe para o rap. Em 1988, fiz um laboratório de rap com embolada. Comecei a fazer essa pesquisa e em 1990 já fazia improviso. Hoje enfrento qualquer embolador de coco. Confeccionei um pandeiro com lata de goiabada. Fui cantando rap em cima da batida da embolada. Isso foi quando eu tinha 17, 18 anos. Este ano comemoro 35 anos de carreira com a banda Faces do Subúrbio e também em projeto individual”, conta Zé. Seu trabalho é um dos frutos do movimento Manguebeat, que teve Chico Science como protagonista e ficou conhecido justamente por misturar diversos ritmos da cultura pernambucana com o rock. O artista reside no município de Diadema (SP), onde atua como arte-educador no Instituto Matéria Rima, ensinando alunos de 7 a 14 anos a rimar e tocar pandeiro. “Quando a gente está exercendo a prática de arte-educador junto com o pandeiro, a música, chega a ser um divertimento.”
Acauam defende que a aproximação do rap com outras expressões de oralidade vêm tanto para deslegitimar o caráter de novidade do rap quanto para nacionalizar suas origens. “A gente não pode deixar de esquecer que o rap tem uma perspectiva afrodiaspórica muito importante, muito forte; portanto, entra em tensão com a visão nacionalista. É muito mais negro que nacional, muito mais preto do que mestiço. Pode até haver pontos de contato entre o modelo de improvisação do repente e o modelo de improvisação do rap. Mas não é só porque improvisa que um origina do outro.”
Tradição pré-histórica, a literatura oral segue ativa por sua importância social de narrar histórias mesclando elementos trazidos dos povos africanos, indígenas e portugueses e expressos em danças, mitos, fábulas, parábolas e lendas . No livro Literatura oral no Brasil (1984), Cascudo escreve: “A literatura oral é como se não existisse. Ao lado daquele mundo de clássicos, (…) digladiando-se, discutindo, cientes da atenção fixa do auditório, outra literatura, sem nome em sua antiguidade, viva e sonora, alimentada pelas fontes perpétuas da imaginação, colaboradora da criação primitiva com seus gêneros, espécies, finalidade, vibração e movimento, continua rumorosa e eterna, ignorada e teimosa, como rio na solidão e cachoeira no meio do mato”. Em um país como o Brasil, com 30% de sua população analfabeta até o século XIX, a literatura oral é um instrumento de democratização.
Marcus afirma que a oralidade é muito recalcada na sociedade brasileira. O poeta, declamador e produtor cultural pernambucano Antônio Marinho endossa a afirmação. “A escrita é um instrumento de segregação. Quem não tem a escrita, não tem poder e sofre preconceito. Esse conceito é ultrapassado”, declara o cantador de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, e neto do famoso repentista Lourival Batista. “A oralidade complementa a escrita e ambos servem à linguagem. É impossível um texto que não tenha marca de oralidade. A poesia é oral não porque é escrita, mas porque na oralidade encontra a plenitude do discurso. Há poemas que surgem para serem performados, pois são fundamentais os trejeitos, o lugar, os elementos para além do código. Isso se revela tecnicamente na elisão poética, quando se declama da mesma maneira que se fala: juntando sílabas. Já no hiato poético, as sílabas ficam mais separadas”, esclarece Marinho, acrescentando que a oralidade inclui expressão do corpo, olhos, boca, em um lugar de fala coletivo, como é comum às manifestações de cultura popular. “Eu venho da cantoria, mas nunca fechei as portas para o rap ou a poesia visual. O repente está próximo do rap até no radical da palavra. A poesia é a subjetividade a serviço do riso e da dor. A diferença está no poeta”, diz, adiantando que há um projeto da Unicap de pós-graduação EAD em poesia do Pajeú. Por lei, os estudantes municipais já cursam a disciplina de poesia popular, onde estudam a cantoria de viola, o cordel. “Os alunos já estão familiarizados com esses poetas, que, muitas vezes, são seus parentes próximos. Ajuda no desenvolvimento, vocabulário, relação com a língua. Muitos acham o português difícil. Então qualquer toque de lúdico, de arte confere sensação de liberdade”, defende Marinho, que deve ocupar alguma função nesse projeto da Unicap.
“Subi ao palco pela primeira vez aos três anos e disse 30 versos. Minha avó dizia um verso no café para eu recitar no almoço, outro no almoço para dizer no jantar, e outro no jantar para eu dizer no café da manhã do dia seguinte. É um exercício diário”, ensina.“Muito antes das pautas identitárias se tornarem um fenômeno midiático, o rap já colocava em posição central os corpos pretos a partir de uma perspectiva que valoriza esse lugar do olhar. Daí seu grande potencial pedagogico. Para quem trabalha com pedagogia contemporânea pós-Paulo Freire na ideia de que a construção dos saberes é feita por meio de parcerias e a partir da realidade do aluno, fatalmente vai ter uma letra de rap sendo trabalhada em sala de aula por uma demanda dos próprios alunos e pela abertura que o rap pode fazer para se discutir questões de gênero até geopolítica”, defende Marcus.
“Conheço muitos educadores e educadoras que trabalham rap na sala de aula, em presídios…O relato é unânime: quando as pessoas entendem que rap é poesia, muda tudo. Acaba sendo uma porta de entrada para introduzir o assunto e conseguir a atenção para a literatura. Há uma barreira do ‘literatura não é pra mim’ que acaba sendo quebrada e o público passa a entendê-la de outra maneira, principalmente o público jovem”, acredita Roberta Estrela d’Alva, que, em 2008, importou de Chicago para o Brasil o slam, competição de poesias criada na década de 1980 por Marc Smith. Isso graças à oralidade.
Palavra oral é o amplificador de alcance global do rap, como o qual rima, recita e canta as mazelas do Brasil contemporâneo, criando a literatura em terceira dimensão, no espaço e tempo em que o/a rapper declama ou uma batalha entre slammers e Mcs acontece. “Há ainda uma ideia no Brasil de que nós temos uma oralidade exacerbada a ser superada. O corpo é incontrolável, e a voz livre e solta é perigosa, por isso é tão combatida e desvalorizada em detrimento da escrita”, explica Roberta. A atriz-MC, poeta e pesquisadora enxerga o slam como uma plataforma que ajudou a organizar a cena rap que hoje temos no Brasil. “São mais de 400 comunidades em 22 estados com rodas de poesia abertas. A gente não pode esquecer que esse país teve quase 400 anos de um sistema escravocrata em vigor, que tivemos ditadura. Isso quer dizer silenciamento de vozes. O slam vem fazer com que essas vozes sejam finalmente ouvidas.”

Vozes como a de Eliza Metzker, 24 anos, natural de Caravelas, no extremo sul da Bahia, poeta slammer e atual campeã de poesia falada. Eliza é também professora de língua portuguesa e redação pela rede municipal, graduada em Letras e mestranda em Estudos Literários pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb), e tem se debruçado sobre a literatura marginal, tendo o slam como instrumento de denúncia social e resistência de mulheres negras periféricas. “Traço um panorama sobre como a literatura oral é importantíssima quando a gente fala de corpo, voz, palavra, e como as temáticas de cunho social abordadas nos textos de slam servem como ferramenta de grito do oprimido, do marginalizado.” O slam aparece principalmente como lugar de expressão feminina dentro de um universo ainda muito machista. Uma das cofundadoras do recém-nascido Slam Marginal, Eliza celebra um ano do projeto que realizou cinco edições e contou com presença massiva de mulheres. “A gente estabelece um contraste dentro da cultura do rap que é majoritariamente masculino. No slam há mais mulheres poetas do que nas batalhas de rima. Comunidades do slam possuem recorte de gênero justamente para visibilizar vozes dissidentes, não binárias, transgêneras.”
E a academia não fica atrás, apesar dos grandes avanços. “A escrita acadêmica pautada nas comunidades originárias, comunidades de terreiros, assentamentos vem ganhando a cena das universidades que, infelizmente e de forma geral, continua branca, machista e lgbtfóbica. Mas a resistência está em continuar escrevendo, rimando, produzindo, cantando e ocupando espaços como o movimento slam proporciona”, opina Eliza. Até o Ensino Médio, ela não havia tido contato com autoras negras como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus e Maria Firmina dos Reis. “Pude me reconhecer como mulher preta, baiana, escritora.” Não demorou para chegar ao slam, em 2018. “Fui começando a escrever nessa vertente sem antes saber que tinha esse nome e essas características de performance. Com a performance meus textos ganharam vida. Hoje não me vejo escrevendo como a Eliza de 14 anos escrevia porque não tinha a performance. A palavra por si só existe, é importante, é válida, mas, quando entram em cena o corpo, os gestos, as expressões faciais e todo esse conjunto, é como reavivar o que você quer transmitir para o seu interlocutor.”
Rapper, poeta, educadora social e produtora cultural, Fabidonas – nome artístico da autônoma Fabiana Costa –, uma das pioneiras do hip-hop em Pernambuco, iniciou sua trajetória na década de 1990 inspirada na literatura de cordel. “Fazia leitura também de livros aleatórios de poesia para descobrir novas palavras para encaixar nas rimas. Buscava entendimento nessas leituras de metáforas, muito utilizadas no rap.” Atualmente, investe na fusão dos estilos derivados do rap como boombap (onomatopeia para o som do bumbo e da caixa), afrobeat (combinação de música iorubá, jazz e soul) e dub (ancestral da música eletrônica criado na Jamaica nos anos 1960). Nas composições, busca rimar, recitar e cantar o cotidiano feminino. “A linguagem do dia a dia, da conversa faz muito efeito. Narrar um fato, contar uma história…O hip-hop é um movimento que luta contra a opressão, porém, ainda é um movimento machista e misógino. Sempre existiram mulheres na cena hip-hop; no entanto, na maioria das vezes, atuando como coadjuvantes, fazendo backing vocal ou atuando nos bastidores da produção. Atualmente, tem acontecido um levante das mulheres na cena. Estamos mais unidas e organizadas politicamente, trabalhando em rede por todo o Brasil, através da Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que existe desde 2010.”
Fabidonas é também jurada da Batalha da Escadaria do Recife – cada estado brasileiro tem a sua. A da capital pernambucana que surgiu em 2008 e é considerada a primeira do Norte e Nordeste, tendo sido vice-campeã nacional em 2021. A importância do grupo acabou de ser reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. Na batalha, dois MC’s “duelam” no formato freestyle, no palco da rua, sempre na primeira e na terceira sexta-feira do mês, numa das esquinas de uma das principais avenidas da capital pernambucana, a Conde da Boa Vista, com a Rua do Hospício.
Luiz Carlos Ferrer, idealizador do evento e produtor, diz que a temática do confronto é livre. Só não vale lgbtfobia e racismo. Para Luiz, o freestyle seria uma forma atual de repente, em que o consumo de conhecimento é o melhor aliado na ampliação do repertório do MC. “O desempenho vocal também ganha pontos, assim como a métrica. Tem que treinar porque você pode dominar um assunto, mas não saber encaixá-lo em uma rima”, diz. Luiz ensina também em oficinas nas escolas do Recife e Região Metropolitana. “Minhas referências foram Chico Science, Jorge Du Peixe, Faces do Subúrbio e toda a Nação Zumbi, Devotos e minha tia, que ouvia muito soul e blues”, conta Luiz, fã declarado do Manguebeat, que se orgulha de já ter ouvido de consagrados produtores locais que a Batalha da Escadaria é a continuação do movimento que eclodiu nos anos 1990.
NOVO RAP
Daniela está à frente do projeto A nova condição do rap no Brasil, que busca entender as relações entre os novos artistas de rap e a nova classe média, de 2010 até aqui. “A princípio, eu achava que as transformações pelas quais o rap vinha passando estavam vinculadas a uma nova safra de artistas que estavam levando adiante essas mudanças. E quais eram esses artistas? Criolo e Emicida. Mas olhando para Emicida, percebi que a ética de trabalho dele estava muito parecida com a dos artistas que apareceram antes dele, como o Racionais, Thaide.., enfim, uma orientação muito parecida. A partir daí, compreendi que não se tratava de uma questão geracional, mas de um processo social mais amplo no qual o rap estava inserido. Essa nova condição do rap se caracteriza por mudanças no espaço social e simbólico do rap, que não se restringe mais a espaços periféricos alternativos”, explica a pesquisadora.
Além da mudança de espaço social, Daniela aponta também um processo de internacionalização do rap, um maior protagonismo LGBTQIA + e das mulheres. “Não que elas não estivessem presentes antes. Mas hoje a possibilidade de não invisibilização tem sido maior, ainda que a gente saiba que há machismo e sexismo. É uma luta constante que nos ajuda a compreender também as novas configurações de raça e classe no Brasil. “Faz sentido pensar que a aproximação rap e academia demarca algumas mudanças na nova condição do rap que Daniela Vieira pesquisa. Uma geração que vem das batalhas, que encontrou uma inserção maior no mercado e tem uma relação um pouco mais desabusada com consumo. Representatividade, gênero, ecologia, relação mais livre com determinados tipos de linguagem que o rap inicial recusou ou tinha mais entraves. Manter-se ligado eticamente com os parceiros que ficaram de fora da festa, conseguir encontrar mecanismos para que a periferia consiga descer o morro e invadir os espaços. Nesse sentido, ainda estamos muito aquém. Essa é a grande questão do rap contemporâneo: quando se desliga da periferia, perde a força”, adverte Cauam.
Pedro avalia, que atualmente, as pessoas chegam mais preparadas nas batalhas do que nos anos 1990, quando o acesso à tecnologia era ainda mais limitado para os povos periféricos. “Os jovens assistem a batalhas no YouTube, têm acesso a maiores conteúdos, trazem discussões mais complexas sobre filosofia, matemática. Por outro lado, a força de luta política era maior no passado”, constata. Na busca pela profissionalização, o MC se torna um atleta, a quem o mercado procura para patrocinar. Ao mesmo tempo, segundo Pedro, está ocorrendo uma construção nacional da cultura hip-hop. “Acabou de ser lançado um edital de R$6 milhões para fomento do gênero, pelo Governo Federal. É pouco, mas já é uma conquista.” Em Porto Alegre (RS), o primeiro Museu da Cultura Hip Hop foi inaugurado em junho deste ano. “As pautas urgentes estão nas batalhas. Mas rap não é somente dor. Há paz, amor, união e diversão. Não se faz rap sozinho”, declara Pedro. O show, ou melhor, a batalha da palavra e do corpo tem que continuar.
Carol Botelho é jornalista, repórter das revistas Pernambuco e Continente.
Sem publicidade ou patrocínio, dependemos de você. Faça parte do nosso grupo de apoiadores e ajude a manter nossa voz livre e plural: apoia.se/outraspalavras