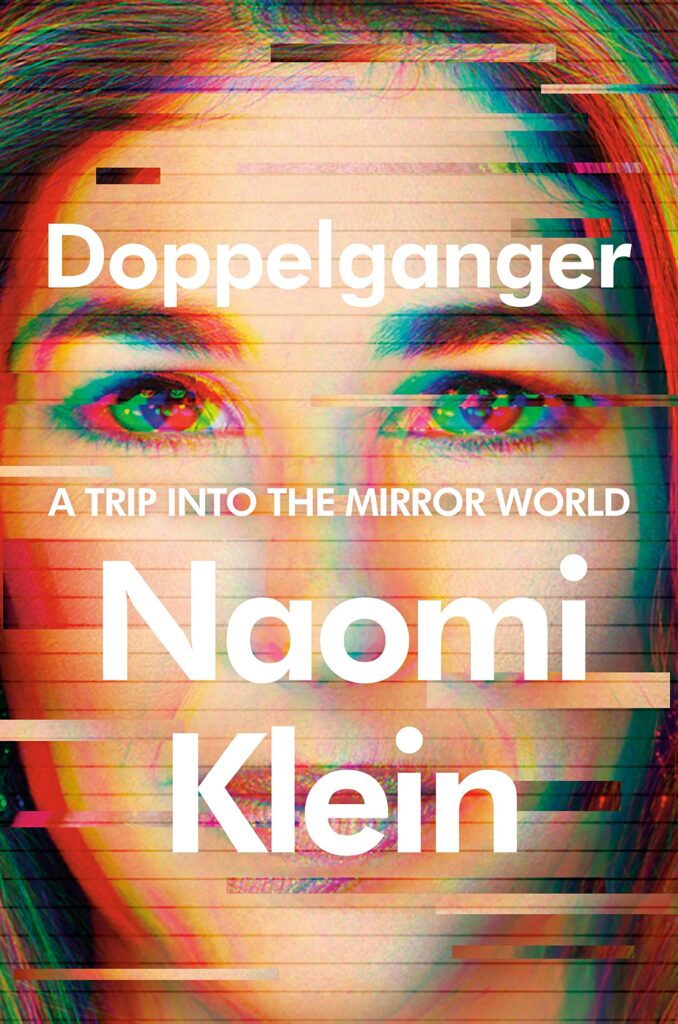Naomi Klein: O falso e o real através do espelho
Livro provocador da jornalista canadense analisa a realidade da falsidade no indivíduo “duplicado” nas redes sociais. Como o desejo por fama e adulação alimenta uma performance que pode, rapidamente, levar à “morte social”? E como isso alimenta a ultradireita?
Publicado 26/11/2024 às 17:25 - Atualizado 26/11/2024 às 17:29

Por Rodrigo Nunes, na Le Monde Diplomatique Brasil
No centro do livro de Naomi Klein há um paradoxo com o qual todos que têm se dedicado a compreender a ascensão global da extrema direita na última década se deparam: por um lado, o fato de que aquilo que nos separa do que ela chama de “Mundo-Espelho” não seja um desacordo sobre a interpretação da realidade, mas sobre a própria realidade, como se efetivamente vivêssemos em mundos diferentes; por outro, o evidente oportunismo e autointeresse de figuras como a “Outra Naomi”, que passou para o lado de lá em busca de “tudo o que um dia já teve e perdeu – atenção, respeito, dinheiro, poder”. Como entender essa paradoxal conjunção do cinismo, que supõe certa distância crítica em relação às próprias crenças, e uma fé imune a toda dúvida?
Trata-se de um problema com o qual Theodor Adorno já há via se confrontado num texto de 1951, “Teoria freudiana e o padrão da propaganda fascista”, e que ele chamava ali de “falsidade” (phoniness)[1]. Embora suas observações não sejam conclusivas, elas apontam numa direção importante. A identificação com as próprias crenças ou com as crenças daqueles que seguimos não precisa ser completa para configurar adesão a uma causa ou movimento; as pessoas podem frequentemente saber que algumas de suas crenças ou argumentos têm valor essencialmente instrumental, servindo apenas para fazer avançar sua posição. Que a adesão seja nesses casos uma performance, contudo, não torna menos sincera a convicção na necessidade de performá-la, dado que, ao fim e ao cabo, a adesão que realmente importa não é a esta ou àquela crença particular, mas à necessidade de fazer avançar a causa e os valores de que ela é portadora – e nenhum valor é, em última análise, mais alto que o poder que esse avanço é capaz de conferir a quem dele participa.
Doppelgänger aprofunda essa análise para mostrar as bases reais em que a falsidade se assenta; poderíamos dizer tratar-se, justamente, de um livro sobre a realidade da falsidade. Na mais superficial e menos dissonante de diferentes camadas superpostas de cinismo, temos o mundo dos empreendedores políticos que são hoje a célula organizacional fundamental da extrema direita na maior parte dos lugares onde ela está em ascensão[2]. A chave para compreendê-lo é o entrelaçamento entre política e negócios numa era em que, para cada vez mais pessoas, o principal negócio é elas mesmas. Neste cenário tornado possível pelas plataformas digitais, o cultivo de um capital midiático (alcance e poder de influência) é a condição para a construção de um capital político que é, ao longo de todo o caminho, constantemente convertido em capital econômico mediante a monetização de canais e perfis, a venda de produtos e serviços como palestras, ou mesmo a conquista de posições governamentais ou uma carreira na política eleitoral.
A seletividade e a recursividade dos algoritmos dessas plataformas, que favorecem conteúdos com cargas emocionais extremas, o que intensifica o engajamento, e oferecem sempre mais do mesmo tipo de conteúdo com que um indivíduo já se relacionou no passado, geram uma estrutura de incentivos em que influencia dores em busca de um público fiel são instados a simultaneamente repetir e aumentar a dose daquilo a que sua audiência responde positivamente – o que leva, por sua vez, às espirais de radicalização pelas quais progressivamente se constituem os universos informacionais paralelos do Mundo-Espelho. Esses processos nunca são simplesmente unidirecionais e de cima para baixo, mas antes movimentos circulares de retroalimentação pelos quais os influenciadores respondem a seu público respondendo a eles. Sem embargo, a tomada de posições cada vez mais radicais, apresentada como marca da coragem de nadar contra a corrente, é inseparável da constituição de nichos que podem ser explorados tanto econômica quanto politicamente, o que faz com que, muito mais que os líderes políticos “normais” – isto é, aqueles da política tal como ela se fazia nos séculos XIX e XX –, interesses pessoais e objetivos políticos encontrem-se, para os empreendedores políticos, inextricavelmente enredados. Conforme escreve Klein a respeito do grande estrategista da extrema direita global, Steve Bannon “tampouco oferece a seus ouvintes alguma alternativa concreta à predação corporativa que critica – ele apenas se dedica a depená-los de maneiras mais insignificantes, dizendo-lhes para comprar metais preciosos e moedas FJB e ‘kits de refeições prontas de emergência para desastres’, bem como toalhas de seu principal patrocinador, a fábrica de travesseiros MyPillow”.
Seria possível parar por aí e deixar tais fenômenos na conta da ganância e do mau-caratismo das plataformas e dos “pilantras da economia da atenção”. Mas Klein identifica como condição mais profunda desse tipo de comportamento numa transformação ocorrida com o advento da Web 2.0 a consolidação e disseminação de algo que poderíamos chamar de “subjetivação de marca”. A jornalista canadense é uma testemunha privilegiada dessa mudança, dado que seu primeiro livro, Sem logo[3], captura o momento imediatamente anterior, de ascensão de lifestyle brands como Nike, Apple e Tommy Hilfiger, que buscavam ao mesmo tempo apropriar-se comercialmente das atitudes e valores de diferentes grupos sociais e estabelecer relações profundas de identificação entre consumidor e marca.
Sem logo apareceu em 1999, cinco anos antes da publicação póstuma de O nascimento da biopolítica, curso proferido por Michel Foucault no final dos anos 1970 no Collège de France, em que o filósofo francês analisava a então nascente governamentalidade neoliberal. [4] Nessas aulas, que permaneceriam inéditas ao longo das duas décadas e meia que as tornariam mais urgentes e oportunas, Foucault discutia o neoliberalismo como uma generalização da racionalidade econômica para pensar todas as relações humanas, da empresa como modelo para instituições e pessoas, e da noção de capital humano como constituindo cada indivíduo como um “empreendedor de si mesmo”. Indiretamente confirmando essa análise pioneira, Klein cita um artigo simultaneamente visionário e prematuro de 1997 em que o guru da administração de empresas Tom Peters advogava a ideia de que toda a gente deveria efetivamente considerar-se como marca, tal qual Reebok, Starbucks e Microsoft. O problema, naturalmente, é que a imensa maioria da população não apenas não era conhecida para além de seu círculo imediato de relações, como não tinha como arcar com os custos de marketing. Ambas as coisas mudariam apenas dez anos depois com o apareci mento de MySpace, Facebook, Twitter e Instagram.[5]
As redes sociais concluíram o trabalho de adestramento na lógica do empreendedor de si que o avanço das reformas neoliberais desde os anos 1970 havia iniciado. Em consonância com o tema dos duplos que atravessa o livro, Klein se refere a esse processo de converter-se em marca como uma duplicação através da qual os indivíduos constituem sua presença digital como um outro idealizado, separado do seu eu, conscientemente criado e gerido para representar uma certa imagem para um público aberto e potencialmente ilimitado, mediado pela tecnologia. Essa “forma universal de criação de doppelgängers”, uma prática na qual a grande maioria de nós se encontra engajada de maneira diária, institui uma espécie de dissociação sistemática como segunda natureza, normalizando as condições necessárias para a falsidade que encontramos entre os empreendedores políticos e seus seguidores.
Um dos efeitos que os algoritmos produzem por recursão é a sedimentação progressiva da divisão entre grupos internos, marcados pelo vínculo identificatório e os sentimentos positivos entre seus membros, e grupos externos aos quais se podem atribuir as mais variadas associações negativas. A separação (partitioning) e a representação (performing) que compõem nosso trabalho diário de duplicação digital encontram-se, assim, complementadas por um terceiro elemento, a projeção. Não é apenas que os grupos externos e os indivíduos que a eles pertencem passam a funcionar como tela de projeção para tudo aquilo que percebemos como abjeto, reprovável, o contrário de nossas identidades de grupo e o mais in desejável (e inconfessável) para nossas marcas digitais singulares. Também o policiamento das fronteiras entre grupos e a vigilância ininterrupta sobre a performance pública de cada indivíduo, bem como o controle e a eventual punição de qualquer ação que seja interpretada como desviando dos marcadores de pertencimento coletivos, se tornam presenças constantes na vida dos duplos digitais. A gestão de uma marca pessoal em meio aos humores instáveis do ritmo 24 por 7 das plataformas digitais é, assim, uma atividade fundamentalmente incerta. Conforme escreve Klein, “um sósia digital pode proporcionar tudo o que a nossa cultura nos ensina a desejar: fama, adulação, riqueza. Mas é um tipo precário de realização de desejo, e para destruí-lo basta uma única opinião equivocada ou uma postagem ruim”. A sombra da morte social virtual – inadequadamente chamada por nomes como “linchamento” e “cancelamento” – está sempre rondando, e é ela, e o “renascimento” que vem em seguida, que frequentemente está na origem da passagem de figuras como Naomi Wolf deste para o outro lado do espelho.
Embora Klein não os articule enquanto tais de maneira explícita, podemos encontrar nesses mecanismos a origem de outros fenômenos que o livro aborda, e que têm sido objeto de debates constantes nos últimos anos. Na dinâmica algorítmica de formação de grupos internos e externos, por exemplo, encontramos o grande fator acelerador das polarizações que parecem cada vez mais caracterizar o mundo em que vivemos. Estas, que podemos interpretar à luz do conceito de cismogênese proposto pelo antropólogo britânico Gregory Bateson – processos nos quais um grupo responde à ação de outro com uma ação de igual intensidade em direção oposta ou complementar –[6], são uma preocupação recorrente em Döppelganger. O livro destaca, entre outras coisas, que o fato de praticamente qualquer questão hoje em dia reunir “dois campos políticos em conflito, cada qual se definindo por oposição a tudo o que o outro diz e faz”, não só cria diferenças de realidade (e não apenas de interpretação), como muitas vezes impede quem está de um lado de reconhecer qualquer legitimidade ou mérito naquilo que é dito do outro. Duas consequências que decorrem daí são a patologização instintiva do outro, que barra qualquer possibilidade de diálogo mesmo quando ele ainda é possível, e nos impede de acolher os medos e anseios reais que amiúde se escondem em discursos que nos parecem fantasiosos; e, por extensão, a tendência da esquerda a assumir uma defesa acrítica da ordem existente, deixando uma série de temas que deveria tomar para si – tais como o poder das plataformas e da indústria farmacêutica – à mercê de sua rearticulação no interior do Mundo–Espelho da extrema direita. Escreve Klein: “Depois de meses ou vindo [Steve] Bannon, posso afirmar com a mais absoluta certeza: embora quase todos nós que nos opomos ao projeto político dele optemos por nem sequer vê-lo, ele nos observa de perto. As questões que abandonamos, os debates que não travamos, as pessoas que insultamos e descartamos”.
Outro fenômeno que pode ser iluminado pela análise dessas dinâmicas é aquele que poderíamos designar como identitarismo, ficando entendido que estamos tratando aqui de um processo bem mais amplo que aquilo que normalmente se pretende designar com esse nome (que costuma ser usado como guarda-chuva pejorativo para falar das lutas de negros, mulheres, indígenas, pessoas LGBTQI+ etc.). Em sentido geral, o que tenho em mente ao usar essa palavra é simplesmente o apego excessivo a uma identidade e ao conjunto de marcadores que lhe são próprios, bem como a experiência de precisar performar todo o tempo “quem realmente se é”. (De novo, aqui, o jogo complexo de autenticidade e artifício que encontramos no conceito de “falsidade”.) Mais especificamente, no entanto, refiro-me à situação que se produz a partir do momento em que a visibilidade muito maior da marca digital sobre a pessoal “real” – do ponto de vista do alcance, da constância e da arquivabilidade – faz com que a performance regular de um conjunto de comportamentos que marcam a pertença a um grupo, diante de um público direta ou indiretamente mediado digitalmente, torne-se um árbitro do valor individual mais importante que qualquer ação ou atitude offline.[7] Klein oferece um bom exemplo disso na história de uma estudante que, embora estivesse efetivamente envolvida nos protestos do movimento Black Lives Matter, foi aconselhada a postar nas redes sociais a respeito disso para não ser percebida como racista. “Ela se conectou novamente e fez postagens, mas com relutância; “sabia que havia algo errado com uma cultura que valorizava as performances públicas de um eu virtuoso em detrimento de uma postura de solidariedade e da construção de relacionamentos mais tangíveis”.
Esse fenômeno encontra-se, por sua vez, na base de dois outros. Por um lado, aquilo que poderíamos chamar de “radicalização identitária”, que é quando a performance do compromisso político se exacerba sem que isso necessariamente corresponda a uma radicalização nem do ponto de vista da prática global nem do programa. Por outro lado, a virulência com que a projeção, normalmente voltada contra os membros de grupos externos, pode facilmente voltar-se contra membros do grupo interno, que experimentarão assim a morte social de verem-se banidos. Se os gestores de marcas pessoais precisam todo o tempo “projetar nos outros a sua parte indesejada e perigosa”, isso a cada tanto precisa ser feito contra seus próprios pares, caso a performance destes seja percebida como inadequada pelo grupo; e feito com força redobrada para que não haja riscos de contaminação pela falha do outro, para que não haja dúvidas sobre o lado em que se está.
Neste último ponto encontramos, aliás, mais uma afinidade eletiva entre a lógica das plataformas digitais e o apelo da extrema direita. Se, como observou Adorno, o preconceito contra minorias pode ser entendido como resposta a um mundo em que “a organização econômica se demonstra incapaz de reproduzir a população” em números cada vez maiores, a fúria com que grupos de internet podem se voltar contra os seus ou os outros é legível nos mesmos termos. Isto é, como mecanismo de defesa pelo qual alguns indivíduos são feitos de válvula de escape para uma ameaça a que todos estão constantemente expostos, bem como uma oportunidade para cada indivíduo definir com clareza o próprio lugar em relação a uma fronteira sempre em vias de ser retraçada. O temor ambiente de ser relegado ao rol das populações excedentes – pelo movimento da economia, por riscos existenciais como pandemias e eventos climáticos extremos, pelo consequente deslocamento da divisa bio/necropolítica entre vida protegida e vida sacrificável – encontra, assim, seu duplo digital no receio da morte social virtual, do “cancelamento” e da exclusão do endogrupo. Em ambos os casos, a angústia se converte facilmente em violência preventiva: reprimir o “medo de tornar-se supérfluo” exige “provar para si mesmo e para os outros que é o outro que pode ser descartado”[8]. Por isso mesmo, ambos são terrenos favoráveis ao recrutamento pela extrema direita.
A falsidade tem, como vimos, bases subjetivas muito reais na duplicação que a maioria de nós incorporou à vida diária por conta das redes sociais. Mas ela possui bases objetivas igualmente fortes no mundo ao nosso redor. Consolidada em instituições e discursos hegemônicos desde o fim dos anos 1970, a redução neoliberal das relações humanas ao cálculo econômico e à competição teve como resultado a naturalização progressiva de um darwinismo social que torna o insucesso uma responsabilidade exclusivamente individual e nos dessensibiliza para seus efeitos. Numa passagem reveladora, Klein observa que aquilo que aproxima a extrema direita do “conspiritualismo”[9] New Age talvez não seja somente o empreendedorismo freestyle e a fé no hiperindividualismo, mas também um consenso crescente sobre “quais vidas são mais importantes e quais mortes podem ser consideradas como a ‘natureza’ fazendo seu trabalho”. Do mesmo modo, a autora condena a ingenuidade de uma certa esquerda que acreditou que o choque da covid-19 bastaria para fazer com que as pessoas abrissem os olhos para a interdependência e a necessidade de (re)constituir uma malha de proteção social, como se as condições materiais que impediam as pessoas de praticar o isolamento social e “o legado de gerações de mensagens que colocaram membros da sociedade uns contra os outros” pudessem desaparecer de repente.
É aqui que o argumento de Klein intersecta um artigo que escrevi durante a pandemia e tive o prazer de ver citado em Doppelgänger.[10] Em comum, os dois textos têm a metáfora dos espelhos de parque de diversões, que refletem de maneira distorcida; e a ideia, à qual a jornalista canadense retorna várias vezes ao longo de seu livro, de que é preciso saber ouvir o que há de verdadeiro nas histórias mirabolantes que a extrema direita conta: as crises, os riscos, temores e anseios que são cada vez mais tangíveis para cada vez mais pessoas, e cuja ressonância no discurso extremista confere a este um poder de conexão emocional e convencimento. Em outras palavras, trata-se de dizer que a fuga da realidade que figuras como Naomi Wolf propõem nunca é simples fantasia, mas antes uma maneira de simultaneamente reconhecer algo que há de errado no mundo (e as angústias que isso gera) e deslocar sua compreensão na direção de causas – e, portanto, também de soluções – ilusórias.
A explicação que proponho para esse fenômeno é algo que chamo de negacionismo, o que não se refere unicamente às narrativas falseadas pelos empreendedores políticos, tampouco a um “estado reflexivo de contínua descrença” (como Klein o interpreta), mas antes a um complexo formado, por um lado, pela oferta de discursos fantasiosos e, por outro, pela demanda psicológica a que eles atendem: justamente, a de acolher medos e angústias amplamente compartilhados ao mesmo tempo que se escamoteia a gravidade da situação que os produz. Mas Doppelgänger oferece uma hipótese complementar através daquele que talvez seja um de seus conceitos mais produtivos: o que nomeia as “Terras das Sombras” que frequentemente oferecem um ponto de partida real às construções imaginárias do Mundo-Espelho.
Esses territórios, “a história secreta densa e destroçada de nossa economia global supostamente isenta de atritos”, são a fonte do sentimento em que se apoiam tantas teorias da conspiração: de que vivemos em um mundo em que há Terras das Sombras onde vicejam a predação e a extração, em que todo sofrimento humano é o lucro de alguém, em que verdades importantes são escondidas. O problema, aponta Klein, é que “Todos nós sabemos que nosso mundo fica no topo das Terras das Sombras. Mas o que fazemos com esse conhecimento? […] Para onde são desviadas a indignação, a vergonha e a tristeza?”. A resposta, ela sugere, é que talvez esteja aí o primeiro e mais constante fundamento da “falsidade” de que se alimenta a extrema direita: é para não admitir que vivemos num mundo em que nós também indiretamente dependemos da exploração, do sofrimento e da degradação – de humanos e não humanos – que precisamos nos duplicar, separar, representar e projetar. O fim da renegação e da falsidade só poderia, então, vir de uma coisa: a criação de “um mundo que não requeira Terras das Sombras, que não se baseie em pessoas sacrificiais, em ecologias sacrificiais e em continentes sacrificiais”. A conclusão se impõe: realmente com bater o avanço da extrema direita exige, hoje, nada menos que isso.
Rodrigo Guimarães Nunes é professor de Teoria Política na University of Essex (Reino Unido) e na Puc-Rio, foi professor visitante no Goldsmiths College, University of London, University of Westminster, Jan van Eyck Academie e Escola de Artes Visuais do Parque Lage, também é autor, entre outros, de Do transe à vertigem: Ensaios sobre bolsonarismo e um mundo em transição (Ubu, 2022, vencedor do Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte) e Nem vertical nem horizontal: Uma teoria da organização política (Ubu, 2023), além de textos em diversas publicações nacionais e internacionais.
[1] Theodor Adorno. “Teoria freudiana e o padrão da propaganda nazista”. In: En saios sobre psicologia social e psicanálise. Trad. de Verlaine Freitas. São Paulo: Ed. Unesp, 2015, p. 183.
[2] Permito-me aqui referir o leitor a Rodrigo Nunes, Do transe à vertigem: Ensaios so bre bolsonarismo e um mundo em transição (São Paulo: Ubu, 2022), cap. 2; id., “The Pastor, the Swarm, and the Movement”, The Immanent Frame, 26 out. 2022.
[3] Naomi Klein. Sem logo: A tirania das marcas em um planeta vendido. 6. ed. Trad. de Ryta Vinagre. Rio de Janeiro: Record, 2008
[4] Michel Foucault. Nascimento da biopolítica: Curso dado no Collège de France (1978–1979). Trad. de Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
[5] No meio do caminho, como uma dobradiça entre os dois momentos, ainda houve o boom da reality Tv, que consolidou o fenômeno dos “famosos por serem famosos”.
[6] Ver Gregory Bateson, Naven: Um esboço dos problemas sugeridos por um retrato compósito, realizado a partir de três perspectivas, da cultura de uma tribo da Nova Guiné. 2. ed. Trad. de Magda Lopes. São Paulo: Edusp, 2006, pp. 219-227.
[7] Sobre este ponto, remeto o leitor a Rodrigo Nunes, Do transe à vertigem, op. cit., cap 5
[8] Theodor Adorno. “Remarks on the Authoritarian Personality”. In: Id. et al. The Authoritarian Personality. Londres: Verso, 2019, pp. lii-liii.
[9] Ver Charlotte Ward e David Voas, “The Emergence of Conspirituality”. Journal of Contemporary Religion, 2011, vol. 26, n. 1, pp. 103-121.
[10] A versão citada por Klein é a original, em inglês: Rodrigo Nunes, “Are We in Denial about Denial?”. Public Books, 25 nov. 2020. O texto seria publicado em português pela primeira vez, em versão ligeiramente modificada, como: “O pre sente de uma ilusão”, Piauí, mar. 2021, n. 174. A versão definitiva apareceria fi nalmente em: Do transe à vertigem, cap. 2.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.