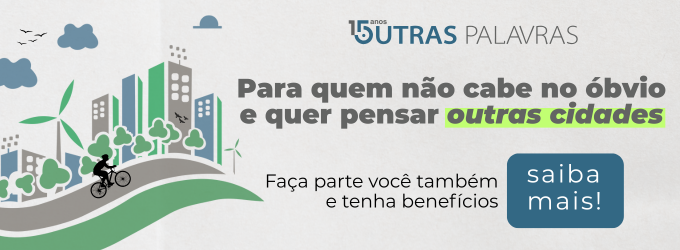Löwy: Francisco contra a idolatria do capital
Bergoglio não foi, é claro, um papa marxista. Mas a encíclica Laudato si’ é uma contribuição preciosa e inestimável diante da catástrofe socioambiental. Papa foi lúcido, ao questionar elites e a “ecologia de mercado”. Cabe à esquerda completar seus diagnósticos com propostas radicais
Publicado 23/04/2025 às 19:34

Por Michael Löwy, em A Terra é Redonda
A morte de Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, marca o fim de uma figura pouco comum, que se destacou, numa Itália governada por neofascistas e numa Europa cada vez mais reacionária, por um engajamento ético, social e ecológico surpreendente.
Depois que Pio XII excomungou os comunistas, a esquerda só podia esperar anátemas do Vaticano. João Paulo II e Joseph Ratzinger não perseguiram os teólogos da libertação por utilizarem conceitos marxistas? Não tentaram impor um “silêncio obsequioso” a Leonardo Boff? É claro que, desde o século XIX, sempre existiram correntes de esquerda no catolicismo, mas elas encontraram somente hostilidade por parte das autoridades romanas.
Por outro lado, as correntes clericais críticas do capitalismo eram geralmente bastante reacionárias. Criticando o socialismo feudal ou clerical no Manifesto comunista, Marx e Engels notaram “sua absoluta incapacidade de compreender o curso da história”; mas reconheceram nesta mistura “de ecos do passado e ameaças ao futuro” uma “crítica mordaz e espirituosa” que podia por vezes “atingir a burguesia bem no coração”.
Max Weber propôs uma análise mais geral da relação entre a Igreja e o capital: em sua obra sobre a sociologia das religiões, ele constata a “profunda aversão” (tiefe Abneigung) da ética católica ao espírito do capitalismo, apesar das adaptações e compromissos. Esta é uma hipótese que deve ser levada em consideração se quisermos compreender o que aconteceu em Roma com a eleição do papa argentino.
Jorge Bergoglio, o Papa Francisco
O que poderíamos esperar do cardeal Jorge Bergoglio, eleito Pontifex Maximum em março de 2013? Claro, ele era latino-americano, o que não deixava de ser um sinal de mudança. Mas ele tinha sido eleito pelo mesmo conclave que tinha entronizado o conservador Joseph Ratzinger, e vinha da Argentina, um país onde a Igreja não é conhecida por seu progressismo, com vários de seus dignitários tendo colaborado ativamente com a sangrenta ditadura militar.
Não foi esse o caso de Jorge Bergoglio: segundo alguns relatos, chegou até mesmo a ajudar pessoas perseguidas pela junta a esconderem-se ou a abandonarem o país. Mas também não se opôs ao regime: um “pecado de omissão”, poderíamos dizer. Enquanto alguns cristãos de esquerda, como Adolfo Pérez Esquivel (Prêmio Nobel da Paz), sempre o apoiaram, outros viam-no como um opositor de direita ao governo dos “peronistas de esquerda” Néstor e Cristina Kirchner.
Seja como for, uma vez eleito, Francisco – nome que escolheu em referência a São Francisco, o amigo dos pobres e dos pássaros – distinguiu-se imediatamente por sua atitude corajosa e engajada. De certa forma, ele lembra o Papa Roncalli, João XXIII: eleito “papa de transição” para garantir a continuidade e a tradição, iniciou a mais profunda mudança na Igreja depois de séculos: o Concílio Vaticano II (1962-65). Bergoglio tinha inicialmente pensado em adotar o nome de “João XXIV” para homenagear seu antecessor da década de 1960.
A primeira viagem do novo pontífice fora de Roma ocorreu em julho de 2013, no porto italiano de Lampedusa, onde centenas de migrantes ilegais chegavam, enquanto muitos outros se afogavam no Mediterrâneo. Em sua homilia, não hesitou em se opor ao governo italiano – e a uma grande parte da opinião pública –, denunciando a “globalização da indiferença” que nos torna “insensíveis aos gritos dos outros”, ou seja, à sorte dos “imigrantes que morreram no mar, naquelas embarcações que, em vez de serem um caminho de esperança, eram um caminho de morte”. Voltaria várias vezes a esta crítica à desumanidade da política europeia em relação aos migrantes.
No que diz respeito à América Latina, também houve uma mudança notável. Em setembro de 2013, o Papa Francisco encontrou-se com Gustavo Gutiérrez, fundador da teologia da libertação, e o jornal do Vaticano Osservatore Romano publicou, pela primeira vez, um artigo favorável a este pensador. Outro gesto simbólico foi a beatificação, e depois a canonização, do arcebispo Romero de El Salvador, assassinado em 1980 pelos militares por ter denunciado a repressão antipopular, um herói celebrado pela esquerda católica latino-americana, mas ignorado pelos pontífices anteriores.
Durante sua visita à Bolívia, em julho de 2015, Jorge Bergoglio prestou uma homenagem intensa e vibrante à memória de seu companheiro jesuíta Luis Espinal Camps, um padre missionário, poeta e cineasta espanhol assassinado durante a ditadura de Luis García Meza, em 21 de março de 1980, por seu engajamento nas lutas sociais. Quando se encontrou com Evo Morales, o presidente socialista boliviano ofereceu-lhe uma escultura feita pelo mártir jesuíta: uma cruz de madeira apoiada numa foice e num martelo…
Durante sua visita à Bolívia, o Papa Francisco participou de um encontro mundial de movimentos sociais na cidade de Santa Cruz. Seu discurso na ocasião ilustra a “profunda aversão” ao capitalismo de que falava Max Weber, mas num nível que nenhum de seus antecessores conseguiu atingir. Uma passagem agora famosa de seu discurso: “Nós castigamos a terra, os povos e os indivíduos de uma forma quase selvagem. E, por trás de tanta dor, tanta morte e destruição, há o cheiro daquilo a que Basílio de Cesareia chamou ‘o esterco do diabo’: a ambição desenfreada do dinheiro que governa. O serviço do bem comum passa para segundo plano. Quando o capital se erige em ídolo e domina todas as opções humanas, quando a avidez do dinheiro orienta todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade entre os homens, coloca os povos uns contra os outros e, como vemos, põe em perigo até a nossa casa comum”.
Não é de surpreender que a abordagem do Papa Francisco tenha encontrado uma resistência considerável nos setores mais conservadores da Igreja. Um dos opositores mais ativos é o cardeal americano Raymond Burke, um fervoroso apoiador de Donald Trump, que também entrou em contato com Matteo Salvini, o líder da Liga do Norte, durante uma viagem à Itália… Alguns destes opositores acusavam o novo pontífice de ser um herege, ou até mesmo um… marxista disfarçado.
Quando Rush Linebaugh, um jornalista católico reacionário (americano), lhe chamou “papa marxista”, o Papa Francisco respondeu refutando educadamente o adjetivo, acrescentando que não se sentia ofendido porque “conhecia muitos marxistas que eram boas pessoas”. De fato, em 2014, o Papa recebeu em audiência dois destacados representantes da esquerda europeia: Alexis Tsipras, então líder da oposição ao governo de direita em Atenas, e Walter Baier, coordenador da rede Transform, formada por fundações culturais ligadas ao Partido da Esquerda Europeia (como a Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha).
Nessa ocasião, ele decidiu iniciar um processo de diálogo entre marxistas e cristãos, que levou a vários encontros, incluindo uma universidade de verão conjunta em 2018 na ilha de Syros, na Grécia. Em 2014, o Papa recebeu uma delegação dos participantes (cristãos e marxistas) neste diálogo (incluindo o autor desta nota).
É verdade que quando se trata do direito das mulheres a dispor do próprio corpo e da moral sexual em geral – contracepção, aborto, divórcio, homossexualidade – Francisco mantém-se fiel às posições conservadoras da doutrina da Igreja. Mas há alguns sinais de abertura, dos quais o violento conflito de 2017 com a direção da Ordem de Malta, uma instituição rica e aristocrática da Igreja Católica, é um sintoma marcante.
O Grão-Mestre ultraconservador da Ordem, o Príncipe (?!) Matthew Festing, exigiu a demissão do Chanceler da Ordem, o Barão de Boeselager, pelo terrível pecado de distribuir preservativos a pessoas pobres ameaçadas pela epidemia de AIDS na África. O Chanceler recorreu ao Vaticano, que decidiu a seu favor contra Festing; este último, apoiado pelo Cardeal Burke, recusou-se a obedecer e foi demitido de suas funções pelo Vaticano. Isto ainda não é a adoção da contracepção pela doutrina moral da Igreja, mas é uma mudança…
É claro que o Papa Francisco não tem nada de marxista, e sua teologia está muito longe da forma marxista da teologia da libertação. Sua formação intelectual, espiritual e política deve muito à teologia do povo, uma variante argentina não marxista da teologia da libertação, cujos principais inspiradores são Lucio Gera e o teólogo jesuíta Juan Carlos Scannone. A teologia do povo não pretende basear-se na luta de classes, mas reconhece o conflito entre o povo e o “antipovo” e apoia a opção preferencial pelos pobres. Está menos preocupada com questões socioeconômicas do que outras formas de teologia da libertação e presta mais atenção à cultura, em particular à religião popular.
Num artigo de 2014, “O Papa Francisco e a Teologia do Povo”, Juan Carlos Scannone destaca, com razão, o quanto as primeiras encíclicas do Papa, como a Evangelium Gaudí (2014), criticada por seus críticos de esquerda como “populista” (no sentido argentino, peronista, não europeu, do termo), devem a esta teologia popular. Parece-me, no entanto, que Jorge Bergoglio, em sua crítica ao “ídolo do capital” e a todo o atual “sistema socioeconômico”, vai mais longe do que seus inspiradores argentinos. Sobretudo em sua última encíclica, Laudato si’ (2015), que merece uma reflexão marxista.
Laudato si’
A “encíclica ecológica” do Papa Francisco é um acontecimento de importância global, do ponto de vista religioso, ético, social e político. Dada a enorme influência da Igreja Católica, foi uma contribuição crucial para o desenvolvimento de uma consciência ecológica crítica. Embora tenha sido acolhida com entusiasmo pelos verdadeiros ambientalistas, suscitou inquietação e rejeição dos conservadores religiosos, dos representantes do capital e dos ideólogos da “ecologia de mercado”.
Trata-se de um documento de grande riqueza e complexidade, que propõe uma nova interpretação da tradição judaico-cristã – rompendo com o “sonho prometeico de dominação do mundo” – e uma reflexão crítica sobre as causas da crise ecológica. Em certos aspectos, como a ligação indissociável entre o “grito da terra” e o “grito dos pobres”, é evidente que a teologia da libertação – em particular a do ecoteólogo Leonardo Boff – foi uma de suas fontes de inspiração.
Nas breves notas a seguir, gostaria de destacar um aspecto da encíclica que explica a resistência que encontrou nos meios econômicos e midiáticos: seu caráter antissistêmico.
Para o Papa Francisco, as catástrofes ecológicas e as mudanças climáticas não resultam apenas de comportamentos individuais – mesmo que estes tenham um papel importante –, mas dos “atuais modelos de produção e consumo”. Bergoglio não é marxista e a palavra “capitalismo” não aparece na encíclica… Mas é muito claro que, para ele, os dramáticos problemas ecológicos de nosso tempo são o resultado das engrenagens da atual economia globalizada – engrenagens constituídas por um sistema global, “um sistema estruturalmente perverso de relações comerciais e de propriedade” (seção 52 do documento).
Quais são, para o Papa Francisco, estas caraterísticas “estruturalmente perversas”? Em primeiro lugar, um sistema em que predominam “os interesses limitados das empresas” e “uma racionalidade econômica questionável”, uma racionalidade instrumental cujo único objetivo é a maximização dos lucros. Assim, “o princípio da maximização do lucro, que tende a isolar-se de todas as outras considerações, é uma distorção conceitual da economia: se a produção aumenta, não importa se produzimos em detrimento dos recursos futuros ou do bem-estar do meio ambiente” (195).
Esta distorção, esta perversidade ética e social, não corresponde mais a um país do que a outro, mas a um “sistema global, em que predomina a especulação e a busca por rendimentos financeiros, tendendo a ignorar qualquer contexto e qualquer efeito sobre a dignidade humana e o meio ambiente”. “Parece, pois, que a degradação ambiental e a degradação humana e ética estão intimamente ligadas” (56).
A obsessão pelo crescimento ilimitado, o consumismo, a tecnocracia, a dominação absoluta das finanças e o endeusamento do mercado são caraterísticas perversas do sistema. Numa lógica destrutiva, tudo se reduz ao mercado e ao “cálculo financeiro de custos e benefícios”. No entanto, é preciso compreender que “o ambiente é um daqueles bens que os mecanismos de mercado são incapazes de defender ou promover adequadamente” (190). O mercado é incapaz de levar em consideração valores qualitativos, éticos, sociais, humanos ou naturais, ou seja, “valores que ultrapassam qualquer cálculo” (36).
O poder “absoluto” do capital financeiro especulativo é um aspecto essencial do sistema, como o demonstrou a então recente crise bancária. O comentário da encíclica é desmistificador: “Salvar os bancos a todo o custo, fazendo com que os cidadãos paguem o preço, sem uma decisão firme de rever e reformar todo o sistema, reafirma uma dominação absoluta das finanças, que não têm futuro e podem apenas gerar novas crises depois de uma longa e custosa recuperação aparente. A crise financeira de 2007-2008 foi uma oportunidade para desenvolver uma nova economia, mais atenta aos princípios éticos e favorável a uma nova regulação da atividade financeira especulativa e da riqueza fictícia. Mas não houve qualquer reação que conduzisse a um questionamento dos critérios obsoletos que continuam governando o mundo” (189).
Esta dinâmica perversa do sistema mundial que “continua regendo o mundo” é a razão do fracasso das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente: “são inúmeros os interesses pessoais e é muito fácil para os interesses econômicos prevalecerem sobre o bem comum e manipularem a informação para evitar que seus projetos sejam afetados”.
Enquanto prevalecerem os imperativos dos poderosos grupos econômicos, “podemos esperar apenas algumas declarações superficiais, ações filantrópicas isoladas e até mesmo alguns esforços para mostrar certa sensibilidade em relação ao meio ambiente, quando, na verdade, qualquer tentativa das organizações sociais de mudar as coisas será considerada um incômodo causado pelos utópicos românticos ou como um obstáculo a contornar” (54).
Neste contexto, a encíclica denuncia a irresponsabilidade dos “responsáveis”, ou seja, das elites dominantes, das oligarquias interessadas em preservar o sistema, diante da crise ecológica: “Muitos dos que detêm a maior parte dos recursos e do poder econômico ou político parecem principalmente fazer tudo o que está a seu alcance para ocultar os problemas ou dissimular os sintomas, tentando apenas reduzir certos impactos negativos das mudanças climáticas. Mas muitos sintomas indicam que estes efeitos continuarão agravando-se caso mantenhamos nossos atuais padrões de produção e consumo” (26).
Diante da dramática destruição do equilíbrio ecológico do planeta e da ameaça sem precedentes representada pelas mudanças climáticas, o que propõem os governos ou os representantes internacionais do sistema (Banco Mundial, FMI, etc.)? A resposta deles é o chamado “desenvolvimento sustentável”, um conceito cujo conteúdo é cada vez mais vazio, um verdadeiro flatus vocis, como diziam os escolásticos da Idade Média.
O Papa Francisco não tem qualquer ilusão quanto a esta mistificação tecnocrática: “O discurso do crescimento sustentável tem o hábito de se tornar um meio de distração e de redução da culpa que absorve os valores do discurso ecológico no seio das finanças e da tecnocracia, e a responsabilidade social e ambiental das empresas tem o hábito de reduzir-se a uma série de ações de marketing e de imagem” (194).
As medidas concretas propostas pela oligarquia tecnofinanceira dominante são totalmente ineficazes, como o “mercado de carbono”. A crítica do Papa a esta falsa solução é um dos argumentos mais importantes da encíclica. Referindo-se a uma resolução da Conferência Episcopal Boliviana, Jorge Bergoglio escreveu: “A estratégia de compra e venda de ‘créditos de carbono’ pode dar origem a uma nova forma de especulação e prejudicar o processo de redução das emissões globais de gases poluentes. Este sistema parece ser uma solução rápida e fácil, que dá a aparência de um certo compromisso com o meio ambiente, mas que, em todo o caso, não constituiria uma mudança radical à altura das circunstâncias. Pior ainda, poderia tornar-se um remédio que favorece o consumo excessivo em certos países e setores” (171).
Passagens como esta explicam a falta de entusiasmo dos círculos “oficiais” e dos adeptos da “ecologia de mercado” (ou do “capitalismo verde”) pela Laudato si’…
Ao associar a questão ecológica à questão social, o Papa Francisco insiste na necessidade de medidas drásticas, isto é, de mudanças profundas para responder a este duplo desafio. O principal obstáculo é a natureza “perversa” do sistema: “a mesma lógica que nos impede de tomar decisões drásticas para inverter a tendência ao aquecimento global é a que nos impede de alcançar o objetivo de erradicar a pobreza” (175).
Embora o diagnóstico da crise ecológica da Laudato si’ seja de uma clareza e de uma coerência impressionantes, as ações que ela propõe são mais limitadas. É certo que muitas de suas sugestões são úteis e necessárias, como por exemplo: “propor formas de cooperação ou de organização comunitária que defendam os interesses dos pequenos produtores e protejam os ecossistemas locais da predação” (180).
Também é muito significativo que a encíclica reconheça a necessidade, para as sociedades mais desenvolvidas, de “conterem-se um pouco, estabelecerem certos limites razoáveis e até mesmo de voltarem atrás antes que seja tarde demais”, ou seja, “chegou o momento de aceitar um certo decrescimento em algumas partes do mundo, pondo em prática remédios para que outras possam crescer saudavelmente” (193).
Mas são precisamente estas “medidas drásticas” que fazem falta, como as propostas por Naomi Klein em seu livro This changes everything: romper com os combustíveis fósseis (carvão, petróleo) antes que seja tarde demais, deixando-os no subsolo. Não podemos mudar as estruturas perversas do atual modo de produção e de consumo sem um conjunto de iniciativas antissistêmicas que ponham em causa a propriedade privada, por exemplo, das grandes multinacionais dos combustíveis fósseis (BP, Shell, Total, etc.).
É certo que o Papa menciona a utilidade de “grandes estratégias que interrompam eficazmente a degradação do meio ambiente e inculquem uma cultura de respeito que impregne toda a sociedade”, mas este aspecto estratégico é pouco desenvolvido na encíclica.
Reconhecendo que “o atual sistema mundial é insustentável”, Jorge Bergoglio procura uma alternativa global, à qual ele chama “cultura ecológica”, uma mudança que “não pode limitar-se a uma série de respostas urgentes e parciais aos problemas crescentes da degradação ambiental, do esgotamento dos recursos naturais e da poluição. Ela deve implicar uma perspectiva diferente, um modo de pensar, uma política, um programa educativo, um estilo de vida e uma espiritualidade que aceitem a resistência ao avanço do paradigma tecnocrático” (111).
Mas são poucos os indícios de uma nova economia e de uma nova sociedade que correspondam a esta cultura ecológica. Não se trata de pedir ao Papa que adote o ecossocialismo, mas a alternativa para o futuro permanece um pouco abstrata.
O Papa Francisco adotou a “opção preferencial pelos pobres” das Igrejas latino-americanas. A encíclica define isso claramente como um imperativo planetário: “Nas condições atuais da sociedade mundial, na qual há tanta desigualdade e na qual as pessoas são cada vez mais marginalizadas e privadas dos mais elementares direitos humanos, o princípio do bem comum transforma-se imediatamente, como consequência lógica e inelutável, num apelo à solidariedade e numa opção prioritária pelos mais pobres”.
Mas na encíclica, os pobres não aparecem como atores de sua própria emancipação, o projeto mais importante da teologia da libertação. As lutas dos pobres, dos camponeses e dos povos indígenas para defender as florestas, a água e a terra contra as multinacionais e o comércio agrícola, assim como o papel dos movimentos sociais, que são precisamente os principais atores na luta contra as mudanças climáticas – Via Campesina, Justiça Climática, Fórum Social Mundial – são uma realidade social que não aparece muito na Laudato si’.
Este será, no entanto, um tema central dos encontros do Papa com os movimentos populares, os primeiros na história da Igreja. No encontro de Santa Cruz (Bolívia, julho de 2015), Francisco declarou: “Vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e os excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da humanidade está em grande parte em vossas mãos, em vossa capacidade de organizar e promover alternativas criativas, na busca diária dos 3 Ts (trabalho, teto, terra) e também na vossa participação como protagonistas nos grandes processos de mudança, nacionais, regionais e mundiais. Não vos subestimem! Vós sois os semeadores da mudança”.
Certamente, como Jorge Bergoglio destaca na encíclica, a tarefa da Igreja não é substituir os partidos políticos, propondo um programa de mudança social. Com seu diagnóstico antissistêmico da crise, que liga inseparavelmente a questão social e a proteção do meio ambiente, “o grito dos pobres” e “o grito da terra”, a Laudato si’ é uma contribuição preciosa e inestimável para a reflexão e a ação para salvar a natureza e a humanidade da catástrofe.
Cabe aos marxistas, comunistas e ecossocialistas completar este diagnóstico com propostas radicais que visem alterar não só o sistema econômico dominante, mas também o modelo perverso de civilização imposto pelo capitalismo em escala global. Propostas que incluam não apenas um programa concreto de transição ecológica, mas também uma visão de uma outra forma de sociedade, para além do reino do dinheiro e das mercadorias, baseada nos valores da liberdade, solidariedade, justiça social e respeito pela natureza.
É difícil prever qual será o futuro da Igreja após a morte do Papa Francisco: quem será eleito no próximo conclave? Seguirá a orientação crítica e humanista de Bergoglio ou regressará à tradição conservadora dos pontífices anteriores? Inúmeros novos cardeais foram nomeados por Francisco, mas qual é a convicção íntima deles?
As próximas semanas decidirão se Jorge Bergoglio foi apenas um parêntesis ou se abriu um novo capítulo na longa história do catolicismo.
Michae Löwy é diretor de pesquisa em sociologia no Centre nationale de la recherche scentifique (CNRS). Autor, entre outros livros, de O que é cristianismo da libertação?: Religião e política na América Latina (Expressão popular).
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras