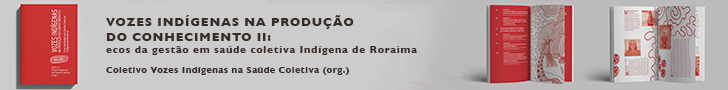Europa cruza os braços para o drama dos refugiados
Com mais de 60 mil resgatados no Mediterrâneo, tripulação do Open Arms sofre represália com a proibição de organizações humanitárias em águas italianas. Conheça a rotina dos socorristas e da luta contra a criminalização dos migrantes
Publicado 04/07/2019 às 17:42

Laura Lanuza, entrevistada por Alejandra Hayon, no Página/12 | Tradução: IHU
A situação dos socorristas que vão ao mar Mediterrâneo em busca de barcos precários sobrecarregados de migrantes, em sua maioria líbios, está mais difícil do que nunca. Após a decisão da Itália de fechar seus portos e proibir a atividade das organizações humanitárias, aqueles que continuam com os resgates se arriscam a enfrentar multas, prisões e longos processos judiciais. Foi o que aconteceu com a capitã do navio Sea Watch, Carola Rackete, detida por “favorecer a imigração ilegal” e navegar em “áreas proibidas”, acusação que recebeu por resgatar 40 migrantes e leva-los ao porto italiano de Lampedusa.
“Saímos para o mar apesar das sanções e das multas e fazemos isso em um contexto absolutamente agressivo e violento. Criminalizam os migrantes e agora também a nós”, afirma Laura Lanuza, uma das integrantes da Open Arms, outra das organizações de ajuda humanitária que resgatam migrantes e uma das poucas que permanecem no mar.
Open Arms nasceu em 2015, após terem sido divulgadas a foto de um menino de três anos afogado nas costas do Mediterrâneo. Essa imagem, que comoveu o mundo, assim como aconteceu com outra de um pai com sua pequena filha mortos em um rio do México, fez com que um salva-vidas espanhol reunisse alguns amigos socorristas e se lançasse ao mar. Nestes quatro anos, a organização cresceu a partir de doações, foi para o mar 63 vezes e resgatou 60.000 pessoas.
No entanto, a política de portos fechados colocou em dúvida seu trabalho. O navio Open Arms estava atracado, há seis meses, em um porto espanhol por obstáculos burocráticos. Na quinta-feira passada, seus tripulantes decidiram voltar ao mar sem se importar com as consequências. “Passamos muito tempo vendo como as pessoas morrem, enquanto ninguém faz nada. Antes que ser cúmplices, preferimos ser punidos”, conta Lanuza, que faz parte da organização desde o início, hoje, já como responsável de comunicação.
A entrevista é de Alejandra Hayon, publicada por Página/12, 03-07-2019. A tradução é do Cepat.
Eis a entrevista.
Qual é a situação agora dos socorristas?
Desde um ano atrás, quando decidiram fechar os portos da Itália e Malta, cada missão é irregular. Antes tínhamos uma rotina de trabalho, as missões eram de 15 dias e quando terminavam voltávamos ao porto para trocar de tripulação. Agora, o contexto é absolutamente agressivo e violento. Os migrantes são criminalizados e nós também.
A Itália acaba de assinar um decreto que proíbe a presença de organizações humanitárias em águas italianas, razão pela qual ir para o mar significa desobedecer, algo que acarretará multas e punições. Levamos muito tempo esperando que o Governo nos permita voltar a sair, muito tempo vendo como as pessoas morrem e ninguém faz nada. Antes que ser cúmplices preferimos ser punidos.
Como é o Open Arms?
É um navio velho de 1974, no qual tivemos que investir. A maior parte da tripulação é composta por voluntários e fazemos tudo com doações. No navio, viajam 19 pessoas no total, entre capitão, marinheiros, cozinheiros, socorristas, enfermeiros, médicos e dois jornalistas. O trabalho é muito difícil, as situações que são vividas no mar são muito dramáticas e nem sempre acabam bem. Já vimos bebês sucumbirem a bordo, por isso também temos apoio psicológico. Este ano, levamos 600 pessoas afogadas e é provável que sejam muito mais, porque não há testemunhas. Em quatro anos, fizemos 65 missões e resgatamos 60.000 pessoas entre o mar Egeu e o Mediterrâneo.
O que acontece assim que vão para o mar?
A situação é muito diversa, as distâncias são muito grandes e os barcos muito lentos. Saímos para as águas internacionais atentos ao radar e aos binóculos para poder ver qualquer embarcação em perigo. O mais normal é localizar a embarcação com os binóculos ou por meio do inmarsat, que é um sistema de comunicação por satélite, onde avisam se veem uma pessoa na água ou uma embarcação sobrecarregada.
Temos duas embarcações rápidas com as quais nos aproximamos e repartimos coletes salva-vidas. Aos poucos, vamos transferindo as pessoas ao Open Arms. No navio, passam por um reconhecimento médico, às vezes, há casos muito graves. Também é preciso estar atento se cheiram gasolina, porque a gasolina misturada com água salgada provoca queimaduras muito graves. Em geral, costumam levar o combustível em garrafas plásticas que derramam e há muitos queimados.
Como é a primeira aproximação e em que estado estão os barcos?
Nós nos aproximamos gritando que somos socorristas, para que fiquem tranquilos, que não iremos levá-los para a Líbia. Muitos, a única coisa que repetem é: “Líbia não, Líbia não”. Há muitíssimas crianças que viajam sozinhas, na última missão havia umas 40. São as mais vulneráveis junto às mulheres porque muitas estão grávidas e não sabem, todas foram estupradas.
As embarcações flutuam por milagre, carregam três vezes mais a quantidade de gente que deveriam e não são adequadas para distâncias longas. Entre a Líbia e qualquer porto seguro, há entre três ou quatro dias de viagem. Às vezes, são botes de borracha com 160 pessoas. Há também os wooden boat, os de madeira, que são os mais perigosos porque possuem dois pisos e pelo nível de lotação se afundam com a fumaça do motor.
Uma vez que subimos as pessoas ao barco, solicitamos formalmente um porto seguro para desembarcar estas pessoas. Por muito tempo foi a Itália, mas desde que Matteo Salvini (ministro italiano do Interior) fechou os portos tudo se complicou.
Uma vez no porto, o que acontece?
Nós protegemos a vida no mar. Nossa missão acaba no momento em que chegamos a um porto seguro. Assim que as pessoas chegam ao porto, ficam nas mãos dos países e muitas outras organizações que trabalham com os migrantes. De fato, a maioria das histórias não tem um final feliz, a solicitação de asilo pode demorar anos e podem ser negadas, então são deportados. Não é que desejamos estar no mar, mas estamos cobrindo um vazio no resgate.
Do que você se lembra de sua primeira missão?
A primeira coisa que você sente quando está no meio do mar é que é muito vulnerável. Olha para onde quer que seja e não há ninguém que possa ajudar. O primeiro impacto ao ver estas pessoas em embarcações mais que precárias, que podem afundar a qualquer momento, impressiona muito. Ver o estado em que estas pessoas chegam ao navio… a sensação de pensar que se não chegássemos a tempo poderiam estar mortas é muito brutal.
Viveram situações violentas?
Na última missão que tive, os guarda-costas líbios dispararam contra nós. A Líbia é um país em guerra, onde três milícias mandam e os direitos humanos são sistematicamente fragilizados. Temos sofrido disparos, sequestros e perseguição. A situação não era favorável, mas sempre contávamos com a coordenação da guarda costeira italiana. Agora, é um espaço sem lei e nos transformaram em um alvo.
Das nove organizações com doze navios que éramos, já não resta nenhuma. Querem retirar todos nós dali para que ninguém possa documentar as mortes e ninguém possa dizer o que está acontecendo. A União Europeia decidiu lavar as mãos e financia um corpo de guarda-costas líbio que intercepta as pessoas que estão fugindo e as devolve ao fogo. Algo que é totalmente ilegítimo. Nós, organizações, incomodamos porque estamos denunciando como a União Europeia está pagando algumas milícias para que capturem as pessoas e as devolvam aos campos de concentração.
O que acontece agora?
Decidimos desobedecer e abandonamos o porto. Saímos de Nápoles rumo ao Mediterrâneo central para proteger a vida ali. Assim como qualquer outro navio no mar, temos a obrigação de socorrer. Sabemos que chegarão notificações com as punições. Se os governos quisessem, não morreria ninguém no mar, estamos absolutamente sozinhos.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, seja nosso apoiador e fortaleça o jornalismo crítico: apoia.se/outraspalavras