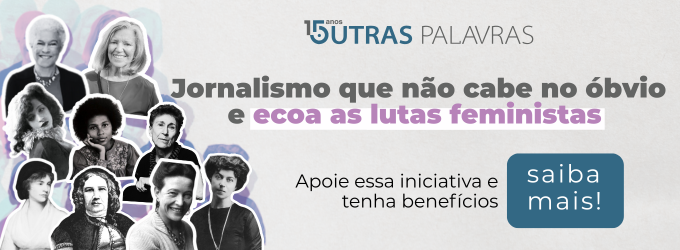Economia da Atenção: Exame de um ponto cego
Entre a Teoria do Valor-Trabalho e a centralidade das big techs nas novas formas de exploração, o que há além dos manuais básicos do marxismo? Reproduzimos a tréplica de um debate sobre as comunicações no circuito do capital e o “valor” da audiência nas redes
Publicado 15/09/2025 às 18:53 - Atualizado 15/09/2025 às 18:54
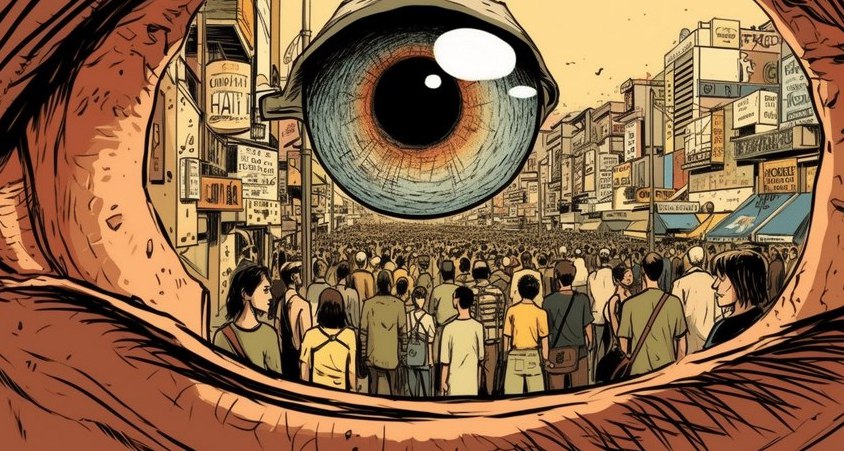
Outras Palavras publica uma “terceira posição” sobre debate teórico da extração de lucro na era das big techs. Leia também o primeiro texto Em busca de uma teoria do valor-atenção, de Marcos Barbosa de Oliveira e a resposta de Eleutério Prado e Jorge Nóvoa, em Crítica da teoria do valor-atenção.
Por Marcos Dantas, em A Terra é Redonda
As comunicações em O capital
Eleutério Prado e Jorge Nóvoa abriram recentemente uma polêmica sobre a economia política das redes sociais ou, mais precisamente, sobre a lei do valor nas plataformas sociodigitais (PSDs) que parasitam a internet. Trata-se de uma crítica do artigo “Em busca de uma teoria do valor-atenção”, de Marcos Barbosa de Oliveira, publicado em 17 de julho último no site Outras Palavras[i] – denominada “Crítica da teoria do valor-atenção” e publicada em 4 de setembro, no site A Terra é Redonda.[ii]
Este artigo visa entrar nesse debate, mas acrescentando uma terceira posição. Considerando as dimensões do debate, daí do artigo, este foi dividido em duas partes. A primeira exporá como Marx tratou da indústria de comunicações e as abordagens dos autores em economia política da informação e comunicações sobre o problema do trabalho e do valor nos meios de comunicação social. A segunda parte – “O capital mediático-financeiro” – examinará, também em diálogo com Marx, como o capital financeiro se apropria dos, e negocia os dados da sociedade através do que denomino plataformas sociodigitais (PSDs), marqueteiramente conhecidas como “big techs”.
O primeiro aspecto que chama a atenção (sem trocadilho!) tanto no artigo de Marcos Barbosa de Oliveira quanto no de Prado & Nóvoa, é parecerem ambos estarem lidando com um tema novo. É fato que aquele expõe a genealogia de seu pensamento, citando autores que já teriam, desde o século passado, pesquisado essa “economia da atenção” e, daí, sugerindo a possibilidade (ou necessidade?) de associá-los à teoria marxiana do valor.
Estes, por sua vez, ao desmontar, sem muita dificuldade, os argumentos daquele, apenas reproduzem paradigmático discurso da tradição marxista, sem se deterem em melhor investigar as especificidades do objeto examinado: a informação, na forma de dados eletrônicos, como (aparente) mercadoria. Além do mais, ambos incorrem num mesmo equívoco: ignoram, por completo, meio século pelo menos, de investigação e debate sobre a lógica capitalista dos meios de comunicação, inaugurados não por Herbert Simon, como pretende Marcos Barbosa de Oliveira, mas pelo economista marxista Dallas Smythe, num artigo seminal, publicado em 1977, com o provocativo título “Communications: Blindspot of Western Marxism”.[iii]
Dallas Smythe se propôs exatamente a pergunta: afinal, qual é a mercadoria que a radiodifusão vende e quem produz o valor dessa mercadoria? O “ponto cego” estava não só na ausência de resposta a essa pergunta pelo marxismo tradicional (ou “ortodoxo”) bem como também no desinteresse em fazer a pergunta e buscar a resposta.
Para responder, Dallas Smythe percorre o seguinte caminho. As receitas das emissoras de rádio e TV provém da publicidade. As agências de publicidade aceitam pagar por algum tempo de inserção na programação das emissoras porque, em troca, estas lhes oferecem acesso a um volume de audiência. Então, o que as emissoras produzem é algum material (jornalismo, shows etc.) que possa reter a atenção dessa audiência por algum tempo. Mas… atenção! (de novo sem trocadilho). Para Dallas Smythe, não é a “atenção” mas a dimensão da audiência aquilo que as emissoras negociam. Além disso, a audiência não é um objeto passivo mas é um sujeito ativo: faz suas escolhas, emociona-se, vibra, chora… Em suma, trabalha. Tratar-se-ia de um tempo de trabalho não remunerado que os indivíduos, enquanto audiência, forneceriam para o capital mediático, logo mais-valor do qual esse bloco de capital retiraria o seu lucro.
A hipótese gerou muita polêmica, conhecida como o “blindspot debate“.[iv] Ao longo dos últimos quase 50 anos, investigadores da economia política dos meios de comunicação defenderam, rejeitaram, corrigiram ou buscaram, a partir da provocação de Dallas Smythe, alguma nova resposta para um buraco real na teoria marxista tal como esta acabou consagrada pelos seus exegetas. Simplesmente, não é possível tratar essa questão meramente reproduzindo os manuais básicos de marxismo.
Karl Marx, no seu tempo, não tinha como, nem por que, abordar um setor econômico à sua época inexistente, mas, hoje em dia, poderoso e central no capitalismo. Ele trata basicamente da indústria fabril. Nós, nos dias de hoje, temos que tratar, sim, das comunicações. Mas seja qual for nossa abordagem, no mínimo precisamos respeitar um já razoável acúmulo teórico (e político) na trilha aberta por Dallas Smythe, buscando, a partir da sua crítica (no sentido amplo da expressão), encontrar a melhor resposta lógica, resposta esta que não pode deixar de dialogar positivamente com os fundamentos do pensar marxiano. Em resumo, tanto Marcos Barbosa de Oliveira como Eleutério Prado e Jorge Nóvoa não examinaram a fundo a real natureza do problema.
Voltando a Marx
Embora não muitas, as principais elaborações de Marx sobre o lugar das comunicações no processo de acumulação de capital estão no Livro 2 de O capital. Serão nosso ponto de partida mas, não, necessariamente, o ponto de chegada.
Inicialmente, precisamos desfazer um argumento comum das vulgatas: a dualidade (cartesiana?) entre circulação e produção. É Marx quem afirma: “O processo de circulação do capital é, portanto, unidade de produção e de circulação, incluindo ambas”.[v]
Unidade de contrários, dialeticamente. O valor é produzido na produção (com licença para a tautologia). Mas a produção está contida na totalidade da circulação, é um momento dela, o momento no qual a circulação está interrompida para que o trabalho humano e suas máquinas possam dar novas formas aos materiais e à energia que devirão mercadoria. Daí os três pontinhos da conhecida fórmula de Marx: D – M … P… M’ – D’.
O tempo da produção não se conclui assim que o produto esteja pronto para ser levado ao mercado. O produto tem que ser levado ao mercado. Na divisão do trabalho industrial ou, se preferirem, na cadeia de valor dos diferentes ramos capitalistas, essa tarefa cabe à indústria de comunicações.
“Existem, porém, ramos autônomos da indústria, nos quais o produto do processo de produção não é um novo produto material, não é uma mercadoria. Entre eles, economicamente importante é apenas a indústria de comunicações, seja ela indústria de transporte de mercadorias e pessoas propriamente dita, seja ela apenas transmissão de informações, envio de cartas, telegramas etc.“[vi]
Em meados do século XIX, quando Marx escrevia essas linhas depois publicadas por Engels, o transporte de “mercadorias e pessoas”, por meio de trens e navios a vapor, já podia ter adquirido alguma importância econômica, mas não suficiente para lhe demandar mais que alguns parágrafos de elaboração. O transporte de “informações”, mesmo já existindo o telégrafo, menos ainda.
Ele acrescenta: “O que, porém, a indústria de transporte vende é a própria locomoção. O efeito útil acarretado é indissoluvelmente ligado ao processo de transporte, isto é ao processo de produção da indústria de transportes. Pessoas e mercadorias viajam com o meio de transporte e sua viagem, seu movimento espacial é, precisamente, o processo de produção efetivado nele. O efeito útil só é consumível durante o processo de produção; ele não existe como uma coisa útil distinta desse processo que só funcione como artigo de comércio depois de sua produção, que circule como mercadoria. Mas o valor de troca desse efeito útil é determinado, como o das demais mercadorias, pelo valor dos elementos de produção consumidos para obtê-lo (força de trabalho e meios de produção) somados à mais-valia criada pelo mais-trabalho dos trabalhadores empregados na indústria de transporte. Também em relação ao seu consumo, esse efeito útil se comporta exatamente como as outras mercadorias. Caso consumido individualmente, então seu valor desaparece com o consumo; caso consumido produtivamente, de modo que ele mesmo é um estágio de produção da mercadoria que se encontra no transporte, então seu valor é transferido como valor adicional, à própria mercadoria”.[vii]
Esse trecho nos pede uma leitura detalhada. Marx está se referindo a uma indústria, porém não fabril. Como qualquer indústria, tem um “processo de produção”. O valor de uso (“efeito útil”) dessa indústria é seu próprio processo de produção, é o movimento. Essa especial indústria não produz mercadoria (“objeto externo”, “trabalho congelado”) mas o seu valor de uso contém valor de troca como qualquer mercadoria, sendo esse valor também medido pelo valor dos elementos que entram na sua produção acrescentado do mais-valor gerado por sua força de trabalho.
O parágrafo também contém uma outra distinção categorial que Eleutério Prado e Jorge Nóvoa parecem ignorar em seu artigo: Marx se refere ao consumo improdutivo e ao consumo produtivo. É produtivo o trabalho que consome tecidos, máquinas e o próprio corpo do trabalhador costurando calças e camisas e, assim, gerando mais-valor para o capital. É improdutivo o consumo de calças ou camisas por esse trabalhador.
Depois dessas considerações, Marx nos apresenta a fórmula das comunicações: D – M … P – D’. Essa é a mesma fórmula da produção de ouro e outros metais, acrescenta Marx que, numa seção anterior, havia examinado o processo de produção do dinheiro como um processo de extração do ouro da natureza, sendo o ouro o próprio dinheiro. Logo P, na produção de ouro = dinheiro, já resultaria diretamente em D’: mais-valor do trabalho do operário minerador.
Em suma, nem sempre o circuito total da circulação leva à produção de mercadorias. Há “ramos autônomos de indústria” nos quais o trabalho e consumo produtivos resultam em mais-valor e mais dinheiro sem a mediação de algum objeto no qual o valor e o trabalho que o produziu estejam “congelados”.
À sua época, como observamos, Marx não poderia ir mais fundo nessas elaborações. Porém, ainda nos fornece uma outra “dica”, digamos assim: “O ato de circular, isto é, o efetivo movimento das mercadorias no espaço, se dissolve no transporte da mercadoria. A indústria de transporte constitui assim, por um lado, um ramo autônomo da produção e, por isso, uma esfera especial de investimento do capital produtivo. Por outro, diferencia-se pelo fato de aparecer como continuação de um processo de produção dentro do processo de circulação e para o processo de circulação”.[viii]
É como “investimento de capital produtivo” e “continuação do processo de produção”, ademais produzindo valor e mais-valor, que precisaremos, pois, abordar as comunicações, nas quais Marx inclui os transportes de mercadorias e pessoas, e o transporte de informação.
Os tempos de rotação
Antes, porém, haverá um outro ponto essencial no pensamento de Marx que precisaremos entender para melhor compreender exatamente o lugar das comunicações na acumulação de capital: este ponto é a rotação do capital. Prosseguiremos no mal lido ou não lido Livro 2.
Marx elabora nas duas primeiras seções do Livro 2, espinhosos exercícios que visam demonstrar como o valor, uma vez produzido em P, precisa realizar-se em M’ – D’. Não vamos aqui reproduzir todo o raciocínio de Marx, eivado de cálculos aritméticos, com os quais buscava comprovar a necessidade de o capital, na totalidade da circulação, buscar, sempre, reduzir ao mínimo possível o tempo de realização de D em D’. Por isso, “quanto mais as metamorfoses da circulação do capital forem apenas ideais, isto é, quanto mais o tempo de circulação for = zero ou se aproximar de zero, tanto mais funciona o capital, tanto maior se torna sua produtividade e autovalorização”.[ix]
E Marx não conheceu a internet…
Os tempos de rotação (ou de giro) constituem subconjuntos relacionados e articulados do tempo de circulação: o da rotação do dinheiro e o da rotação do produto na forma mercadoria. Admitamos que a realização de P em D’ dure 12 semanas, divididas em 4 de produção (P) e 8 de envio e realização da mercadoria valorizada (M’) e retorno do mais dinheiro (D’). Esse capital, ao longo do ano (52 semanas), poderá rotar 4,3 vezes. Implica dizer que o mais-valor extraído em uma rotação será multiplicado, ao longo do ano, 4,3 vezes. Se, porém, esse capital lograr reduzir aquelas 12 semanas para 6 semanas, rotará 8,7 vezes. Isto é, o mais-valor, no ano, se multiplica quase 9 vezes.
Este é, muito simplificadamente, o raciocínio de Marx. O mais-valor não é apenas o resultado de tempo não pago de trabalho no ciclo produtivo, mas, também, o produto de múltiplas rotações no ciclo total da circulação. Para obter esse fenômeno, o capital, por um lado, introduz na produção tecnologias e métodos de gestão que diminuem os tempos de produção por unidade de produto e, por outro, desenvolve os meios de transporte de mercadorias e informação.
O desenvolvimento desses meios passou por verdadeira revolução após a morte de Karl Marx e, também, de Friedrich Engels. Expandem-se, nas duas primeiras décadas do século XX, a telefonia, a radiodifusão, o cinema, a fonografia, além da industrialização do jornalismo impresso com a invenção da rotativa e da linotipo. Sobre essas então novas tecnologias, vai nascer e crescer toda uma nova indústria, definida, no final dos anos 1940, por Theodor Adorno e Max Horkheimer, em texto clássico, como indústria cultural.[x]
Essa dupla alemã, refugiada nos Estados Unidos por causa do nazismo, entendeu que o capitalismo estava se apropriando da produção artística, reduzindo-a a também processos industriais de produção, visando com isso ocupar os tempos de lazer ou entretenimento da classe trabalhadora enquanto também tempos de reprodução do capital e da própria subjetividade do trabalhador já habituado ao regime “fordista”, repetitivo, não criativo, pré-programado, de trabalho.
O tempo de lazer já não era um “tempo livre”, mesmo que assim parecesse, mas um tempo igualmente produzido pelo capital na medida em que, através dos mass media, como diziam os teóricos estadunidenses, ou meios de massa, programava esse lazer para que, de algum modo, fosse uma continuidade, ainda que subjetiva, do tempo de ocupação laboral. O tempo de lazer tornar-se-ia assim um tempo também dedicado à reprodução da força de trabalho, assim como alimentar-se, dormir, fazer filhos. Não, repetindo, um tempo livre, mas tempo produzido, programado.
Há uma característica na ocupação desse tempo que Dallas Smythe será o primeiro a observar, mesmo sem daí tirar todas as consequências. Não se trata de mero tempo de atenção. Nisto, a objeção de Eleutério Prado e Jorge Nóvoa a Oliveira é perfeita. Atenção nada mais é que um momento de percepção, por alguém, de algum sinal significativo a partir do qual esse alguém processará, registrará, comunicará informação. Essa informação, sendo humana, tem a forma geral, já desde o momento inicial de percepção, de signos, estando por isto embebida de cultura.
A atenção, logo o processo informacional semiótico que dela resulta, não é passiva, é ativa, motivada pelas finalidades sociais do sujeito. O corpo pode até estar, na sua aparência, relaxado; o olhar pode estar, na sua aparência, fixo; mas os neurotransmissores dos afetos, daí os axônios e neurônios, daí, claro, o próprio corpo, estão em permanente agitação, logo também, consumindo energia no tempo em que produzem informação nas formas de falas, silêncios, gritos, gestos, talvez lágrimas que expressam as emoções positivas ou negativas dos indivíduos enquanto audiência. Acertou Dallas Smythe ao sugerir que a audiência trabalha.
Como escreveu Umberto Eco: “produzir signos implica um trabalho, quer estes signos sejam palavras ou mercadorias”[xi]. Seja falando, seja ouvindo, seja escrevendo, seja lendo, seja ouvindo ou executando música, seja apreciando um quadro, seja pintando o quadro, seja representando na telenovela, seja assistindo a telenovela, em qualquer situação de comunicação, estamos sempre empregando (e “gastando”) nervos, músculos e tempo na produção semiótica. Comunicação é um processo de trabalho no qual participam e colaboram todos os agentes envolvidos na atividade comunicativa durante a qual compartilham signos (palavras, imagens, gestos).
Que possa haver, como muitas vezes há, uma divisão de trabalho nesse processo, isto não alterna a natureza do processo, embora possa determinar suas condições econômicas e, mesmo, políticas de efetivação. É dessa determinação que, não raro, confundindo-se aparência com essência, forma com conteúdo, nascem muitas visões estereotipadas e equivocadas dos processos comunicacionais, úteis porém às narrativas simplistas ou simplórias. Como, por exemplo, esta na qual caiu Oliveira a respeito de uma “economia da atenção”.
Durante esse tempo em que ao invés de ler um livro ou trocar ideias com amigos e amigas num botequim, o indivíduo se incorpora numa audiência diante da tela da TV ou numa sala de cinema, ele se torna fonte de dados que fornecerão aos produtores mediáticos bons argumentos para “vender” sua produção a financiadores: agentes de publicidade, no caso da radiodifusão; investidores, no caso do cinema. De fato, como bem observaram Meehan[xii] ou Chih-hsien Chen[xiii], em crítica a Dallas Smythe, não é bem a audiência, mas os dados sobre a audiência que o produtor mediático intercambia com suas fontes de receita.
Se já era assim nos tempos da comunicação analógica, mais ainda se torna nesta atual época de interação num tempo no limite de zero nas plataformas sociodigitais da internet, quando a publicidade pode ser individuada para cada mônada de audiência, ao invés de se apoiar, estatisticamente, em grandes números sócio-populacionais.
O que é “vendido” são dados. E as aspas, aí, têm um propósito: dados são vendidos, mesmo? Elaboraremos a resposta na “Parte II: o capital mediático-financeiro”.
Marcos Dantas é professor titular aposentado da Escola de Comunicação da UFRJ. Autor, entre outros livros, de A lógica do capital-informação (Contraponto). [https://amzn.to/3DOnqFx]
Notas
[i] Oliveira, Marcos B. (2025). Em busca de uma teoria do valor-atenção, Outras Palavras, 15/07/2025, disponível neste link.
[ii] Prado, Eleutério; Nóvoa, Jorge (2025). Crítica à teria do valor-atenção, A Terra é Redonda, 4/09/2025, disponível neste link.
[iii] Smythe, Dallas W. (1977). “Communications: Blindspot of Western Marxism”. Canadian Journal of Political and Social Theory n. 1, v. 3: pp. 1-27.
[iv] Arvidsson, A. e Colleoni, E. (2012). Value in Informational Capitalism and on the Internet, The Information Society, n. 28, pp. 135-150; Caraway, Brett (2011). Audience Labor in the New Media Environment: a Marxian Revisiting of the Audience Commodity, Media, Culture & Society, V. 33, n. 5, pp. 693-708; Chen, Chih-hsien (2003). Is the Audience Really Commodity? An Overdetermined Marxist Perspective of the Television Economy. Annual Meeting of the International Communication Association, San Diego, Califórnia; Fuchs, Christian (2012a). Dallas Smythe today – the audience commodity, the digital labour debate, TripleC – Journal of a Global Sustainable Information Society, v. 10, n. 2, pp. 692-740; Raulino, Gabriela (2022). Capital e trabalho nas plataformas sociodigitais, In Dantas, M., Moura, D., Raulino, G. Ormay, L. O valor da informação: de como o capital se apropria do trabalho social na era do espetáculo e da internet (São Paulo: Boitempo); Jhally, S. e Livant, B. (1986). Watching as Working: The Valorization of Audience Counciousness, Journal of Communication, v. 36, n. 3, pp. 122-142; Lee, Mike (2011). Google ads and the blindspot debate. Media, Culture and Society, v.33, n. 3, pgs. 433-447; Maxwell, Richard (1991). The Image is Gold: Value, the Audience Commodity, and Fetishism, Journal of Film and Video, v. 43, n. 1-2, pgs. 29-45; Meehan, Eileen R. (1984). Ratings and the International Approach: a Third Answer to the Commodity Question, Critical Studies in Mass Communication, v. 1, n. 2, pags. 216-225; Moreno, Rodrigo M. (2018). Trabalho e valor nas mídias sociais: uma análise sob as lentes do marxismo. Trabalho & Educação, v. 27, n.3, pags. 111-130; Zallo, Ramón (1988). Economia de la comunicación y de la cultura, Madrid: Akal;
[v] Marx, Karl (1984 [1890]]. O Capital: Crítica da Economia Política, Vol. 2, O processo de circulação do capital, São Paulo: Abril Cultural, pg. 45.
[vi] idem, pg. 42
[vii] idem, pgs 42-43.
[viii] idem, pg. 110, itálicos no original.
[ix] idem, pg. 91.
[x] Adorno, T. W. e Horkheimer, M. (1985 [1944]). Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
[xi] Eco, Umberto (1981). O Signo, Lisboa: Presença, pg. 170.
[xii] Meehan, Eileen R., op. cit.
[xiii] Chih-hsien Chen, op. cit.
Outras Palavras é feito por muitas mãos. Se você valoriza nossa produção, contribua com um PIX para [email protected] e fortaleça o jornalismo crítico.